"Em nome do povo", entrevista a Lara Pawson
O livro da jornalista britânica Lara Pawson, Em Nome do Povo, é uma viagem pelos acontecimentos de Maio de 1977, quezília interna do MPLA que provocou milhares de mortes de angolanos, perseguições e tensões que inclusive afectaram as gerações seguintes. Entre as muitas sequelas desta tragédia, encontram-se a difícil gestão de diferendos e críticas, assim como a banalização da repressão e da violência no país. Lara Pawson falou com várias fontes, sobreviventes, familiares, envolvidos, estudiosos, testemunhas e colaboradores. Uns mais anónimos do que outros, as suas vidas estiveram irremediavelmente ligadas a este momento que durou dois anos.
Com uma escrita jornalística apelativa e abrangente, que nos deixa aceder ao mundo denso de cada personagem e de cada figura retratada, o livro permite-nos acompanhar o processo de pesquisa e o posicionamento da autora, com as suas hesitações, entusiasmos e dificuldades, até chegar ao entendimento de determinadas causas e consequências do massacre. Assunto tão delicado, não foi certamente fácil compor esta narrativa, 37 anos volvidos, composta por memórias tão divergentes e traumáticas.
O resultado é um contributo para esclarecer a complexidade desse período, fazendo a ponte com a situação actual do país. Lara Pawson vive em Londres e trabalha como jornalista freelance. Já foi correspondente da BBC em Luanda de 1998 a 2000, e na Costa do Marfim, Mali e São Tomé e Príncipe.
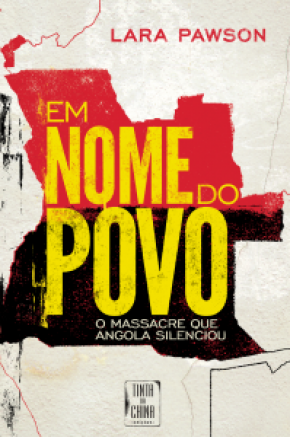 'Em Nome do Povo', da Tinta-da-ChinaO porquê do livro
'Em Nome do Povo', da Tinta-da-ChinaO porquê do livro
Há uns anos disse que “pesquisar e escrever este livro tem sido a coisa mais difícil” na sua vida. Agora que o livro saiu, e está a ser lido, como se sente?
Sinto-me aliviada mas também um pouco aterrorizada. E já comecei a receber feedback. No entanto, tem sido muito bom. Mas também tem sido triste. Um amigo próximo ligou-me a dizer que se questionava, nos últimos 37 anos, sobre o que teria acontecido com o seu velho amigo Cada Vez. Ao ler o primeiro capítulo do meu livro, percebeu que o seu amigo foi morto. Foi um momento muito emocional. Claro que também é positivo. Estas verdades precisam de vir ao de cima. Acredito nisso, foi para isso que o escrevi.
Quando comparado com os massacres britânicos, porquê investigar este período negro da história de Angola?
Uma questão importante, o Reino Unido tem uma história aterradora, em muitas partes do mundo. Temos demasiado sangue nas nossas mãos. E continuamos com muito sangue nas nossas mãos. A guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão e, no nosso próprio território, matamos pessoas, pessoas inocentes como o pai e marido angolano Jimmy Mubenga. Então, sim, porque haveria uma mulher britânica como eu escolher explorar um acontecimento na história de Angola relativamente pequeno? Enfim.
Durante a sua pesquisa toda a gente lhe foi perguntando porquê investigar este assunto.
Há várias razões… Angola ocupa um espaço enorme no meu coração. Talvez porque inicialmente tenha vivido lá durante a guerra: um período intenso e complicado mas que me ensinou muito sobre o amor, a vida, a guerra e a morte. Sinto que devo muito a Angola e aos angolanos. Comecei a interessar-me pelo 27 de Maio por três razões: Uma, porque da primeira vez que ouvi falar sobre isto, em Luanda, fiquei chocada por nunca ter ouvido falar antes. Pareceu-me um grande segredo. Ainda por cima, muito obscuro. Em segundo lugar, um amigo meu, o João Van Dúnem, mais tarde contou-me o que lhe aconteceu, sobretudo ao seu irmão José. Tal história incomodou-me e chocou-me muito. O João encorajou-me a escrever um livro, mas numa condição, disse assim: “Não podes produzir um daqueles relatórios de direitos humanos! Escreve um bom livro!”
Foi o João Van Dúnem a desafiá-la, e não chegou a ver o livro acabado…
É terrível. Sinto-me muito mal com isso. Acho que o João quase desistiu de mim, de tal maneira fui lenta. Ele já gozava comigo. E eu quase perdi a vontade, estive mesmo para desistir. Senti muita dificuldade em escrever sobre este horrível momento sanguinário, enquanto mulher branca inglesa. Sim, fui muito lenta. E as pessoas foram morrendo. Ndunduma também, não está já entre nós, e ele também falou comigo. Eu gostaria que ambos lessem e respondessem ao livro.
E a terceira razão?
A terceira razão foi simplesmente porque fiquei obcecada com o assunto, particularmente quando comecei a perceber que alguns jornalistas, historiadores e intelectuais de esquerda britânicos – pessoas que admiro imenso – contribuíram para encobrir a verdade do 27 de Maio.
Como Michael Wolfers?
Exactamente. No entanto, devo acrescentar…. Wolfers escreveu alguma coisa sobre o 27 de Maio. Ao contrário dos outros, pelo menos dedicou ao assunto dois capítulos do seu livro de 1983, Angola on the Frontline. Foi um livro que escreveu com outra jornalista britânica, Jane Bergerol. No entanto, o que mais me desapontou foi ele tomar a versão oficial do MPLA como a única correcta. Escolheu um lado, e não explorou o contraponto a essa visão oficial, nem explorou as mortes que se seguiram à insurreição. Desilude por isso.
Um tabu?
Quando decidiu ouvir as histórias das pessoas, como foi o acesso? Apesar da desconfiança, queriam falar consigo?
Foi difícil! Mas variou de pessoa para pessoa. Uma das primeiras entrevistas que fiz – com uma mulher que vive em Portugal cujo marido desapareceu no dia 27 de Maio, em Luena, e nunca mais o voltou a ver – foi na realidade uma das mais fáceis. A filha dela tinha-me contactado através de uma amiga e perguntou-me se poderia entrevistar a sua mãe. Estava nervosa para telefonar à sua mãe, levei imenso tempo a ganhar coragem, pensei nisso durante duas semanas. Mas quando de facto fiz a chamada, ela foi amorosa e acedeu. Encontrámo-nos e, apesar da entrevista ter sido incrivelmente angustiante, ela foi muito aberta, corajosa e honesta.
Por outro lado, houve pessoas muito complicadas. Até o próprio João Van Dúnem foi difícil de interpretar. Ele foi-me mantendo afastada, mesmo sabendo, na altura, que estava a trabalhar no mesmo edifício. Depois houve o problema de acesso às pessoas em Angola, de viajar para Angola. Levou muito tempo para ter o visto. De novo, quase desisti.
 Lara Pawson
Lara Pawson
E no caso dos encontros em Angola?
Dentro de Angola as pessoas foram muito abertas. E quanto menos poder tinham, mais preparadas estavam para falar. Isso de facto impressionou-me. E também, quanto mais poder, menos vontade têm de falar. Este é o modo do mundo funcionar. Passa-se o mesmo no Reino Unido.
Acredita que Angola vai finalmente ser capaz de falar do 27 de Maio 77 em público?
Não sei. É muito difícil. Como a nossa história com o IRA, no Reino Unido, e também a Guerra Civil de Espanha, e até o Holocausto, é muito difícil para as pessoas falarem destes grandes traumas. Acredito que haja vergonha dos dois lados: tanto da parte das vítimas, ou sobreviventes, como dos que se julga serem os perpetradores. Suponho que confrontar esta espécie de fracasso seja difícil. Penso que o 27 de Maio representa um momento de vergonha para muitas pessoas. Concordo com o que o historiador David Birmingham escreveu, foi o fim da lua-de-mel da independência para o MPLA (apesar de não ter sido uma lua-de-mel divertida ou alegre), e isso deve ser muito difícil de aceitar para muita gente. Porém, espero que o meu livro, pelo menos, ajude a provocar mais conversas sobre o assunto. Acho que já se começou a falar – não pudemos esquecer o trabalho de pessoas como Miguel Francisco, “Michel”, autor de Nuvem Negra, e Dalila Cabrita Mateus, que escreveu Purga em Angola, e outros também, incluindo várias jornalistas angolanos que escreveram artigos importantes durante anos e anos – mas espero que o meu livro contribua para uma mais alargada discussão, que permita mais verdades virem ao de cima.
Popular e elite na gestão da história
Detectou mais transparência nas conversas no Sambizanga? O senhor Mateus diz que queriam ser ouvidos por Neto, e iam para uma manifestação pacífica, tendo sido recebidos com bombas. Esta gente foi presa, o Sambizanga foi arrasado, sofreram muito e nunca foram ouvidos. Quando falam consigo é de forma mais desinteressada?
Bem, sim e não. Fiquei decididamente muito comovida com o facto do senhor Mateus insistir para eu usar o seu nome. Achei esta coragem bastante reveladora mas também perceber que nada tinha a perder, se quisermos. Acho que diz muito das pessoas com poder (que têm muito a esconder), e dos outros sem poder (que não o têm). Outro exemplo, uma jornalista inglesa e editora da revista do Guardian, a Victoria Brittain, era muito pouco favorável a falar comigo. Comparando com o senhor Mateus, ela foi um livro fechado. Mas claro, as contradições abundam. João Van Dúnem, como figura, é definitivamente membro da elite, não? E, no entanto, falou comigo por muito tempo. Assim como Ndunduma, embora Ndunduma tenha sido muito evasivo. João Melo, deputado do MPLA na Assembleia Nacional foi, no entanto, muito aberto. Fiquei bem surpreendida com ele, e achei que o julgara de forma errónea no passado. Enfim, as pessoas contradizem sempre a regra. Espero não soar muito diplomática.
No livro, põe sempre tudo em causa. Parece desconfiar do que lhe estão a contar…
Sim. Questiono-me sobre algumas coisas, também devido à memória, depois de tanto tempo é sempre duvidosa.
Em conjunto, as versões nem sempre batem certo, algo continua a falhar, é um território de dúvidas permanentes?
Há muita emoção e trauma envolvidos. Sinto dúvidas ainda, termino o livro num estado de dúvida.
Sendo um universo tão revoltante e emocional, é possível a aproximação a uma certa verdade, como se propõe fazer?
Tem razão, mas agora, com o livro acabado, cheguei a uma certa verdade sobre o 27 de Maio. Que é esta: penso que, tal como muitos acontecimentos políticos violentos e complicados, é contraditória. Assim, por exemplo, na minha opinião, houve uma tentativa de Golpe de Estado. No entanto, estou certa de que, para muitas pessoas envolvidas, estavam apenas a participar numa manifestação. Uma manifestação pacífica, sem armas. Acredito que é disparatado tentar fazer vir ao de cima verdades absolutas, versões definitivas do 27 Maio. Vai sempre depender de quem tu és e do teu lugar e posição no acontecimento.
Voltando ao Sambizanga, o senhor Mateus diz que Nito Alves não deu ordens para matar, que a morte dos tais dirigentes do MPLA capturados fora desesperada, quando o bairro já estava cercado. O plano partiu de quem afinal?
Não tenho inteira certeza. O que é uma ordem dada? Não sei. Terão sido de facto mortos num momento de pânico? Ouvi o que Mateus disse. A sua memória é muito importante, mas penso que muito mais trabalhos têm de ser feitos para se chegar a uma verdade definitiva sobre isto. Temos de dar muita importância à sua resposta, pois contradiz tanto os que insistem que os nitistas não eram culpados, como aqueles que insistem que o próprio Nito fez ou autorizou o assassinato.
Nito e Neto
A figura de Nito Alves tinha de facto muito apoio popular e significava uma preocupação para os dirigentes da altura?
Sem dúvida. Aliás, a maior evidência disso, na minha opinião, é o próprio documento do MPLA, “A Tentativa de Golpe de Estado de 27 de Maio de 77”, escrito pelo Politburo [Bureau Político]! É preciso ler este documento. É fascinante, tanto pela sua propaganda como pela visão que dá do pensamento da época da parte do Politburo. Tenho uma cópia e poderei enviar, sem qualquer problema, aos interessados. Estes documentos devem ser vistos e lidos por todos.

O empolgamento de Agostinho Neto pela Amnistia Internacional, o apoio que teve dos portugueses, está na origem do mito sobre o Pai da Nação que é uma figura de culto, publicamente inquestionável. Porém, algumas personagens do livro referem um lado sanguinário. Como explica isto?
Sim, muito dificilmente se critica Neto. Eu acho isto frustrante. A ideia de que o próprio presidente não tinha de facto poder. Certamente, não pode ser verdade. Pergunto-me se isto não se passaria com qualquer figura negra que se tivesse tornado o primeiro líder da independência de Angola. Claro que quem quer que fosse seria relembrado com uma grande pitada de glória. É uma incrível proeza. É um pouco como Obama enquanto primeiro presidente negro dos EUA: não é fácil para as pessoas criticá-lo, mesmo sabendo que muitos de nós sentem que estas políticas são profundamente infundadas e que a sua aparente vontade de empregar as Forças Armadas dos EUA vai na linha de George Bush Jr. Muitos culparam Iko Carreira, Onambwe e Lúcio Lara, mas Neto teve também um papel importante.
Raça, classe e ideologia
Tudo isto aconteceu logo após a independência, depois de muitos anos de colonialismo que formaram uma sociedade hierárquica, com privilégios ligados à cor. A questão racial jogou um papel determinante nestes conflitos, mais do que os factores ideológicos?
Dentro do MPLA? Ou em todo o país?
Nas lutas internas do MPLA.
Claro, as reverberações do colonialismo português não iriam subitamente parar. No livro, cito um académico brilhante, Achille Mbembe, que faz a seguinte pergunta, no seu livro soberbo On the Postcolony: “Existirá alguma diferença – e, se existe, qual é? – entre o que se passou na colónia e ‘o que veio depois’? Terá tudo sido realmente posto em causa, suspenso, recomeçará tudo, verdadeiramente, ao ponto de poder dizer ‑se que o antigo colonizado recupera a existência, se distancia do seu estado anterior?”
Estas palavras e esta questão do Mbembe acompanharam-me ao longo de toda a pesquisa. Diria, sim, a hierarquia racial estabelecida sob domínio europeu prosseguiu durante a Angola independente, até hoje. É um imenso tabu, parece-me, a questão da raça e as hierarquias raciais em Angola. As pessoas – de novo, os poderosos – não gostam de falar sobre isso. Mas, pela minha experiência, os que não têm poder falam sobre isso o tempo todo.
No entanto, não diria que a raça tenha sido o único factor. As hierarquias de classe e económicas também estavam em jogo. Como também as velhas alianças, entre famílias, entre gerações, entre os que estavam no exílio durante a luta de libertação, e aqueles – como Nito Alves – que arriscaram as suas vidas lutando no mato.
Não se anula uma sociedade racista assim de um momento para o outro.
Claro que a ideologia e as ideias ideológicas devem ser tidas em conta, mas considero que raça, classe, a história do engajamento do povo na guerra de libertação – tanto em Lisboa ou Brazzaville, Dar es Salaam, ou onde quer que estivessem a operar em células alternativas nas áreas urbanas, ou lutando para sobreviver nos Dembos – construiu todas estas tensões e ressentimentos e experiências.
Talvez deva também dizer que em qualquer guerra é inevitável haver pessoas a ser mortas. Penso que esta tensão entre a necessidade de disciplina e unidade, por um lado, e os objectivos de libertação – isto é, igualdade, justiça, liberdade – sempre vão colapsar. E claro, assim que chegam ao poder as pessoas tornam-se corruptas.
Estes jovens – leninistas, maoistas, os Comités de Bairro – levavam a ideologia a sério? Conseguiam agir segundo este tipo de organização e aceder a leituras marxistas ou era o “ar do tempo”, uma moda da década?
Penso que provavelmente eram ambas as coisas. Acho que os ideais marxistas tiveram efeito, mas foi também a época em que aquilo estava a acontecer. Gostaria de assinalar o soberbo trabalho de Mabeko-Tali para responder a esta parte da questão: ele escreveu tão bem sobre estes vários comités, grupos, e todo os fragmentos e peças que compõem o MPLA.
Sem dúvida que houve uma imensa organização. Acho que as pessoas acreditaram realmente nessas ideias, por mais confusas e encrespadas que fossem.
O João Faria satiriza um pouco tudo isso.
Querido João Faria, provavelmente o mais cândido de todas as pessoas com quem falei. Ele goza consigo próprio como líder do Grupo José Estaline e a sua aliança com os maoistas e estalinistas. Pensar nisso agora dá-me vontade de rir.
Repressão e perdão
Passando à repressão que se seguiu ao dia 27 de Maio de 77. Não há maneira de termos certezas quanto ao número de vítimas?
Acho que não. Tenho de ser cautelosa na maneira de responder a esta questão. Como afirmo de forma franca no livro, não tenho provas concretas se foram 50 mil ou 80 mil ou até 25 mil pessoas assassinadas. Ndunduma, ao falar comigo, citou Iko Carreira, o antigo ministro da Defesa, para quem, de acordo com Ndunduma, a estimativa era à volta de dois mil mortos. Agora, se nós – a bem da razão – aceitarmos que foram “só” dois mil mortos, não 20 mil, continua a ser um grande número de mortos. Mesmo que não tenha acontecido um golpe, independentemente de se aceitar que houve ou não um Golpe de Estado, parece-me que duas mil mortes é muito. Agora, e se Iko Carreira estava a mentir? Ou, e se Iko Carreira simplesmente não sabe os números finais? E se de facto foram cinco mil mortes? É um numero massivo de pessoas mortas. A minha preocupação, com estimativas que sobem e descem, é que, ironicamente, arriscamo-nos a desvalorizar a própria morte. Quero fazer outra citação, que também refiro no livro, da filósofa Judith Butler. Ela observa que saber contar «não é o mesmo do que entender de que forma uma vida conta e se, de facto, conta». Então, não me entendam mal: penso que Angola, como uma sociedade, como uma nação, precisa de uma investigação forense sobre o número de mortos para descobrir quem foi morto e onde, mas penso também que é importante para as pessoas relembrarem que cinco mil pessoas são muitos mortos. As suas mortes não importam nada excepto se se provar que de facto é verdade: houve 30 mil mortos. Espero que faça sentido, é muito delicado. O que estou a tentar dizer é que cada morte conta, tenham sido duas mil, cinco mil ou 30 mil.
Depois de torturas, mortes em massa, pais e filhos desaparecidos, perdas de amigos, ainda assim os angolanos parecem ter grande capacidade de regeneração, de voltar a encontrar inimigos e até de trabalhar com eles. Como explica essa capacidade de “perdão”?
Não tenho a certeza se consigo. Acho que é uma habilidade humana, não só angolana. As pessoas têm poderes extraordinários de perdão, grande generosidade nos seus corações. E eu diria que, seguramente, sinto que aprendi como se pode amar da melhor maneira em Angola. Quero dizer, com todo o meu coração. A generosidade que senti das pessoas em Angola – pessoas com imenso ou com muito pouco bem-estar – ensinou-me muito. Penso que há muito amor em Angola, e muita vontade de paz. Talvez seja o resultado da experiência de muito sofrimento.
Ontem e hoje
Quando fala da remodelação da Baixa de Luanda actual, avança com a ideia da tentativa de apagar a memória. No Sambizanga dizem que bebem para esquecer… É um esquecimento necessário?
Quem sabe, quem sabe? Talvez, talvez não. Penso que é uma coisa tão pessoal. Algumas pessoas precisam de esquecer e ir em frente; outras precisam de confrontar a história e o seu passado antes de seguir em frente.
Quando lemos o seu livro temos acesso a dois tempos, o da memória e o da situação da pessoa e do país actualmente. Como construiu a estrutura do livro, pensou logo nesta mistura de planos?
Passei imenso tempo preocupada com a estrutura. Não conseguia descobrir como fazê-la. Isto tem a ver com a forma como penso – tenho um grande problema com estruturas! Mas só tinha de me sentar e contar a história tal como a presenciara. E assim que comecei a fazê-lo, comecei a ver que a forma funcionava, particularmente para leitores de língua inglesa que nada sabem sobre Angola. Esta estrutura de seguir a minha investigação permitiu-me ganhar uns quantos leitores entendidos ao longo do caminho.
Entrevista produzida e publicada originalmente no REDE ANGOLA.