E tu disseste: o que é que isso interessa? conversa com Adolfo Luxúria Canibal
A literatura manifesta-se ruidosamente na discografia de Mão Morta. Como se contaminam palavra e música?
Os códigos do romance e do poema são diferentes dos da canção. É preciso fazer a transposição tentando não perder a obra original nesse processo. Por exemplo, não é evidente transformar a leitura político-social do Debord em obra musical. Transformá-la apenas em simples canções empobrece-a, pois a ligação à sua complexidade ensaística torna-se vácua. Por outro lado, se manténs a sua linguagem ensaística, a canção torna-se indigesta. O compromisso é não perder a sua sistematização e crítica, criando simultaneamente uma obra musical interessante.
Que afinidades desenvolveste com a escrita de Heiner Müller (Müller no Hotel Hessischer Hof, em 1997): atmosferas, guerra, estado de exceção, contradições?
Não conhecia o Müller antes de trabalhar sobre a sua poesia. Foi uma encomenda do Jorge Silva Melo para o CCB. Tive logo grande empatia com esta poesia, que não é pura nem objecto final, funcionando como anotações para outras obras, nomeadamente as suas peças, e com a forma dele sentir o quotidiano, a perseguição nazi, o conflito Este-Oeste. Interessou-me a sua reflexão: pensar o humano a partir das contradições desse contexto, e os resultados eram de alguma forma coincidentes com os meus.
 Adolfo, fotografia da revista Mutante
Adolfo, fotografia da revista Mutante
Como te aproprias do Anjo Caído, quem é este anjo para ti?
Uma figura mais ligada à filosofia germânica do que à religião. Acaba por ser o diabo, uma espécie de vanguarda de deus que se transforma no seu mais próximo inimigo. No fundo, perseguia o mesmo ideal, ele viu isso em diversos regimes.
O mal está em nós, como no bom cinema de horror?
Coabita em nós intrinsecamente. Isso é um pressuposto.
E a poesia, sempre consegue mostrar o horror?
A poesia faz-se de uma linguagem subjectiva com muita virulência. Pela sua subjectividade, perde comunicabilidade. Em coisas tão essenciais como o horror, pode acabar por se perder a transmissão objectiva da sua dimensão.
Sentes-te mais escritor de canções ou de poesia?
Escrevo letras de canções. Escrevia poemas aos 16 anos, o meu último poema foi o “Tu disseste”. Hoje a escrita é direcionada para uma canção, pensada em termos métricos. A música existe e o poema é feito para a música já estruturada. É mais simples, vejo logo o tipo de ritmo. É uma fórmula técnica, mais fácil do que partir do nada. A minha escrita é funcional, anda ao serviço de ideias.
Como se fosses demasiado cerebral e formalista para seres poeta?
Deixo que a lógica formal interfira demasiado, ditando leis, é difícil conseguir a liberdade necessária ao bom poema.
Como foi revisitar os situacionistas em Há muito tempo que o ar se tornou insuportável nesta latrina (1999)?
Apresentaram a obra artística última que é o nada, ideológica e coerentemente sustentada. A sua análise sociopolítica continua perfeitamente válida hoje. Podemos fazer pequenas adaptações face à evolução tecnológica e social mas, por exemplo, os Comentários sobre a Sociedade do Espetáculo, do Debord, cabem que nem uma luva na França ou no Portugal dos nossos tempos.
Transformar as ideias de Debord e de Vaneigen num produto de consumo, mercantilizá-las, não contribui para a sua espectacularização?
O próprio Debord fazia isso com consciência. Ou a coisa mantem-se em segredo, ou publicas e esperas que a semente germine em terra boa. Quando fizemos o disco, o Debord e o Vaneigen estavam fora de circulação há muito tempo. Depois saiu a súmula da revista Internacional Situacionista pela Antígona e foi reeditado A Sociedade do Espectáculo. É importante que uma obra não fique esquecida, presa a uma época. O trabalho dos situacionistas será tanto mais virulento quanto mais conhecido for. Por exemplo, em França, na altura, os Cantos do Maldoror foram directamente para os caixotes dos alfarrabistas. O livro só ficou conhecido passados cem anos, quando os surrealistas o desencantaram, e desde aí fez o seu percurso, tornou-se um clássico da literatura e continua a causar mossa em quem o lê.
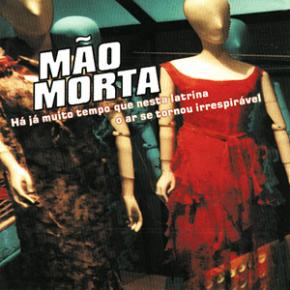
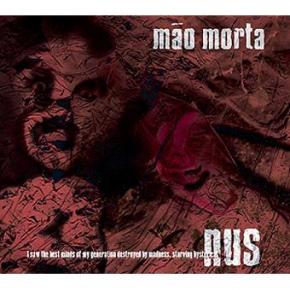 E no disco Nus (2004) invocas a Beat Generation…
E no disco Nus (2004) invocas a Beat Generation…
Estava em França e foi um momento charneira, com a morte de várias pessoas ligadas ao meu passado. O facto de estar longe, exilado noutro mundo, acentuava essa sensação de perda e de vazio geracional. O poema do Ginsberg sobre a cena de Nova Iorque e as pessoas que desapareciam, surgiu como leitmotiv, para fazer a despedida desses amigos falecidos e louvá-los na sua frustração de não chegarem a lado nenhum.
No prefácio de Maldoror (Quasi, 2006) descreves o impacto da descoberta de um autor misterioso e da sua linguagem gritante, como se um mundo fantástico se abrisse a teus olhos.
Era uma referência geracional. A figura adensava ainda mais o mistério do autor. As descrições maravilhavam-me, naquela procura de dizer algo simples, mas que nunca se diz, fazendo manobras de diversão constantes. Para alguém que estava em Braga, aos 16 anos, aquelas invectivas cruéis e claras contra Deus eram um regozijo.
Levou-te a escrever nas paredes de Braga “Fiz um pacto com a prostituição para semear a desordem das famílias”. Uma voz em metamorfose que ligas à figura do Zaratustra que anunciava a morte de Deus…
Para mim é importante esta consciência do devir, que as coisas não são eternas e estão em mutação constante. Tenho tendência a estabilizar-me e a ficar estático. Por isso preciso da consciência de que o mundo gira para me poder movimentar.
E como foi a trabalhosa encenação de Cantos de Maldoror, de Lautreamont (CCB, 2008)?
Era um livro muito sagrado para conseguir transpô-lo para espetáculo. Demorei uns seis meses a trabalhar nisso. O livro compõe-se de esboços cuja narrativa é constantemente torpedeada. A linguagem de um espectáculo aproxima-se mais de uma narrativa, com princípio, meio e fim, mas este não podia ser narrativo para não trair o livro. Foi preciso encontrar um fio condutor que não contasse uma história mas que não deixasse tudo sem nexo, disperso, pondo as pessoas a dormir. Foi difícil transformar esta obra única, de prosa poética, num espetáculo de palco, que não atraiçoasse o original e garantisse interesse para o espectador.

O álbum Pesadelo em Peluche (2010) também se compõe a partir de uma obra, “A feira das Atrocidades”, de J. G. Ballard, que aborda a situação da contemporaneidade, a redefinição de papéis do indivíduo, a difícil perceção do real, numa sociedade pós-industrial.
Não só ficámos dependentes da máquina como ganhámos a perceção de uma máquina. Estamos mais aptos a ver imagens das coisas do que as próprias coisas. O real deixa de ser uma coisa concreta para ser mediatizado, na fetichização ganhamos relação física e afetiva com a imagem.
Escreveste um ensaio sobre a natureza em Valter Hugo Mãe.
Gosto sobretudo de O Remorso de Baltazar Serapião, do Valter, pela capacidade de transmutar a linguagem, parece um português desconhecido. Agrada-me a forma muito coerente de o autor criar esse universo de figuras duras e violência.
Concordas que há uma certa misoginia na sua escrita?
Ele reflete a sua vivência minhota no campo, a infância em Paços de Ferreira e, desde a adolescência, em Vila do Conde. Por muito que não coloque num lugar preciso a história, a relação que ele interiorizou é uma espécie de matriarcado sem o ser, ou seja, a mulher tem poder e ao mesmo tempo é assassinada. Há o poder físico mais imediato do homem, a mulher é maltratada, mas no poder subterrâneo vigora o matriarcado, dizemos o filho da Maria e não o filho do Manel, é ela a dona da casa. São relações de matriarcado que perduram no mais interior da relação social, aqui do Norte.
Os textos de Estilhaços (Quasi, 2003)1, adaptados para Spoken Word, conseguiram uma relação com o público mais direta.
É completamente diferente de um concerto de rock, cuja linguagem é muito mais massificada, de força. O spoken word é mais íntimo, perfaz uma relação com o silêncio. Sempre gostei de ler poesia em voz alta, lia aos meus filhos quando eram pequeninos. O Teatro de Campo Alegre convidou-me para apresentar o livro Estilhaços. Avancei com a ideia de musicar alguns textos do livro e convidei o António Rafael para me acompanhar. Jogamos muito com o sarau clássico, voz e piano, sem uma voz lírica ou cantada. Agora tem guitarra e contrabaixo mas continua com o mesmo princípio: a voz é o leitmotiv, o texto imprime a intensidade da leitura, os silêncios e a respiração. A música cria, sublinha, exponencia, mas em função do texto, que é a matriz. Começámos com textos meus e depois houve o convite da Fundação Cupertino de Miranda e do Museu do Surrealismo, a propósito do Mário Cesariny. Fizemos esse espetáculo em 2011. Agora temos o das imagens a partir de filmes, chamado Estilhaços Cinemáticos.

Conta um pouco a génese do livro Todas as Ruas do Mundo (Do lado esquerdo, 2013)…
Em Guimarães houve um Pecha Kucha, onde tinha de apresentar o meu trabalho em 6 minutos e 20 imagens. Decidi fazer uma obra. Escrevi pequenos textos poéticos relacionados com a cidade, a transmutação constante, a inquietação, a deriva, muito urbano, cheio de ruído, gasóleo, asfalto, prédio, fumos, e todo o lado pesado, obsessivo e rotativo da cidade. Integrei imagens do Al Berto nos textos, mostrando-me assim como leitor de poesia.
Gostas de viver em Braga?
A grande lacuna é a vida cultural, pois pouca coisa acontece. Nos primeiros meses o Teatro Circo funcionou bem, na vanguarda nacional, mas depois passou. Há alguns ventos esporádicos, como o festival de música electrónica. Quando a sede é muito vamos ao Porto, Lisboa, lá fora. De resto, para quem já não tem 20 anos nem paciência para a vida noturna, Braga é uma cidade interessante, calma, com tudo mais à mão.
E o gesto subversivo em Braga em 1984, no início dos Mão Morta, e hoje?
Não é o mesmo, o capitalismo tem essa capacidade de transformar qualquer subversão, que não dê cabo dele, em mercadoria. O que não mata engorda, diz o povo e diz o capitalismo. Com o aprofundar da democracia e da economia do mercado, a subversão desapareceu. Em Braga, com os valores arcaicos ligados à Igreja, tinha maior impacto. Mas mesmo esses já estão muito diluídos, a Igreja continua a ser a grande proprietária da cidade e a ter um peso enorme, mas em termos ideológicos já não tem moral, a sua palavra deixou de valer. O acto transgressor perdeu força.
Achas que o livro Narradores da Decadência (Quasi, 2004), do Vitor Junqueira, descreve bem a voz dos Mão Morta?
O título é retirado de um artigo do Rui Monteiro, antigo director do Blitz, sobre um disco nosso. O Vitor Junqueira gostou e perguntou-me se achava bem para o livro, eu disse que não era mentira, embora algo redutor enquanto narradores do quotidiano e do presente.
Concordas que o mundo está em falência?
Falência e renovação. No capitalismo os discursos são os da mudança, os valores estão sempre a ser substituídos. A família tradicional passa a ser desinteressante em nome do indivíduo, em vez de deus o dinheiro. Nesta substituição constante algo fica em decadência.
Que modos de resistência e de reinvenção da vida defendes?
Não há grandes formas de resistência, talvez só no pensamento: uma pessoa estar consciente das manipulações que ocorrem em si e à sua volta. Nada foge à recuperação capitalista, podes criar micro-espaços de respiração saudável mas nunca absolutamente limpa. É impossível criar uma redoma que te proteja das cores e dos cheiros do capitalismo, do devir geral da máquina. A única forma é rebentar com tudo ou deixar que a coisa impluda.
Enquadras-te mais na luta micropolítica?
Certamente mais do que esperar grandes transformações sociais e políticas, que parecem cada vez mais folclóricas.
Braga, em 2014.
- 1. Estilhaços nasceu em 2004, como um espetáculo em que Adolfo Luxúria Canibal, vocalista e letrista dos Mão Morta, lia alguns textos e poemas do seu livro com o mesmo nome, acompanhado por António Rafael, desde então tem evoluído para muitos desdobramentos.