"Sei que esteve em África. Quer contar?"
 «O dever da memória», conceito de Primo Levi, está na base da narração destas mulheres portuguesas que acompanharam os maridos militares para Angola, Moçambique e Guiné-Bissau durante a Guerra Colonial. Margarida Calafate Ribeiro, doutorada em literatura portuguesa e investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, complementa o (único até agora) rosto ficcional desta presença com depoimentos que ajudam a entender «os últimos dias do Portugal colonial, da Guerra que os marcou e das sociedades que daí surgiram».
«O dever da memória», conceito de Primo Levi, está na base da narração destas mulheres portuguesas que acompanharam os maridos militares para Angola, Moçambique e Guiné-Bissau durante a Guerra Colonial. Margarida Calafate Ribeiro, doutorada em literatura portuguesa e investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, complementa o (único até agora) rosto ficcional desta presença com depoimentos que ajudam a entender «os últimos dias do Portugal colonial, da Guerra que os marcou e das sociedades que daí surgiram».
«Sei que esteve em África. Quer contar?» As testemunhas tornam-se intervenientes nesta questão. É imprescindível a interpretação da Guerra como fenómeno não exclusivamente masculino, e imperioso retirar as mulheres da invisibilidade no espaço de opinião. Saber como esta operou na vida privada de tantas mulheres recém-casadas, ansiosas e solidárias com a situação dos maridos, atentas a outras realidades de uma experiência traumática que, ainda assim, conseguiu trazer-lhes boas recordações. São esposas de militares de carreira e oficiais, que seguiam as «Cartas de Chamada» em longas travessias de barco até chegarem a essas Áfricas onde lhes esperava o papel de apoiantes, ombro de consolo à desmoralização que se abatia nos homens em missão. Transparece uma certa ingenuidade que atravessa «uma geração que, sem saber porquê, sem questionar, ia», pois vivia-se um tempo de engano, em que as províncias ultramarinas eram Portugal e o patriotismo «um sentimento, que não se explicava nem se justificava».
A autora inspirou-se na análise de Benjamim Stora sobre o impacto da guerra na Argélia na sociedade francesa, no intuito de se considerar a guerra colonial um assunto interno a Portugal e aos países africanos. Neste sentido, o livro contribui para encurtar o divórcio entre a dimensão privada e colectiva da memória, já existente «nos tempos da Guerra, entre o discurso público sobre uma guerra silenciada e que oficialmente não existia e o conhecimento privado que dela tinham os portugueses mobilizados e as suas famílias». Se antes do 25 de Abril se fingia que não existia guerra, depois cedeu-se à perplexidade, incapacidade de falar sobre isso. «São coisas de que não se pode falar. Viveram-se na altura e depois não se fala. Por pudor, por horror».
É portanto no registo de revisitação, procura de sentido para aquele período de vida e o apanhado da variedade de perspectivas, que estes relatos colaboram na análise psicossociológica de uma das fases mais sombrias do tempo colonial. Porque partiam, voluntariosas, estas mulheres para o desconhecido? A motivação era generosa: coragem, amor e dedicação. Não é comum acompanhar maridos para cenários de guerra, mas o regime incentivava essas idas deixando-as permanecer, porém, como razões privadas. As esposas eram um complemento às tarefas de apoio do Movimento Nacional Feminino, da Cruz Vermelha, à propaganda que impelia as mães a «sacrificar os seus filhos pela Nação». Pois a presença da mulher em África foi uma arma política bem usada e muitíssimo útil: «não deviam mover-se, nem pensar, nem agir», mas «ser a mãe, a irmã, a distracção amorosa, a imagem feminina, boa, a pura gota de água, a imagem também da casa perdida, do país perdido, da família perdida».
 Movimento Nacional Feminino
Movimento Nacional Feminino
Assim, podiam contar, da parte do Estado, com umas quantas regalias: a messe, casa, médico e viagens. Eram apoiadas para ir, em nome da estabilidade, normalização da vida, do amparo ao estado de choque e nervosismo com que os seus homens chegavam das operações. Homens transfigurados e irreconhecíveis, com traumas e irritabilidades a assombrar o quotidiano.
Normalmente tratava-se de relações precoces, no início da vida conjugal, que antecipava à força do namoro para o estatuto de marido e mulher, na urgência de deixar descendência e alguém que os esperasse. As esposas iam lá ter e fixavam-se em cidades e localidades afastadas dos confrontos, num quotidiano de trabalho (se fosse o caso), costura, espera pelas refeições que vinham da messe ou do hotel, um jogo de crapô, convívio (grande cavaqueira entre mulheres dos militares do quadro ou milicianos), leitura e dedicação ao marido. «Vivíamos uma euforia falsa, entre ataques e regressos do mato e muitas festas», mas era «uma santa vida!».
Emanciapação nos costumes
Muitos depoimentos dão conta do momento emancipatório na vida destas mulheres: saíam de um país conservador, apagado e ignorante para lugares modernizados e multiculturais, cidades grandes com costumes progressistas, vida social descontraída e maior liberdade, nos quais entravam, com segurança e níveis acima da média, no mercado de trabalho. Ou seja, «África era uma libertação», ou uma expansão, física e mental, uma experiência formativa e humana: «vim de Angola uma mulher mais forte».
Também em termos políticos confrontam-se com o engano do Império: algumas mulheres politizadas, até com posições anticoloniais, questionam o regime e o discurso militar do poder. Quase todas falam da iminência da independência, de os povos darem o seu «grito de Ipiranga», mas lamentam uma “trágica descolonização” e a afectação que sucitou nas vidas de inúmeras pessoas, reconhecendo porém a evidência de que não teriam «lugar na nova sociedade» que dela saía, nos países independentes com novas directivas, onde o branco seria sempre a imagem do colono.
É sabido que as mulheres tiveram mais contacto com a população nativa, através do ensino e da criadagem. Apesar de reconhecerem os privilégios e as desigualdades raciais, o abismo cultural era enorme e a diabolização dos negros continuava a funcionar: «cada vez que olhava para um negro tinha medo, pensava que era um terrorista». Ou enfatizam o tom paternalista em algumas declarações de empatia pelos «pretinhos», que não se desvinculam da visão colonial mais óbvia.
No pós-guerra começou para elas outra guerra: a dos divórcios, culpa, violência doméstica devido a distúrbios mentais dos ex-combatentes não integrados, angustiados, os tais homens em farrapos. Viram-lhes anos de serviço nem sempre reconhecidos, frustrações e arrependimentos, e tantas dores alheias que as mulheres sofreram na retaguarda.
O livro aborda as várias maneiras de contornarem as situações e como souberam lidar com tais memórias e as passarem (ou não) aos filhos, para o seu presente.
O anonimato dos depoimentos e o facto de não sermos informados dos seus critérios (se provenientes de entrevistas orais ou escritas) tornam o livro menos completo. Além de que o título África no Feminino pedia igualmente depoimentos provindos de mulheres africanas que contribuíram para os movimentos de libertação. E das milhares de mulheres que ficaram na metrópole, na espera ansiosa do regresso dos seus soldadinhos ou dos aerogramas. Mas é um início muito consistente numa longa travessia de memórias por descortinar.
África no Feminino. As Mulheres Portuguesas e a Guerra Colonial
Margarida Calafate Ribeiro
Afrontamento, Porto, 2007
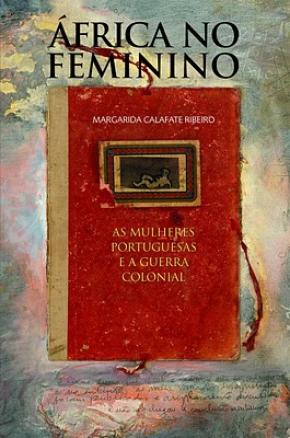
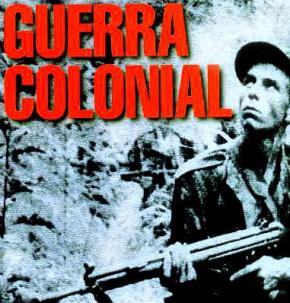
publicado originalmente no Le Monde diplomatique, ed. portuguesa 6/3/2008