Tensões e convivências entre imigrantes, expatriados e lisboetas
Vitor Belanciano participou no debate “Imigrantes, expatriados e lisboetas: tensões e coabitações”, a 19 de setembro no MNAC, numa iniciativa do Diaspora Salon Lisboa. Os intervenientes eram Priscila Valadão (brasileira, do Vida Justa), Kasia Szczesniak (polaca, fundadora do Lisbon Business Leaders), Paulo Pascoal (angolano, artista multidisciplinar), Sinho Baessa de Pina (dinamizador cultural e social), e Vanda Ramalho (Portugal, assistente social e investigadora). Depois de um texto que o jornalista e investigar escreveu sobre este evento, sugerimos que desenvolvesse um pouco mais as suas reflexões sobre estes temas.
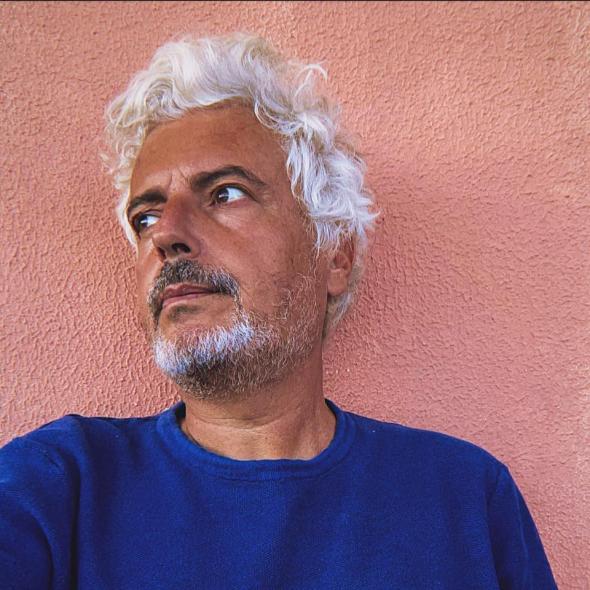 Vitor Belanciano
Vitor Belanciano
Qual era o objetivos deste encontro?
O objetivo era falar sobre o presente de Lisboa, a partir das tensões sentidas nas relações entre imigrantes, expatriados e lisboetas, e de como estimular a coabitação no futuro. Algumas pessoas perguntaram o porquê da inclusão da categoria ‘expats’, sendo que tecnicamente um francês ou americano a viver em Lisboa, ou alguém do Paquistão, é a mesma coisa, sendo todos imigrantes. É simples: porque existe um uso social da designação, o que é sintomático de desigualdades simbólicas e estruturais. E, por outro lado, também já se fazem sentir marcas de hostilidade entre portugueses e ‘expats’, que têm vindo a público nos últimos tempos, tal como existe em relação a turistas. Ainda não estamos ao nível de Barcelona, mas o “vai para a tua terra” já não é só empregue para hostilizar imigrantes mais vulneráveis.
Quais foram os maiores problemas para os lisboetas ali debatidos?
Falou-se das dificuldades que hoje em dia se sentem em viver plenamente a cidade, por causa da especulação imobiliária, da gentrificação, da turistificação, dos problemas de mobilidade e transportes e das profundas desigualdades. Tudo isto agravado quando se habita na periferia, ou se enfrentam questões que remetem para a xenofobia estrutural ou institucional, como os muitos obstáculos burocráticos exemplificam, algo que é vivido quotidianamente, essencialmente, mas não só, por muitos indo-asiáticos, brasileiros e comunidades racializadas.
Quando refere que “ninguém parece interessado em corrigir” os desequilíbrios provocados pelas políticas de investimento, está a apontar para falta de vontade política?
Sim, existe falta de vontade política. Ou então, de incapacidade política, o que vai dar ao mesmo, até porque o que está a acontecer não pode ser dissociado da crise global do modelo neoliberal dominante. No caso concreto de Lisboa, a governação do PS (com António Costa e depois Fernando Medina), apostou decididamente no turismo, na atração de investimento estrangeiro e na promoção de “grandes eventos”, forma de disseminar a “marca” Lisboa. Essa política, nos primeiros tempos, foi vivida com regozijo, até porque a cidade, e o país, vinham de um ciclo económico difícil. Mas rapidamente os limites, e os efeitos perversos, dessas políticas vieram ao de cima, porque se criaram assimetrias e desequilíbrios que não foram antecipados ou acautelados. O que é incrível, com Moedas, é que tudo isso foi intensificado, agravando-se ainda mais os problemas, algo que, já se percebeu, irá continuar se for reeleito, porque as ideias são as mesmas. Em parte, é porque quem está no poder não tem soluções para as classes médias precarizadas, que os imigrantes se tornaram num assunto central. É um alibi. Uma distração. Algo que está a ser utilizado em todo o mundo, principalmente desde que Trump voltou ao poder. Existe nitidamente, neste momento, uma “guerra” aos imigrantes e aos mais pobres, tal como existe em relação aos territórios clássicos de contrapoder (universidade, cultura, jornalismo), forma de perpetuar privilégios e de colocar os de “baixo”, frustrados e zangados, contra os que ainda estão um pouco mais em “baixo”, enquanto as elites lá de “cima”, sorriem.

Ironiza com a solução da “empatia” num contexto político e económico tão duro. Mas em que medida é também importante, sem ser só distração?
Ironizo porque humanismo esvaziado de conteúdo sociopolítico é um imenso nada. Claro que cultivar a “empatia”, o “cuidar”, difundir o afeto, etc, é algo intrinsecamente saudável. Mas “empatia” de barriga vazia, ou com preocupações para se pagar a renda no final do mês, é difícil.
Como se desenha na prática a distinção entre “imigrantes” e “expatriados”? Essa distinção é construída pela sociedade, pela política, ou pelas próprias comunidades envolvidas?
Claro que essa distinção é uma construção, ou perceção social e cultural. Os “expat” são, por norma, associados a atividades qualificadas e a países ricos ou “desenvolvidos”. Na prática são todos imigrantes, é mais uma questão de linguagem e contexto social. Essa distinção é construída pela sociedade, por políticas de exceção e também, sem dúvida, pelas próprias comunidades envolvidas, porque sabem dos estigmas que a palavra ‘imigrante’ pode carregar.
A crítica aos expatriados por viverem em “bolhas sociais” pode também aplicar-se a comunidades imigrantes mais antigas? Que estratégias para uma verdadeira coabitação e diálogo entre grupos sociais distintos que não seja guetizante?
Não tenho a certeza. Parece-me que, apesar de tudo, aquilo que designamos como ‘expats’ são uma novidade da última década, quando Lisboa começou a ser promovida como cidade “desejável” e “apetecível”. Nesse sentido, essa condição de privilégio que os “expats” transportam, também deveria criar responsabilidades acrescidas no sentido da contribuição e coabitação na sociedade portuguesa. Tenho muitos amigos “expats” e reconheço neles um papel relevante em termos culturais, artísticos, mudanças comportamentais, etc. Como é que isso pode ser intensificado? Com políticas publicas inteligentes, espaços de convivência reais, habitação digna e acessível para todos, uma cultura de diálogo ativa e uma presença política em cargos públicos. Criar condições para que sejam coautores da vida da cidade e não meros ocupantes.

Sugere revisão das políticas migratórias focadas na dignidade e integração. Que medidas seriam prioritárias e viáveis no contexto político e económico atual de Portugal?
Resposta curta e simples: fazer exatamente o contrário do que este novo governo se propõe fazer. Reconhecer os direitos humanos dos imigrantes, promovendo a sua inclusão social e económica, e valorizando a sua contribuição para a sociedade, com processos claros e ágeis para obtenção de residência, trabalho e reagrupamento familiar.
Diz “políticos, somos todos”. Como imagina que o cidadão comum pode assumir esse papel político no seu dia a dia, para além do voto?
Não vou dizer nada de novo. Existe um tremendo défice de cidadania em Portugal. Tanta coisa se pode fazer, ler, ouvir, formar espirito critico, engajar-se em movimentos por habitação, saúde, ambiente, direitos humanos. Participar em assembleias, fóruns, reuniões públicas, fazer parte de coletivos, associações, espaços onde indignação e ideias viram ação. E também manifestar-se na rua. Não sou dos que demonizam as redes sociais. É importante ter consciência dos seus limites e perversões. Mas abandoná-las não me parece ser solução. Dito isto, a rua, a fisicalidade, têm outra potência. Obrigam a tomar posição, não se pode apagar como no digital. E isso é único.
 A Nova Lisboa cantada e idealizada existe?
A Nova Lisboa cantada e idealizada existe?
Desde que comecei, há trinta anos, a escrever sobre música, para pensar o universo sociocultural e político, que essa questão está sempre lá, latente. Existem respostas fáceis: há quem diga que, nem pensar, essa “nova Lisboa” não existe, porque as dificuldades, as injustiças e as assimetrias, se mantém para o conjunto da população racializada e, portanto, essa é apenas uma ideia que serve propósitos instrumentais, simbólicos e políticos de afirmação fictícia de interculturalidade. E existe quem afiance a pés juntos que essa “Nova Lisboa” existe e a prova são os inúmeros músicos, projetos, artistas, agentes ou personalidades públicas afrodescendentes, que habitam hoje o espaço público e o nosso imaginário. Algo muito diferente de há 10, 20 ou 40 anos atrás. Ambas as proposições estão corretas, sendo incompletas. É verdade, a música e as artes ainda não são garantia de melhores condições de vida para a maioria da população racializada, mas também é verdade que, principalmente no campo das artes, da cultura e do pensamento, existe hoje vitalidade e visibilidade, com impacto na vida sociocultural e política como um todo. Ainda existe muito a fazer? Claro. O copo está meio cheio. Mas dizer que ele está vazio não é correto. Ao longo dos anos, o Zé da Guiné, General D, Buraka Som Sistema ou Dino d’Santiago, cada um à sua maneira, preenchendo muitos vazios – por entre contradições e paradoxos, com certeza, não acredito em puristas e purismos – trataram de o ir enchendo, posicionando-se numa realidade em construção, entre o que é e o que pode ser, forçando novas realidades. Isso é do caraças. Isso quer dizer que Portugal não é racista? Claro que não. É-o com certeza. A maior parte admira essas figuras. Mas admirá-las não é amá-las.
Que mudanças vê no desfrutar da cena cultural lisboeta por pessoas migrantes e racializadas?
Os dois últimos fins-de-semana, em Lisboa, constituem um bom exemplo. Falo do que vivi. Fui ver a ópera “Adilson” de Dino d’ Santiago no CCB, a exposição de Felipe Romero Beltrán nas Carpintarias, a coreografia de Marlene Freitas Ribeiro na Culturgest, o concerto dos BainaSystem em Monsanto, a performance de Kiluanji Kia Henda no Dona Maria II no contexto do Boca, a abertura da Casa Capitão, o Iminente no MAAT, etc. Ou seja, acontecimentos onde o palco é ocupado essencialmente por migrantes ou pessoas racializadas. A assistir veem-se hoje mais migrantes e pessoas racializadas do que há dez anos, mas é preciso mais. E aí voltamos ao início, e às assimetrias e desigualdades da sociedade portuguesa que não foram corrigidas.