 A indecência política é, por isso, uma forma de analfabetismo moral deliberado. Ela não falha em compreender. Recusa simplesmente compreender, porque sabe que a incompreensão rende mais. E aqui, justamente, um olhar histórico mais longo, como o de Norbert Elias – um sociólogo alemão – ajuda-nos a compreender a profundidade desta regressão. No processo civilizacional, Elias mostra que a sociabilidade moderna assenta na internalização gradual do autocontrolo dos afectos. A boa educação não é ornamento, mas sim uma espécie de tecnologia de convivência. É através da contenção dos impulsos, da modulação da agressividade e da capacidade de adiar a resposta emocional que os indivíduos se tornam socialmente fiáveis. A civilidade é, neste sentido, uma conquista frágil, sempre ameaçada e sempre em disputa. Mas o projecto colonial europeu introduziu uma distorção decisiva que consistiu nos colonizadores exigirem de si elevados padrões de autocontrolo na relação entre pares europeus, mas suspenção desses padrões na relação com os povos colonizados.
A indecência política é, por isso, uma forma de analfabetismo moral deliberado. Ela não falha em compreender. Recusa simplesmente compreender, porque sabe que a incompreensão rende mais. E aqui, justamente, um olhar histórico mais longo, como o de Norbert Elias – um sociólogo alemão – ajuda-nos a compreender a profundidade desta regressão. No processo civilizacional, Elias mostra que a sociabilidade moderna assenta na internalização gradual do autocontrolo dos afectos. A boa educação não é ornamento, mas sim uma espécie de tecnologia de convivência. É através da contenção dos impulsos, da modulação da agressividade e da capacidade de adiar a resposta emocional que os indivíduos se tornam socialmente fiáveis. A civilidade é, neste sentido, uma conquista frágil, sempre ameaçada e sempre em disputa. Mas o projecto colonial europeu introduziu uma distorção decisiva que consistiu nos colonizadores exigirem de si elevados padrões de autocontrolo na relação entre pares europeus, mas suspenção desses padrões na relação com os povos colonizados.
Mukanda
09.12.2025 | por Elísio Macamo
 Em 2010, combinei encontro com a Margarida Vale de Gato, sua filha Alice e o poeta Rui Costa, na base do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC). Dali se mirava a cidade-montanha Rio de Janeiro como o «outro lado». Escrevi no meu bloco de notas da altura: «Niterói tem uma nave de Niemeyer que aterrou na Baía de Guanabara com um museu que espelha o futuro.» A obra, inaugurada em 1996, era de facto a imagem do futuro: fachada futurista, envidraçados de onde se abarcava um pedaço de mundo a 360 graus. Pairando na água, reconhecíamos o modernismo, a arquitetura botava fé no futuro expresso nas formas redondas de «concreto». A sua escala gigante fazia-nos seres minúsculos na fotografia debaixo da nave, fincados no tapete vermelho serpenteante, também ele cimentado. Ao entrarmos no MAC, recordo vagamente uma exposição (creio que do acervo da Coleção João Sattamini, com obras desde a década de 50) de artistas brasileiros que, durante a ditadura militar e civil, tinham sido perseguidos e torturados. Cada obra à sua maneira, transmitia o desejo coletivo de liberdade. Na altura pensei que era assim mesmo, o desejo de futuro não podia prescindir da evocação das trevas, tinha de levar consigo as dores do passado, a ditadura, a «democracia racial», a escravidão, as gritantes desigualdades, os colonialismos todos, e um sem-fim de dores do Brasil.
Em 2010, combinei encontro com a Margarida Vale de Gato, sua filha Alice e o poeta Rui Costa, na base do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC). Dali se mirava a cidade-montanha Rio de Janeiro como o «outro lado». Escrevi no meu bloco de notas da altura: «Niterói tem uma nave de Niemeyer que aterrou na Baía de Guanabara com um museu que espelha o futuro.» A obra, inaugurada em 1996, era de facto a imagem do futuro: fachada futurista, envidraçados de onde se abarcava um pedaço de mundo a 360 graus. Pairando na água, reconhecíamos o modernismo, a arquitetura botava fé no futuro expresso nas formas redondas de «concreto». A sua escala gigante fazia-nos seres minúsculos na fotografia debaixo da nave, fincados no tapete vermelho serpenteante, também ele cimentado. Ao entrarmos no MAC, recordo vagamente uma exposição (creio que do acervo da Coleção João Sattamini, com obras desde a década de 50) de artistas brasileiros que, durante a ditadura militar e civil, tinham sido perseguidos e torturados. Cada obra à sua maneira, transmitia o desejo coletivo de liberdade. Na altura pensei que era assim mesmo, o desejo de futuro não podia prescindir da evocação das trevas, tinha de levar consigo as dores do passado, a ditadura, a «democracia racial», a escravidão, as gritantes desigualdades, os colonialismos todos, e um sem-fim de dores do Brasil.
A ler
25.01.2023 | por Marta Lança
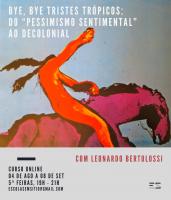 No esteio desse “admirável mundo novo”, a artilharia retórica pós-moderna e pós-colonial traria novas feridas narcísicas ao pensamento ocidental que hoje ainda ecoam em políticas e poéticas decoloniais com a entrada de agentes indígenas, afro-descendentes e queer na arena artística e intelectual de modo a desafiar os antigos prognósticos da velha antropologia. Esse curso pretende acompanhar a trilha dessas transformações epistemológicas e políticas a partir de alguns capítulos de sua história. Pretende ainda problematizar, a partir dos campos das artes visuais e das ciências sociais, os limites das retóricas pós-coloniais e decoloniais diante dos fascismos contemporâneos e da complexidade paradoxal do real das instituições a partir das polêmicas atuais.
No esteio desse “admirável mundo novo”, a artilharia retórica pós-moderna e pós-colonial traria novas feridas narcísicas ao pensamento ocidental que hoje ainda ecoam em políticas e poéticas decoloniais com a entrada de agentes indígenas, afro-descendentes e queer na arena artística e intelectual de modo a desafiar os antigos prognósticos da velha antropologia. Esse curso pretende acompanhar a trilha dessas transformações epistemológicas e políticas a partir de alguns capítulos de sua história. Pretende ainda problematizar, a partir dos campos das artes visuais e das ciências sociais, os limites das retóricas pós-coloniais e decoloniais diante dos fascismos contemporâneos e da complexidade paradoxal do real das instituições a partir das polêmicas atuais.
A ler
13.07.2022 | por Leonardo Bertolossi
 O conjunto de obras aqui propostas constitui-se pós-colonial, não apenas porque revela facetas de sociedades que foram colonizadas e que preservam marcas dessa colonização, mas principalmente porque contém e ultrapassa relações entre identidades e alteridades nascidas durante o colonialismo.
Neste ciclo veremos: “Alma ta Fika” de um cineasta português citado quase 30 anos mais tarde em “Kmê Deus” por um cabo-verdiano; depois, “Mãos de Barro” de um cineasta brasileiro, radicado em Moçambique desde meados dos anos 1970; e finalmente “Luanda, a Fábrica da Música”, uma obra de uma cineasta portuguesa e de um cineasta angolano.
O conjunto de obras aqui propostas constitui-se pós-colonial, não apenas porque revela facetas de sociedades que foram colonizadas e que preservam marcas dessa colonização, mas principalmente porque contém e ultrapassa relações entre identidades e alteridades nascidas durante o colonialismo.
Neste ciclo veremos: “Alma ta Fika” de um cineasta português citado quase 30 anos mais tarde em “Kmê Deus” por um cabo-verdiano; depois, “Mãos de Barro” de um cineasta brasileiro, radicado em Moçambique desde meados dos anos 1970; e finalmente “Luanda, a Fábrica da Música”, uma obra de uma cineasta portuguesa e de um cineasta angolano.
Vou lá visitar
11.05.2021 | por vários
 Será que a teoria pós-colonial mantém a capacidade auto-reflexiva que a define como teoria crítica ou, pelo contrário, tornou-se vítima do próprio sucesso? Será que os lugares comuns da teoria se mantêm produtivos como ponto de encontro vital, como lugares de diálogo e confronto crítico ou, pelo contrário, na acepção negativa do sintagma, já não são senão estereótipos, simulacros de pensamento? “When was the postcolonial?”, “Quando é que se deu o pós-colonial?”, interrogava-se já Stuart Hall num texto da segunda metade dos anos 90.
Será que a teoria pós-colonial mantém a capacidade auto-reflexiva que a define como teoria crítica ou, pelo contrário, tornou-se vítima do próprio sucesso? Será que os lugares comuns da teoria se mantêm produtivos como ponto de encontro vital, como lugares de diálogo e confronto crítico ou, pelo contrário, na acepção negativa do sintagma, já não são senão estereótipos, simulacros de pensamento? “When was the postcolonial?”, “Quando é que se deu o pós-colonial?”, interrogava-se já Stuart Hall num texto da segunda metade dos anos 90.
A ler
09.04.2020 | por António Sousa Ribeiro
 O trabalho das feministas negras tem sido essencial para desvelar a fundação racial da reprodução social da limpeza e dos cuidados. Na era actual, que vê uma nova política racial da limpeza produzida pela ansiedade gerada em torno daquilo a que os meios de comunicação chamam crise climática, as sociedades humanas não poderão sobreviver sem esse trabalho de limpeza e de cuidado.
O trabalho das feministas negras tem sido essencial para desvelar a fundação racial da reprodução social da limpeza e dos cuidados. Na era actual, que vê uma nova política racial da limpeza produzida pela ansiedade gerada em torno daquilo a que os meios de comunicação chamam crise climática, as sociedades humanas não poderão sobreviver sem esse trabalho de limpeza e de cuidado.
Corpo
19.03.2020 | por Françoise Vergès
 Numa Europa que deixou de ser o centro de gravidade do mundo, mas que permanece infraestrutural na globalização de regimes de poder neoliberal, patriarcal e (neo)colonial, e que condiciona não só geopolíticas epistemológicas e ontológicas, como a própria sustentabilidade do planeta, convocamos outras forças de gravidade para um olhar crítico sobre algumas estruturas que perpetuam estes mesmos regimes.
Numa Europa que deixou de ser o centro de gravidade do mundo, mas que permanece infraestrutural na globalização de regimes de poder neoliberal, patriarcal e (neo)colonial, e que condiciona não só geopolíticas epistemológicas e ontológicas, como a própria sustentabilidade do planeta, convocamos outras forças de gravidade para um olhar crítico sobre algumas estruturas que perpetuam estes mesmos regimes.
Vou lá visitar
12.11.2019 | por Alexandra Balona
 Por mais embrionária que seja a discussão pós-colonial em Portugal, quarenta e cinco anos após o princípio da descolonização e do fim do regime fascista, importa perceber que deveríamos estar num tempo de múltiplos caminhos e descobertas, e o que mais impressiona no campo disciplinar da arquitectura é a construção de uma visão praticamente hegemónica, institucionalizada no seio da academia nas vertentes disciplinares da arquitectura e na maior parte das representações de Portugal produzidas sob a tutela do Estado.
Por mais embrionária que seja a discussão pós-colonial em Portugal, quarenta e cinco anos após o princípio da descolonização e do fim do regime fascista, importa perceber que deveríamos estar num tempo de múltiplos caminhos e descobertas, e o que mais impressiona no campo disciplinar da arquitectura é a construção de uma visão praticamente hegemónica, institucionalizada no seio da academia nas vertentes disciplinares da arquitectura e na maior parte das representações de Portugal produzidas sob a tutela do Estado.
Cidade
10.05.2019 | por Tiago Mota Saraiva
 Fazia sentido focar numa dança que se originou no contexto colonial, através de um processo de troca e influência acomodado por um sensível engajamento físico, mas também dentro de um sistema de exploração global e local. Lundu é uma dança de sedução e prazer que se desenvolveu devido ao intercâmbio entre africanos, espanhóis e portugueses no Brasil dos séculos XVII e XVIII.
Fazia sentido focar numa dança que se originou no contexto colonial, através de um processo de troca e influência acomodado por um sensível engajamento físico, mas também dentro de um sistema de exploração global e local. Lundu é uma dança de sedução e prazer que se desenvolveu devido ao intercâmbio entre africanos, espanhóis e portugueses no Brasil dos séculos XVII e XVIII.
Palcos
16.01.2019 | por Camila Sposati e Falke Pisano
 O hotel traz consigo a simbologia da viagem, dos trânsitos diaspóricos, é um dos elementos arquitectónicos recorrentes nas explorações da artista. Em Hotel Globo (2015), obra que tem como ponto de partida o hotel construído na década de 50 na Baixa de Luanda, o edifício adquire um estatuto de quase resistência às mudanças aceleradas em seu redor; Panorama materializa a decadência, é um navio naufragado, resignado à própria sorte.
O hotel traz consigo a simbologia da viagem, dos trânsitos diaspóricos, é um dos elementos arquitectónicos recorrentes nas explorações da artista. Em Hotel Globo (2015), obra que tem como ponto de partida o hotel construído na década de 50 na Baixa de Luanda, o edifício adquire um estatuto de quase resistência às mudanças aceleradas em seu redor; Panorama materializa a decadência, é um navio naufragado, resignado à própria sorte.
Cidade
29.11.2018 | por Paula Nascimento
 Odiaria fazer qualquer discurso pós-colonial ou adotar qualquer outra estratégia para dar lugar de consolo a um troço qualquer, pois o que teríamos que aceitar aqui é uma evidência desconhecida apenas pela própria ignorância dos livros; sabe-se lá quais são as tantas razões que há. Prefiro não pensar no quanto nos tornamos preguiçosos e nos desvencilhamos da análise de fontes primárias, neste conforto teorizante de citar livros para provar aquilo que os novos livros querem escrever e buscam atualizar da historieta toda. Nada disso vem ao caso pois no achado do artista só vale entender a sua potência própria.
Odiaria fazer qualquer discurso pós-colonial ou adotar qualquer outra estratégia para dar lugar de consolo a um troço qualquer, pois o que teríamos que aceitar aqui é uma evidência desconhecida apenas pela própria ignorância dos livros; sabe-se lá quais são as tantas razões que há. Prefiro não pensar no quanto nos tornamos preguiçosos e nos desvencilhamos da análise de fontes primárias, neste conforto teorizante de citar livros para provar aquilo que os novos livros querem escrever e buscam atualizar da historieta toda. Nada disso vem ao caso pois no achado do artista só vale entender a sua potência própria.
Vou lá visitar
07.11.2018 | por Afonso Luz
 A chegada à Europa de grandes contingentes de população, com vivência colonial corporizava a realidade distante dos impérios perdidos e perturbava traumaticamente a narrativa europeia. Estas populações e a história de que eram portadoras denunciavam a relação organicamente imperial europeia e iriam compondo parte das sociedades multiculturais europeias que ocultamente emergiam. A análise dos seus prolongamentos atuais, sob a forma dos "descendentes" e de uma cultura outra, exige-nos a inscrição da violência colonial, pública e privada, na história.
A chegada à Europa de grandes contingentes de população, com vivência colonial corporizava a realidade distante dos impérios perdidos e perturbava traumaticamente a narrativa europeia. Estas populações e a história de que eram portadoras denunciavam a relação organicamente imperial europeia e iriam compondo parte das sociedades multiculturais europeias que ocultamente emergiam. A análise dos seus prolongamentos atuais, sob a forma dos "descendentes" e de uma cultura outra, exige-nos a inscrição da violência colonial, pública e privada, na história.
A ler
05.05.2018 | por Margarida Calafate Ribeiro
 Em entrevista, o filósofo camaronês fala sobre xenofobia, nacionalismo, o lugar do estrangeiro, os perigos de “culturas únicas” e espaços de articulação para a diferença. A diferença se tornou um problema político e cultural no momento em que o contato violento entre povos, por meio da conquista, do colonialismo e do racismo, levou alguns a acreditarem que eram melhores que outros. No momento em que começamos a fazer classificações, institucionalizar hierarquias em nome da diferença, como se as diferenças fossem naturais e não construídas, acreditando que são imutáveis e portanto legítimas, aí sim estamos em apuros.
Em entrevista, o filósofo camaronês fala sobre xenofobia, nacionalismo, o lugar do estrangeiro, os perigos de “culturas únicas” e espaços de articulação para a diferença. A diferença se tornou um problema político e cultural no momento em que o contato violento entre povos, por meio da conquista, do colonialismo e do racismo, levou alguns a acreditarem que eram melhores que outros. No momento em que começamos a fazer classificações, institucionalizar hierarquias em nome da diferença, como se as diferenças fossem naturais e não construídas, acreditando que são imutáveis e portanto legítimas, aí sim estamos em apuros.
Cara a cara
30.04.2018 | por Katharina von Ruckteschell-Katte
 Das múltiplas chaves de entrada em tão eficaz dramaturgia destaco a desconstrução liminar do sistema assistencialista das organizações de ‘ajuda humanitária aos africanos’, a exploração dos refugiados sob o pretexto de um trabalho dignificante, as cenas de contracena e faz-de-conta clássicas à maneira de Molière, a energia contagiante dos ‘números coreográficos’ mimetizando danças de resistência moçambicanas e um trabalho perfeito sobre os equívocos que conduzem a posições racistas quando a identificação de alguém por um colono se sobrepõe à identidade que o ex-colonizado reclama para si.
Das múltiplas chaves de entrada em tão eficaz dramaturgia destaco a desconstrução liminar do sistema assistencialista das organizações de ‘ajuda humanitária aos africanos’, a exploração dos refugiados sob o pretexto de um trabalho dignificante, as cenas de contracena e faz-de-conta clássicas à maneira de Molière, a energia contagiante dos ‘números coreográficos’ mimetizando danças de resistência moçambicanas e um trabalho perfeito sobre os equívocos que conduzem a posições racistas quando a identificação de alguém por um colono se sobrepõe à identidade que o ex-colonizado reclama para si.
Palcos
21.08.2017 | por António Pinto Ribeiro
 Se o conceito de lugar de fala se converte numa ferramenta de interrupção de vozes hegemônicas, é porque ele está sendo operado em favor da possibilidade de emergências de vozes historicamente interrompidas. Assim, quando os ativismos do lugar de fala desautorizam, eles estão, em última instância, desautorizando a matriz de autoridade que construiu o mundo como evento epistemicida; e estão também desautorizando a ficção segundo a qual partimos todas de uma posição comum de acesso à fala e à escuta.
Se o conceito de lugar de fala se converte numa ferramenta de interrupção de vozes hegemônicas, é porque ele está sendo operado em favor da possibilidade de emergências de vozes historicamente interrompidas. Assim, quando os ativismos do lugar de fala desautorizam, eles estão, em última instância, desautorizando a matriz de autoridade que construiu o mundo como evento epistemicida; e estão também desautorizando a ficção segundo a qual partimos todas de uma posição comum de acesso à fala e à escuta.
Corpo
19.07.2017 | por Jota Mombaça
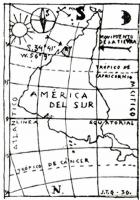 Da mesma forma, o profundo pensamento filosófico desenvolvido ao longo de milhares de anos na China pode passar sem uma única menção em muitos currículos de filosofia no ocidente. Os estudantes de filosofia devem ser encorajados a travar contacto com o trabalho desafiador de pensadores como Kwami Anthony Appiah, Franz Fanon, Achille Mbembe, Valentin-Yves Mudimbe, Enrique Dussell e Walter Mignolo do mesmo modo que o fazem com Parfit e Strawson. Ou não devemos nós todos assumir a tarefa de nos envolvermos, para citar Nietzsche, com “o que pode ser pensado contra o nosso pensamento”?
Da mesma forma, o profundo pensamento filosófico desenvolvido ao longo de milhares de anos na China pode passar sem uma única menção em muitos currículos de filosofia no ocidente. Os estudantes de filosofia devem ser encorajados a travar contacto com o trabalho desafiador de pensadores como Kwami Anthony Appiah, Franz Fanon, Achille Mbembe, Valentin-Yves Mudimbe, Enrique Dussell e Walter Mignolo do mesmo modo que o fazem com Parfit e Strawson. Ou não devemos nós todos assumir a tarefa de nos envolvermos, para citar Nietzsche, com “o que pode ser pensado contra o nosso pensamento”?
Mukanda
04.04.2017 | por World Philosophies
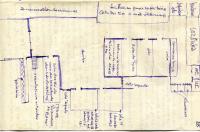 O Tarrafal tem de ser compreendido no sistema de campos que o colonialismo português activou ou reactivou justamente para conter as rebeliões, não pode ser visto individualmente, mas no conjunto de campos e prisões de Angola, Moçambique, Guiné, das antigas colónias mas também das cadeias portuguesas onde estavam presos políticos africanos.
O Tarrafal tem de ser compreendido no sistema de campos que o colonialismo português activou ou reactivou justamente para conter as rebeliões, não pode ser visto individualmente, mas no conjunto de campos e prisões de Angola, Moçambique, Guiné, das antigas colónias mas também das cadeias portuguesas onde estavam presos políticos africanos.
Cara a cara
25.02.2016 | por Marta Lança
 O potencial das obras apresentadas em 'Arquipélago' consiste em entender a paisagem tropical como algo construível; não como um reflexo de imaginários políticos determinados, mas como espaço da potencialidade de ação, da prática de 'environmental citizenship'. Essas “paisagens” evocam a participação e a vontade, a capacidade transformativa do humano e “das coisas”, no caráter processual, matizado e azarento que subjaz às grandes configurações de sentido.
O potencial das obras apresentadas em 'Arquipélago' consiste em entender a paisagem tropical como algo construível; não como um reflexo de imaginários políticos determinados, mas como espaço da potencialidade de ação, da prática de 'environmental citizenship'. Essas “paisagens” evocam a participação e a vontade, a capacidade transformativa do humano e “das coisas”, no caráter processual, matizado e azarento que subjaz às grandes configurações de sentido.
Vou lá visitar
18.12.2014 | por Carlos Garrido Castellano
 Na actualidade, a situação de subalternidade para onde o capitalismo empurrou todos os subalternos, ou seja, quase toda a humanidade, faz com que pensemos que talvez se esteja a caminhar em direcção a um “devir-negro” à escala global que já não identifica somente todas as pessoas de origem africana mas toda a humanidade que estiver na situação de subalternidade.
Na actualidade, a situação de subalternidade para onde o capitalismo empurrou todos os subalternos, ou seja, quase toda a humanidade, faz com que pensemos que talvez se esteja a caminhar em direcção a um “devir-negro” à escala global que já não identifica somente todas as pessoas de origem africana mas toda a humanidade que estiver na situação de subalternidade.
A ler
09.03.2014 | por António Pinto Ribeiro
 Os passados coloniais continuam presentes nos contextos pós-coloniais de várias formas, as quais podem ser encontradas quer na cultura pública, quer em lugares inesperados do quotidiano e na esfera do mundano, mostrando que os entendimentos comuns em relação ao Império, no período pós-descolonizações, se articulam com uma grande variedade de canais e instituições
Os passados coloniais continuam presentes nos contextos pós-coloniais de várias formas, as quais podem ser encontradas quer na cultura pública, quer em lugares inesperados do quotidiano e na esfera do mundano, mostrando que os entendimentos comuns em relação ao Império, no período pós-descolonizações, se articulam com uma grande variedade de canais e instituições
Cidade
18.11.2013 | por Nuno Domingos e Elsa Peralta
 A indecência política é, por isso, uma forma de analfabetismo moral deliberado. Ela não falha em compreender. Recusa simplesmente compreender, porque sabe que a incompreensão rende mais. E aqui, justamente, um olhar histórico mais longo, como o de Norbert Elias – um sociólogo alemão – ajuda-nos a compreender a profundidade desta regressão. No processo civilizacional, Elias mostra que a sociabilidade moderna assenta na internalização gradual do autocontrolo dos afectos. A boa educação não é ornamento, mas sim uma espécie de tecnologia de convivência. É através da contenção dos impulsos, da modulação da agressividade e da capacidade de adiar a resposta emocional que os indivíduos se tornam socialmente fiáveis. A civilidade é, neste sentido, uma conquista frágil, sempre ameaçada e sempre em disputa. Mas o projecto colonial europeu introduziu uma distorção decisiva que consistiu nos colonizadores exigirem de si elevados padrões de autocontrolo na relação entre pares europeus, mas suspenção desses padrões na relação com os povos colonizados.
A indecência política é, por isso, uma forma de analfabetismo moral deliberado. Ela não falha em compreender. Recusa simplesmente compreender, porque sabe que a incompreensão rende mais. E aqui, justamente, um olhar histórico mais longo, como o de Norbert Elias – um sociólogo alemão – ajuda-nos a compreender a profundidade desta regressão. No processo civilizacional, Elias mostra que a sociabilidade moderna assenta na internalização gradual do autocontrolo dos afectos. A boa educação não é ornamento, mas sim uma espécie de tecnologia de convivência. É através da contenção dos impulsos, da modulação da agressividade e da capacidade de adiar a resposta emocional que os indivíduos se tornam socialmente fiáveis. A civilidade é, neste sentido, uma conquista frágil, sempre ameaçada e sempre em disputa. Mas o projecto colonial europeu introduziu uma distorção decisiva que consistiu nos colonizadores exigirem de si elevados padrões de autocontrolo na relação entre pares europeus, mas suspenção desses padrões na relação com os povos colonizados.  Em 2010, combinei encontro com a Margarida Vale de Gato, sua filha Alice e o poeta Rui Costa, na base do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC). Dali se mirava a cidade-montanha Rio de Janeiro como o «outro lado». Escrevi no meu bloco de notas da altura: «Niterói tem uma nave de Niemeyer que aterrou na Baía de Guanabara com um museu que espelha o futuro.» A obra, inaugurada em 1996, era de facto a imagem do futuro: fachada futurista, envidraçados de onde se abarcava um pedaço de mundo a 360 graus. Pairando na água, reconhecíamos o modernismo, a arquitetura botava fé no futuro expresso nas formas redondas de «concreto». A sua escala gigante fazia-nos seres minúsculos na fotografia debaixo da nave, fincados no tapete vermelho serpenteante, também ele cimentado. Ao entrarmos no MAC, recordo vagamente uma exposição (creio que do acervo da Coleção João Sattamini, com obras desde a década de 50) de artistas brasileiros que, durante a ditadura militar e civil, tinham sido perseguidos e torturados. Cada obra à sua maneira, transmitia o desejo coletivo de liberdade. Na altura pensei que era assim mesmo, o desejo de futuro não podia prescindir da evocação das trevas, tinha de levar consigo as dores do passado, a ditadura, a «democracia racial», a escravidão, as gritantes desigualdades, os colonialismos todos, e um sem-fim de dores do Brasil.
Em 2010, combinei encontro com a Margarida Vale de Gato, sua filha Alice e o poeta Rui Costa, na base do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC). Dali se mirava a cidade-montanha Rio de Janeiro como o «outro lado». Escrevi no meu bloco de notas da altura: «Niterói tem uma nave de Niemeyer que aterrou na Baía de Guanabara com um museu que espelha o futuro.» A obra, inaugurada em 1996, era de facto a imagem do futuro: fachada futurista, envidraçados de onde se abarcava um pedaço de mundo a 360 graus. Pairando na água, reconhecíamos o modernismo, a arquitetura botava fé no futuro expresso nas formas redondas de «concreto». A sua escala gigante fazia-nos seres minúsculos na fotografia debaixo da nave, fincados no tapete vermelho serpenteante, também ele cimentado. Ao entrarmos no MAC, recordo vagamente uma exposição (creio que do acervo da Coleção João Sattamini, com obras desde a década de 50) de artistas brasileiros que, durante a ditadura militar e civil, tinham sido perseguidos e torturados. Cada obra à sua maneira, transmitia o desejo coletivo de liberdade. Na altura pensei que era assim mesmo, o desejo de futuro não podia prescindir da evocação das trevas, tinha de levar consigo as dores do passado, a ditadura, a «democracia racial», a escravidão, as gritantes desigualdades, os colonialismos todos, e um sem-fim de dores do Brasil. 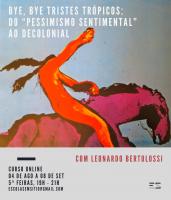 No esteio desse “admirável mundo novo”, a artilharia retórica pós-moderna e pós-colonial traria novas feridas narcísicas ao pensamento ocidental que hoje ainda ecoam em políticas e poéticas decoloniais com a entrada de agentes indígenas, afro-descendentes e queer na arena artística e intelectual de modo a desafiar os antigos prognósticos da velha antropologia. Esse curso pretende acompanhar a trilha dessas transformações epistemológicas e políticas a partir de alguns capítulos de sua história. Pretende ainda problematizar, a partir dos campos das artes visuais e das ciências sociais, os limites das retóricas pós-coloniais e decoloniais diante dos fascismos contemporâneos e da complexidade paradoxal do real das instituições a partir das polêmicas atuais.
No esteio desse “admirável mundo novo”, a artilharia retórica pós-moderna e pós-colonial traria novas feridas narcísicas ao pensamento ocidental que hoje ainda ecoam em políticas e poéticas decoloniais com a entrada de agentes indígenas, afro-descendentes e queer na arena artística e intelectual de modo a desafiar os antigos prognósticos da velha antropologia. Esse curso pretende acompanhar a trilha dessas transformações epistemológicas e políticas a partir de alguns capítulos de sua história. Pretende ainda problematizar, a partir dos campos das artes visuais e das ciências sociais, os limites das retóricas pós-coloniais e decoloniais diante dos fascismos contemporâneos e da complexidade paradoxal do real das instituições a partir das polêmicas atuais.  O conjunto de obras aqui propostas constitui-se pós-colonial, não apenas porque revela facetas de sociedades que foram colonizadas e que preservam marcas dessa colonização, mas principalmente porque contém e ultrapassa relações entre identidades e alteridades nascidas durante o colonialismo.
Neste ciclo veremos: “Alma ta Fika” de um cineasta português citado quase 30 anos mais tarde em “Kmê Deus” por um cabo-verdiano; depois, “Mãos de Barro” de um cineasta brasileiro, radicado em Moçambique desde meados dos anos 1970; e finalmente “Luanda, a Fábrica da Música”, uma obra de uma cineasta portuguesa e de um cineasta angolano.
O conjunto de obras aqui propostas constitui-se pós-colonial, não apenas porque revela facetas de sociedades que foram colonizadas e que preservam marcas dessa colonização, mas principalmente porque contém e ultrapassa relações entre identidades e alteridades nascidas durante o colonialismo.
Neste ciclo veremos: “Alma ta Fika” de um cineasta português citado quase 30 anos mais tarde em “Kmê Deus” por um cabo-verdiano; depois, “Mãos de Barro” de um cineasta brasileiro, radicado em Moçambique desde meados dos anos 1970; e finalmente “Luanda, a Fábrica da Música”, uma obra de uma cineasta portuguesa e de um cineasta angolano.  Será que a teoria pós-colonial mantém a capacidade auto-reflexiva que a define como teoria crítica ou, pelo contrário, tornou-se vítima do próprio sucesso? Será que os lugares comuns da teoria se mantêm produtivos como ponto de encontro vital, como lugares de diálogo e confronto crítico ou, pelo contrário, na acepção negativa do sintagma, já não são senão estereótipos, simulacros de pensamento? “When was the postcolonial?”, “Quando é que se deu o pós-colonial?”, interrogava-se já Stuart Hall num texto da segunda metade dos anos 90.
Será que a teoria pós-colonial mantém a capacidade auto-reflexiva que a define como teoria crítica ou, pelo contrário, tornou-se vítima do próprio sucesso? Será que os lugares comuns da teoria se mantêm produtivos como ponto de encontro vital, como lugares de diálogo e confronto crítico ou, pelo contrário, na acepção negativa do sintagma, já não são senão estereótipos, simulacros de pensamento? “When was the postcolonial?”, “Quando é que se deu o pós-colonial?”, interrogava-se já Stuart Hall num texto da segunda metade dos anos 90.  O trabalho das feministas negras tem sido essencial para desvelar a fundação racial da reprodução social da limpeza e dos cuidados. Na era actual, que vê uma nova política racial da limpeza produzida pela ansiedade gerada em torno daquilo a que os meios de comunicação chamam crise climática, as sociedades humanas não poderão sobreviver sem esse trabalho de limpeza e de cuidado.
O trabalho das feministas negras tem sido essencial para desvelar a fundação racial da reprodução social da limpeza e dos cuidados. Na era actual, que vê uma nova política racial da limpeza produzida pela ansiedade gerada em torno daquilo a que os meios de comunicação chamam crise climática, as sociedades humanas não poderão sobreviver sem esse trabalho de limpeza e de cuidado.  Numa Europa que deixou de ser o centro de gravidade do mundo, mas que permanece infraestrutural na globalização de regimes de poder neoliberal, patriarcal e (neo)colonial, e que condiciona não só geopolíticas epistemológicas e ontológicas, como a própria sustentabilidade do planeta, convocamos outras forças de gravidade para um olhar crítico sobre algumas estruturas que perpetuam estes mesmos regimes.
Numa Europa que deixou de ser o centro de gravidade do mundo, mas que permanece infraestrutural na globalização de regimes de poder neoliberal, patriarcal e (neo)colonial, e que condiciona não só geopolíticas epistemológicas e ontológicas, como a própria sustentabilidade do planeta, convocamos outras forças de gravidade para um olhar crítico sobre algumas estruturas que perpetuam estes mesmos regimes.  Por mais embrionária que seja a discussão pós-colonial em Portugal, quarenta e cinco anos após o princípio da descolonização e do fim do regime fascista, importa perceber que deveríamos estar num tempo de múltiplos caminhos e descobertas, e o que mais impressiona no campo disciplinar da arquitectura é a construção de uma visão praticamente hegemónica, institucionalizada no seio da academia nas vertentes disciplinares da arquitectura e na maior parte das representações de Portugal produzidas sob a tutela do Estado.
Por mais embrionária que seja a discussão pós-colonial em Portugal, quarenta e cinco anos após o princípio da descolonização e do fim do regime fascista, importa perceber que deveríamos estar num tempo de múltiplos caminhos e descobertas, e o que mais impressiona no campo disciplinar da arquitectura é a construção de uma visão praticamente hegemónica, institucionalizada no seio da academia nas vertentes disciplinares da arquitectura e na maior parte das representações de Portugal produzidas sob a tutela do Estado.  Fazia sentido focar numa dança que se originou no contexto colonial, através de um processo de troca e influência acomodado por um sensível engajamento físico, mas também dentro de um sistema de exploração global e local. Lundu é uma dança de sedução e prazer que se desenvolveu devido ao intercâmbio entre africanos, espanhóis e portugueses no Brasil dos séculos XVII e XVIII.
Fazia sentido focar numa dança que se originou no contexto colonial, através de um processo de troca e influência acomodado por um sensível engajamento físico, mas também dentro de um sistema de exploração global e local. Lundu é uma dança de sedução e prazer que se desenvolveu devido ao intercâmbio entre africanos, espanhóis e portugueses no Brasil dos séculos XVII e XVIII.  O hotel traz consigo a simbologia da viagem, dos trânsitos diaspóricos, é um dos elementos arquitectónicos recorrentes nas explorações da artista. Em Hotel Globo (2015), obra que tem como ponto de partida o hotel construído na década de 50 na Baixa de Luanda, o edifício adquire um estatuto de quase resistência às mudanças aceleradas em seu redor; Panorama materializa a decadência, é um navio naufragado, resignado à própria sorte.
O hotel traz consigo a simbologia da viagem, dos trânsitos diaspóricos, é um dos elementos arquitectónicos recorrentes nas explorações da artista. Em Hotel Globo (2015), obra que tem como ponto de partida o hotel construído na década de 50 na Baixa de Luanda, o edifício adquire um estatuto de quase resistência às mudanças aceleradas em seu redor; Panorama materializa a decadência, é um navio naufragado, resignado à própria sorte.  Odiaria fazer qualquer discurso pós-colonial ou adotar qualquer outra estratégia para dar lugar de consolo a um troço qualquer, pois o que teríamos que aceitar aqui é uma evidência desconhecida apenas pela própria ignorância dos livros; sabe-se lá quais são as tantas razões que há. Prefiro não pensar no quanto nos tornamos preguiçosos e nos desvencilhamos da análise de fontes primárias, neste conforto teorizante de citar livros para provar aquilo que os novos livros querem escrever e buscam atualizar da historieta toda. Nada disso vem ao caso pois no achado do artista só vale entender a sua potência própria.
Odiaria fazer qualquer discurso pós-colonial ou adotar qualquer outra estratégia para dar lugar de consolo a um troço qualquer, pois o que teríamos que aceitar aqui é uma evidência desconhecida apenas pela própria ignorância dos livros; sabe-se lá quais são as tantas razões que há. Prefiro não pensar no quanto nos tornamos preguiçosos e nos desvencilhamos da análise de fontes primárias, neste conforto teorizante de citar livros para provar aquilo que os novos livros querem escrever e buscam atualizar da historieta toda. Nada disso vem ao caso pois no achado do artista só vale entender a sua potência própria.  A chegada à Europa de grandes contingentes de população, com vivência colonial corporizava a realidade distante dos impérios perdidos e perturbava traumaticamente a narrativa europeia. Estas populações e a história de que eram portadoras denunciavam a relação organicamente imperial europeia e iriam compondo parte das sociedades multiculturais europeias que ocultamente emergiam. A análise dos seus prolongamentos atuais, sob a forma dos "descendentes" e de uma cultura outra, exige-nos a inscrição da violência colonial, pública e privada, na história.
A chegada à Europa de grandes contingentes de população, com vivência colonial corporizava a realidade distante dos impérios perdidos e perturbava traumaticamente a narrativa europeia. Estas populações e a história de que eram portadoras denunciavam a relação organicamente imperial europeia e iriam compondo parte das sociedades multiculturais europeias que ocultamente emergiam. A análise dos seus prolongamentos atuais, sob a forma dos "descendentes" e de uma cultura outra, exige-nos a inscrição da violência colonial, pública e privada, na história.  Em entrevista, o filósofo camaronês fala sobre xenofobia, nacionalismo, o lugar do estrangeiro, os perigos de “culturas únicas” e espaços de articulação para a diferença. A diferença se tornou um problema político e cultural no momento em que o contato violento entre povos, por meio da conquista, do colonialismo e do racismo, levou alguns a acreditarem que eram melhores que outros. No momento em que começamos a fazer classificações, institucionalizar hierarquias em nome da diferença, como se as diferenças fossem naturais e não construídas, acreditando que são imutáveis e portanto legítimas, aí sim estamos em apuros.
Em entrevista, o filósofo camaronês fala sobre xenofobia, nacionalismo, o lugar do estrangeiro, os perigos de “culturas únicas” e espaços de articulação para a diferença. A diferença se tornou um problema político e cultural no momento em que o contato violento entre povos, por meio da conquista, do colonialismo e do racismo, levou alguns a acreditarem que eram melhores que outros. No momento em que começamos a fazer classificações, institucionalizar hierarquias em nome da diferença, como se as diferenças fossem naturais e não construídas, acreditando que são imutáveis e portanto legítimas, aí sim estamos em apuros.  Das múltiplas chaves de entrada em tão eficaz dramaturgia destaco a desconstrução liminar do sistema assistencialista das organizações de ‘ajuda humanitária aos africanos’, a exploração dos refugiados sob o pretexto de um trabalho dignificante, as cenas de contracena e faz-de-conta clássicas à maneira de Molière, a energia contagiante dos ‘números coreográficos’ mimetizando danças de resistência moçambicanas e um trabalho perfeito sobre os equívocos que conduzem a posições racistas quando a identificação de alguém por um colono se sobrepõe à identidade que o ex-colonizado reclama para si.
Das múltiplas chaves de entrada em tão eficaz dramaturgia destaco a desconstrução liminar do sistema assistencialista das organizações de ‘ajuda humanitária aos africanos’, a exploração dos refugiados sob o pretexto de um trabalho dignificante, as cenas de contracena e faz-de-conta clássicas à maneira de Molière, a energia contagiante dos ‘números coreográficos’ mimetizando danças de resistência moçambicanas e um trabalho perfeito sobre os equívocos que conduzem a posições racistas quando a identificação de alguém por um colono se sobrepõe à identidade que o ex-colonizado reclama para si.  Se o conceito de lugar de fala se converte numa ferramenta de interrupção de vozes hegemônicas, é porque ele está sendo operado em favor da possibilidade de emergências de vozes historicamente interrompidas. Assim, quando os ativismos do lugar de fala desautorizam, eles estão, em última instância, desautorizando a matriz de autoridade que construiu o mundo como evento epistemicida; e estão também desautorizando a ficção segundo a qual partimos todas de uma posição comum de acesso à fala e à escuta.
Se o conceito de lugar de fala se converte numa ferramenta de interrupção de vozes hegemônicas, é porque ele está sendo operado em favor da possibilidade de emergências de vozes historicamente interrompidas. Assim, quando os ativismos do lugar de fala desautorizam, eles estão, em última instância, desautorizando a matriz de autoridade que construiu o mundo como evento epistemicida; e estão também desautorizando a ficção segundo a qual partimos todas de uma posição comum de acesso à fala e à escuta. 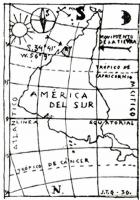 Da mesma forma, o profundo pensamento filosófico desenvolvido ao longo de milhares de anos na China pode passar sem uma única menção em muitos currículos de filosofia no ocidente. Os estudantes de filosofia devem ser encorajados a travar contacto com o trabalho desafiador de pensadores como Kwami Anthony Appiah, Franz Fanon, Achille Mbembe, Valentin-Yves Mudimbe, Enrique Dussell e Walter Mignolo do mesmo modo que o fazem com Parfit e Strawson. Ou não devemos nós todos assumir a tarefa de nos envolvermos, para citar Nietzsche, com “o que pode ser pensado contra o nosso pensamento”?
Da mesma forma, o profundo pensamento filosófico desenvolvido ao longo de milhares de anos na China pode passar sem uma única menção em muitos currículos de filosofia no ocidente. Os estudantes de filosofia devem ser encorajados a travar contacto com o trabalho desafiador de pensadores como Kwami Anthony Appiah, Franz Fanon, Achille Mbembe, Valentin-Yves Mudimbe, Enrique Dussell e Walter Mignolo do mesmo modo que o fazem com Parfit e Strawson. Ou não devemos nós todos assumir a tarefa de nos envolvermos, para citar Nietzsche, com “o que pode ser pensado contra o nosso pensamento”? 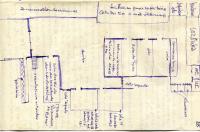 O Tarrafal tem de ser compreendido no sistema de campos que o colonialismo português activou ou reactivou justamente para conter as rebeliões, não pode ser visto individualmente, mas no conjunto de campos e prisões de Angola, Moçambique, Guiné, das antigas colónias mas também das cadeias portuguesas onde estavam presos políticos africanos.
O Tarrafal tem de ser compreendido no sistema de campos que o colonialismo português activou ou reactivou justamente para conter as rebeliões, não pode ser visto individualmente, mas no conjunto de campos e prisões de Angola, Moçambique, Guiné, das antigas colónias mas também das cadeias portuguesas onde estavam presos políticos africanos.  O potencial das obras apresentadas em 'Arquipélago' consiste em entender a paisagem tropical como algo construível; não como um reflexo de imaginários políticos determinados, mas como espaço da potencialidade de ação, da prática de 'environmental citizenship'. Essas “paisagens” evocam a participação e a vontade, a capacidade transformativa do humano e “das coisas”, no caráter processual, matizado e azarento que subjaz às grandes configurações de sentido.
O potencial das obras apresentadas em 'Arquipélago' consiste em entender a paisagem tropical como algo construível; não como um reflexo de imaginários políticos determinados, mas como espaço da potencialidade de ação, da prática de 'environmental citizenship'. Essas “paisagens” evocam a participação e a vontade, a capacidade transformativa do humano e “das coisas”, no caráter processual, matizado e azarento que subjaz às grandes configurações de sentido.  Na actualidade, a situação de subalternidade para onde o capitalismo empurrou todos os subalternos, ou seja, quase toda a humanidade, faz com que pensemos que talvez se esteja a caminhar em direcção a um “devir-negro” à escala global que já não identifica somente todas as pessoas de origem africana mas toda a humanidade que estiver na situação de subalternidade.
Na actualidade, a situação de subalternidade para onde o capitalismo empurrou todos os subalternos, ou seja, quase toda a humanidade, faz com que pensemos que talvez se esteja a caminhar em direcção a um “devir-negro” à escala global que já não identifica somente todas as pessoas de origem africana mas toda a humanidade que estiver na situação de subalternidade.  Os passados coloniais continuam presentes nos contextos pós-coloniais de várias formas, as quais podem ser encontradas quer na cultura pública, quer em lugares inesperados do quotidiano e na esfera do mundano, mostrando que os entendimentos comuns em relação ao Império, no período pós-descolonizações, se articulam com uma grande variedade de canais e instituições
Os passados coloniais continuam presentes nos contextos pós-coloniais de várias formas, as quais podem ser encontradas quer na cultura pública, quer em lugares inesperados do quotidiano e na esfera do mundano, mostrando que os entendimentos comuns em relação ao Império, no período pós-descolonizações, se articulam com uma grande variedade de canais e instituições 