O Projecto Crioulo - Cabo Verde, colonialismo e crioulidade (Parte I)
1. Cabo-Verde colonial: antropólogo e elites locais
Em 1957, Almerindo Lessa e Jacques Ruffié publicaram, em edição da Junta de Investigações do Ultramar, um volume contendo dois trabalhos, intitulados Seroantropologia das Ilhas de Cabo Verde e Mesa Redonda sobre o Homem Cabo- Verdiano.
O primeiro estudo baseava-se nos trabalhos de uma missão levada a cabo entre Junho e Agosto de 1956, período durante o qual se instalou o Centro de Sangue e Reanimação de S. Vicente. Vários estudos foram realizados no âmbito da missão: «sorologia da brucelose e da sífilis, electroforegramas de certas doenças e a estatística nosológica da Província, bem como o estudo do daltonismo, da constituição falsiforme, da agueusia à feniltiocarbamida e dos índices hematimétricos médios» (1957:9), tendo Ruffié estudado também «aspectos das filaríases e novas técnicas de hemodiagnóstico em Parasitologia» (1957:9).
A parte publicada relativa à seroantropologia propunha-se estudar as frequências dos sistemas sanguíneos ABO, MN, Rhesus e Kell, seguida da «comparação entre as repartições dos grupos sanguíneos das populações do Sul de Portugal (uma das raízes sorológicas dos primeiros colonos) e a população cabo-verdiana», do «estudo [comparativo, através da consulta de outras pesquisas] das frequências dos grupos sanguíneos observados nas tribos da Guiné Portuguesa e da África Ocidental Francesa [idem]» e da «comparação com mestiços de São Paulo (Brasil) [idem]» (1957:9).
As conclusões apresentadas são resumidas pelos autores: em primeiro lugar, as «diferenças nas frequências intra-ilhas são tidas como pouco significativas (…) por isso julgamos tal facto destituído de significado antropológico» (1957:61); em segundo lugar, «pelo sistema ABO, a população cabo-verdiana difere muito significativamente das populações do Sul de Portugal» (p. 61), sendo «a população cabo-verdiana… sorologicamente homogénea» (p. 61) e diferindo apenas significativamente as ilhas de Santiago e de São Vicente. Igualmente, «os tipos seroantropológicos ABO dos cabo verdianos diferem significativamente de certas tribos que habitam o interior do continente (Fulas, Mandingas); pelo contrário, não existe diferença significativa com as tribos do litoral (Papéis)» (p. 62). Já quanto aos mestiços de São Paulo, Brasil, «a série I dos mestiços de São Paulo difere significativamente das séries II e III. A população das ilhas de Barlavento difere significativamente das três séries. A população das ilhas de Sotavento não difere significativamente das três séries» (p. 62). As conclusões finais apontam para a homogeneidade da população que «pode, no seu conjunto, ser considerada no estado de panmixia» (p. 62), diferindo «de maneira significativa pela frequência dos grupos sanguíneos de base das populações originárias portuguesas e africanas» (p. 63), sendo que «o stock cromossomático apresentado pela actua população cabo-verdiana tem 35% de origem europeia (portuguesa) e 65% de origem oeste-africana» (1957:64).
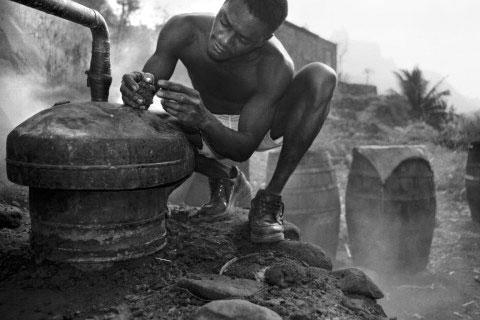
Este texto, inédito, é de certo modo uma adenda à pesquisa sobre política da identidade e questões de pós-colonialismo publicada em Vale de Almeida (2000). Foi escrito no âmbito do projecto Contextos Coloniais e Pós-coloniais da Globalização: Interacção e Discurso no Mundo Lusófono (sécs. XVI a XXI), coordenado por Jill Dias, financiado pela FCT. Uma versão inglesa, versando aspectos mais abrangentes do colonialismo português, está no prelo em Charles Stewart, org., Creolization and Diaspora: Historical, Ethnographic and Theoretical Approachs. A elaboração deste texto contou com a ajuda inestimável de João Vasconcelos.
Paralelamente à investigação seroantropológica, cujos conteúdos técnicos não são relevantes para o argumento do presente texto, Almerindo Lessa promove duas reuniões de mesa redonda para discussão do «Homem [sic] Cabo-Verdiano». O texto apresenta a transcrição dos trabalhos, que tiveram lugar a 21 e 24 de Julho de 1956 no Grémio do Mindelo. A primeira reunião é substancialmente ocupada por uma palestra de Lessa, seguida de discussão pelos participantes. A segunda dá mais a palavra aos segundos, num registo especulativo e impressionista sobre as características culturais cabo-verdianas. Na primeira, Lessa aborda a questão racial, no sentido de lançar a pergunta sobre se «a bioquímica pode explicar a História e a Cultura». A questão dos mestiços é um dos tópicos importantes, sobretudo no que diz respeito à indagação da sua qualificação como «degenerativos, superantes ou de adaptação».
A segunda reunião desenrola-se a partir duma agenda de questões definidas por Lessa no sentido de obter respostas por parte dos intelectuais locais: Existe uma civilização cabo-verdiana? Existe mesmo uma arte regional? O que está na origem da indolência (sic) cabo-verdiana? Qual o valor da língua crioula? Os problemas da cultura da terra têm origem no fatalismo, na falta de meios materiais ou na impreparação técnica? E, por fim, existe um complexo de inferioridade respeitante às «doenças de negro»? Prestarei particular atenção aos tópicos que têm constituído – antes e depois destas conferências – focos da atenção dos “construtores de identidade” em Cabo Verde (quer entre as elites locais, quer entre os colonizadores), a saber, a especificidade cabo-verdiana e/ou a sua “portugalidade”, sendo que a questão da língua surge como a dobradiça principal (facto, aliás, comum às definições de identidade nacional com base em critérios etno-linguísticos).
Os participantes na mesa redonda eram representantes masculinos das elites letradas locais ou de origem metropolitana e imperial, residentes no arquipélago (neste último caso, especifico a sua origem na listagem): Aníbal Lopes da Silva, médico; Júlio Monteiro, advogado e administrador do concelho; António Miranda, médico; H. Santa Rita Vieira, médico; Baltasar Lopes, advogado, reitor do Liceu; Raul Ribeiro, comerciante, director do Notícias de Cabo Verde; Henrique Teixeira de Sousa, médico; Manuel Serra, advogado; António Gonçalves, professor do Liceu; Augusto Miranda, advogado; Jonas Wahnon, industrial; Joaquim Nonato Ramos, comerciante e presidente da Associação Comercial; José Resende, major, comandante militar interino, metropolitano; Guilherme Chantre, professor do Liceu; João Morais, médico, director do hospital; Júlio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal; José dos Santos, comerciante, metropolitano; Daniel Tavares, médico; Manuel Meira, médico-chefe da missão do Instituto de Medicina Tropical, metropolitano; Olímpio Nobre Martins, médico; João Lopes, comerciante; Manuel Pélico, oficial do exército, metropolitano; José Mascarenhas, secretário da Fazenda; Mário Leão, médico, de Goa; Manuel Lopes da Silva, Jr., advogado; Adriano Duarte Silva, advogado, deputado por Cabo Verde; Manuel Camões, médico, metropolitano; Francisco Mascarenhas, funcionário aduaneiro; e Emílio Santiago, industrial, metropolitano.

A primeira reunião
A prelecção inicial de Lessa pode ser vista como uma aula dada pelo pesquisador visitante às elites locais, de modo a explicar o relevo do seu trabalho no terreno. Dois problemas são por ele reconhecidos: definir a “Antropossociologia” e poder proceder a uma análise da sociedade cabo-verdiana, o que o leva a «… provocar e ouvir a sua aristocracia» (1957:72).
Quais são as suas preocupações em relação ao primeiro assunto? Em primeiro lugar, dar validação matemática aos princípios da genética aplicada à classificação em «raças e povos». Os métodos biosserológicos permitiriam «estabelecer a especificidade bioquímica dos indivíduos e o seu apartamento em raças», embora apenas dez grupos de caracteres constituam aqueles que «pela generalização… são suficientes para estabelecer por um jogo de percentagens a diferenciação das raças» (1957:75). Colocando como alternativas na classificação das “raças” o cálculo das percentagens de fenótipos ou o cálculo das percentagens de genótipos, Lessa diz reconhecer que «não é possível mais falar de raças brancas e negras; não vamos já continuar na ingenuidade de falar numa raça portuguesa ou numa raça francesa. A única coisa que hoje nos é permitida dizer é que existem três grandes agrupamentos humanos: os negróides, os caucasóides e os mongolóides, cada um deles perfeitamente definido pela percentagem maior ou menor de certas constituições bioquímicas» (1957:78). A sua frustração assenta não na impossibilidade de encontrar diferenciações raciais (que para ele são claras) mas em não «podermos ir mais longe… [até às] estruturas psicobiológicas» (1957:79).
Situando-se para cá de uma raciologia que hoje qualificaríamos de racista, Lessa encontrava-se, todavia, longe ainda da nossa contemporânea visão da “raça” como construção social. A sua posição é intersticial e de transição, como o próprio período da história do colonialismo português em que foi formulada.
A outra preocupação na prelecção de Lessa é por ele mesmo explicitada: « [qual é] a posição dos mestiços e das raças consideradas “inferiores” no plano geral da Antropobiologia?» (1957:80). Afirmando-se como não preconceituoso, e reconhecendo, a partir de Gilberto Freire, que o cruzamento foi «…uma necessidade histórica, sem a qual uma nação demograficamente tão pequena como a nossa (…) não poderia obter uma fixação ecológica» (1957:80), Lessa diz que «…a criação do mestiço favorece o património genético do homem e deve ser considerada um método positivo na dinâmica das populações» (1957:80). Ele coloca fora de discussão que a mestiçagem amplifica a variabilidade das “raças”, mas identifica a valorização de tal amplificação como sendo um objecto de controvérsia, como já havia ficado patente em «homens de ciência» como Eusébio Tamagnini e Mendes Correia, ou em «homens de letras» como Fialho de Almeida ou Hipólito Raposo (ou, ainda, as discussões, no Brasil, entre Oliveira Viana e Austregésilo).
O problema que Lessa partilha com os outros participantes na mesa redonda é o do «aspecto psicossomático da transplantação do europeu para as regiões tropicais» (1957: 81), confessando não se possuir «nem elementos, nem prática, nem perspectiva para estudar um tipo novo de homem que nos surja» (p. 82). Esta dificuldade é exemplificada com recurso a um registo de literatura de viagens, mais especificamente uma crónica que Lessa teria escrito anos atrás durante uma viagem de navio à Índia. A crónica começa por referir o seu encontro, a bordo, com o escritor Paul Bowles, que seguia na companhia de um tal Ahmed el Yacoubi que «tem vinte anos e é o que no Chiado se chamaria um selvagem» (p. 82), alguém que «não possui nenhum dos elementos que fazem a magnificência da civilização. Mas sente-se que todo ele é um contínuo esforço de pensar e ficaria para morrer se eu lhe dissesse que é um ignorante: porque sabe tudo» (p. 83). Lessa diz que viu «fotografias de quadros seus que me fazem lembrar os desenhos das cavernas australianas como o Picasso da segunda fase e que numa exposição organizada por Paul Bowles na Galeria Gallimard, de Tânger, se venderam todos» (p. 83). O autor prossegue confessando como gostaria de ter feito o mesmo que Paul Bowles: acompanhar Ahmed de Paris ao Paquistão de modo a poder observar as suas reacções a meios tão diversos. Esta deambulação condu-lo ao registo confessional com que termina a prelecção e abre a discussão: «Ora, se eu nem sempre consegui compreender um homem que estava sentado à minha mesa, mas partia de um ponto mental diferente do meu, como há-de a maior parte dos observadores compreender os mestiços que formam uma raça com tempos físicos e mentais muito diferentes dos seus? (…) Creio sinceramente no futuro elevado das raças mestiças. Discordo de Gilberto Freire quando ele pensa… estar entre os trópicos, e não na Europa, o futuro da civilização de origem portuguesa e até da própria Civilização» (1957:86).


As referências a Paul Bowles, Picasso e Freire situam Lessa num quadro marcadamente modernista, no qual o tropo da mestiçagem é central para a definição das condições sociais e culturais que dariam azo a uma desejada sociedade global de misturas. Esta perspectiva modernista tem, todavia, uma componente aparentemente contraditória: a definição separatista das componentes que contribuem para a mistura. Esta classificação da especificidade e da diferença (“racial”, “cultural”, linguística, geográfica…) é a marca central da antropologia modernista, cujos motivos serviram de inspiração para as definições de identidades nacionais na Europa e de perturbação para as definições de identidades nacionais no mundo pós-colonial.
Antes de analisarmos a discussão da mesa, talvez seja o momento de perceber um pouco melhor quem era Lessa nesse universo colonial dos anos cinquenta influenciado já pelo ideário de Gilberto Freire. Segundo a nota biográfica em Castelo (1999), Almerindo Lessa (1908-1995) era licenciado em medicina pela Universidade do Porto. Em 1957 obteve o doutoramento em medicina pela mesma universidade e também em Ciências Bioantropológicas pela Universidade de Toulouse. Foi professor de Ecologia Humana na Universidade de Évora, e de Antropologia Tropical, Medicina Social e Higiene Tradicional nas Universidades Técnica e Clássica de Lisboa. Fundou e foi reitor da Universidade de Macau e vice-reitor e fundador da Universidade Internacional de Lisboa. Segundo Castelo, conheceu pessoalmente Gilberto Freire e correspondeu-se com ele. Lessa é um dos autores referidos por Freire, como alguém que «vem desenvolvendo o conceito de civilização luso-tropical (…). Referindo explicitamente as «suas mais recentes pesquisas de sero-antropologista» Lessa é elogiado por concluir «haver um mestiço luso-tropical eugénico e saudável» (Freire, O Luso e o Trópico, p. 2, in Castelo 1999:101). Também na sua análise dos trabalhos publicados na colecção Estudos de Ciências Políticas e Sociais, dirigida por Adriano Moreira, Castelo refere um trabalho de Lessa como parte dos trabalhos com referências explícitas a Freire.
O trabalho aqui em análise data de 1957, com base em pesquisa realizada em 1956. O período imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial foi marcado por um crescendo de pressões internacionais no sentido da descolonização. Em 1955, em Bandung, na Indonésia, realizou-se a conferência inaugural do que viria a ser designado como “terceiro mundismo” e, depois, movimento dos não-alinhados. Em 1956 começam os processos de independência em África. Entretanto, em 1951, dera-se a revisão constitucional em Portugal, abolindo o Acto Colonial e definindo o país como nação pluricontinental composta por províncias europeias e províncias ultramarinas. No mesmo ano Gilberto Freire visita Cabo Verde, numa das etapas do seu périplo pelo império a convite do ministro Sarmento Rodrigues. Da passagem por Cabo Verde e da análise publicada em Um Brasileiro em Terras Portuguesas e em Aventura e Rotina resultaria um dos debates mais importantes sobre a identidade cabo-verdiana entre as suas elites, de que Baltasar Lopes, presente na mesa redonda de Lessa, foi o protagonista (ver adiante).
A Lei Orgânica do Ultramar Português, de 1953, aprovada quando Sarmento Rodrigues era ministro, substituiu a carta orgânica de 1933 e com ela a tónica da política colonial passa a ser posta na ideia de assimilação. Em 1954, o Estatuto dos Indígenas das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique, define aqueles como «indivíduos de raça negra, ou seus descendentes, que, tendo nascido e vivido habitualmente na Guiné, em Angola ou Moçambique, ainda não possuem a educação e os hábitos pessoais e sociais considerados necessários para a aplicação integral do direito público e privado dos cidadãos portugueses» (Estatuto…, p. 4, in Castelo, 1999:60). Desta classificação – e, portanto, da política assimilacionista – ficam isentos os cabo-verdianos, classificados como portugueses desde o Liberalismo; as elites locais jogarão mesmo importante papel intermediador nas estruturas administrativas em outras colónias portuguesas. O indigenato só viria a terminar com a legislação de 1961, o mesmo ano em que começou a guerra em Angola. Adriano Moreira, por assim dizer, oficializa as abordagens luso-tropicalistas, num processo que nunca deixou de ser polémico – e que redundaria no seu afastamento em 1962.

Nos debates que perpassaram simultaneamente a definição da identidade nacional portuguesa e a justificação para o colonialismo, a questão da mestiçagem jogou um papel fundamental. Lessa, na esteira quer da Missão Seroantropológica a Cabo Verde, quer da Missão de Antropologia Tropical a Macau (em 1960) é quem, na opinião de Castelo, mais se aproxima das ideias de Freire. Para o português, haveria uma ignorância relativamente ao grau de pureza da raiz branca que participou na criação do mestiço. Isto é, o homem metropolitano seria, ele mesmo, um mestiço de origem (Castelo, 1999: 120). Tomemos por assente, então, este facto: Lessa é um bom adaptador do esquema Freiriano e considera a mestiçagem uma experiência histórica eugénica colocando-se, assim, claramente em contraposição à antropologia antimiscigenadora do período antecedente (mas também contemporâneo, no caso do segundo), protagonizado por Tamagnini e Mendes Correia.
É justamente pegando em Mendes Correia que se dá a primeira intervenção na mesa redonda. Júlio Monteiro chama a atenção de Lessa: «…quando disse que não havia um estudo sério sobre a qualificação do mestiço como elemento biológico (…) eu li um trabalho do Prof. Mendes Correia, apresentado ao Congresso de Antropologia do Porto, no qual ele fazia um estudo psicossomático da população de Cabo Verde, em confronto com a população portuguesa da metrópole. Esse confronto foi-nos desfavorável. O Dr. (sic) Mendes Correia lidou, ao que parece, com números restritos, alguns caboverdianos que tinham ido à exposição do Porto» (1957: 86-7). Lessa responde dizendo que os trabalhos feitos durante a Exposição Colonial do Porto têm um valor científico restrito e Júlio Monteiro retoma a palavra, desta feita para invocar Tamagnini: «… eu li a tese do Prof. Tamagnini… [ele] entende que a Biologia não repele a mestiçagem … simplesmente condena a mestiçagem por razões de ordem política…» (1957: 87).
Já em 1902 Tamagnini havia dito, a propósito de outro contexto de crioulização (São Tomé) que era mau o resultado do cruzamento entre «raças colonizadoras e colonizadas», definindo, por exemplo, a língua crioula como «uma degenerescência do português continental» (1902:13). Anos depois, no I Congresso Nacional de Antropologia Colonial (Porto, 1934, um ano depois da promulgação do Acto Colonial), o antropólogo de Coimbra afirma que «quando dois povos, ou duas raças, atingem níveis culturais diferentes e organizam sistemas sociais completamente diversos, as consequências da mestiçagem são necessariamente desastrosas» (1934: 26 in Santos, 1996: 137). No mesmo Congresso, Mendes Correia considera a miscigenação uma prática reprovável, com base num estudo somatológico e psicoténico de 16 caboverdianos e 6 macaenses vindos à Exposição Colonial do Porto de 1934. É nesse âmbito que Mendes Correia elabora a frase que usei para intitular um capítulo de um livro meu (Vale de Almeida, 2000), quando diz que «o mulato é saudade de si mesmo… Como o desprezo do hermafrodita vai gritando ao conflito dos dois sexos … o mestiço é assim um ser imprevisto no plano do mundo, uma experiência infeliz dos portugueses…» (Mendes Correia, 1940: 122 in Castelo, 1999: 112).
Concordando com Lessa quanto à inexistência de “raças” superiores, o participante da mesa Aníbal Lopes da Silva, pergunta, todavia, se «será possível, pelos métodos biológicos de que dispõe, determinar a percentagem de sangue negro e de sangue branco na constituição do cabo-verdiano?» (1957:89). Esta pergunta é justificada do seguinte modo: «…porque estou convencido de que, apesar de na nossa população não haver predomínio de sangue europeu, o povo cabo-verdiano é um povo absolutamente integrado na civilização Ocidental…» (1957:89). Esta questão traz de imediato à baila o nome de A. Chevalier, cujo texto de 1935 é alvo de reacções negativas. Lessa gostaria que alguém lhe respondesse e cita-o: «O português julga ter marcado o Negro cabo-verdiano e o mestiço com uma impressão profunda… Tudo isso não passa de uma aparência. O negro cabo-verdiano continua o negro bon enfant que conhecemos em África. Só se transformou à superfície. Mais: o branco e o quase-branco que vivem à sua volta é que foram, muitas vezes, ao encontro dos seus costumes…» (Chevalier, 1935, citado, sem referência à página, por Lessa, 1957: 92).
Posta de lado esta questão – pois todos os presentes concordam com a sua refutação – Lessa responde a Lopes da Silva com uma afirmativa: «É possível e esse estudo será feito» (1957: 94). O que esta questão sugere é o problema determinista de diferentes percentagens de “sangue” influenciarem mais ou menos os «comportamentos dos indivíduos perante as perspectivas da vida» (Lopes da Silva, p. 94). A isso Lessa reage dizendo que sim, mas que há um problema técnico ainda não superado na observação por causa da dominância de alguns genes e das mutações. É Baltasar Lopes quem tira a ilação disto: «Exige, portanto, uma observação muito maior, que a juventude do mestiço não permite» (1957:95). Não é, pois, ainda, no plano epistemológico e político que se dá a refutação do determinismo, mas sim no plano metodológico e técnico.

Baltasar Lopes, todavia, preocupa-se com a definição do “mestiço”: como é que Lessa, ao classificar os grupos em observação como negros, brancos e mestiços, isolou estes últimos? A resposta de Lessa não poderia ser mais cândida: «[negros e brancos eram os óbvios]… todos os outros eram considerados mestiços» (1957: 95). A discussão prossegue num tom desorganizado, mas demonstrativo da agenda de curiosidades dos presentes, como por exemplo a possibilidade de se saber quais as tribos (sic) de África com influência em Cabo Verde, ou a possibilidade de estabelecer homologias entre os estudos da mestiçagem no Brasil e em Cabo Verde. Mas a primeira reunião termina com a invocação da antropologia cultural americana – quer directamente, quer através da influência Boasiana no Brasil – como particularmente adequada para pensar, simultaneamente, na formação mestiça cabo-verdiana, para negar o racismo e estabelecer a distinção “raça”-cultura, e para incorporar esses contributos na história cultural portuguesa colonial como sua concretização. É assim que a reunião termina com uma curiosa intervenção. Nela, diz Teixeira de Sousa, médico cabo-verdiano: «…os antropo-sociologistas norte e sul-americanos, Van Boas [Boas?], Lescowicz [Herskovits?], Gilberto Freire, Artur Ramos, consideram que em todos os casos de contacto [há três resultados possíveis:] a aceitação … a adaptação … a reacção. De tal sorte que impossível é hoje falarmos de culturas puras (…) quere-me parecer que nenhum povo sofreu mais do que o povo africano as consequências do contacto com culturas heterogéneas, portadoras da triste mensagem da escravidão (…) Dessa fase de tamanha desumanidade em que se ocuparam tanto tempo alguns países civilizados resta-nos a nós, Portugueses, a consolação de não só não termos sido os piores, como de havermos sido os primeiros a decretar a abolição da escravatura nos nossos domínios (…) Se nós, os Portugueses, também tínhamos de participar nos acontecimentos da época, todavia as coisas nunca se passaram entre nós como em outras latitudes. Na nossa História de Colonização… predominou a adaptação» (1957: 101-102).
Nesta intervenção, por um médico cabo-verdiano que se identifica como português, está contida a tensão fundamental dos processos de crioulização e dos projectos de crioulidade: a violência e a desigualdade extremas como formadoras de sociedades que se retratam como cadinhos de uma nova humanidade, através da apropriação de conceitos antropológicos gerais aplicados a Histórias particulares tidas por excepcionais por parte de elites vivendo um conflito identitário marcado pela tensão política colonial.Sobre isso falarei mais adiante.
A segunda reunião
Para Lessa o segundo encontro corresponde à segunda parte de uma divisão disciplinar: depois do “sangue”, o “espírito”; depois da antropologia biológica, a antropologia cultural; depois da autoridade científica positiva e universal, a autoridade das elites letradas locais e localizadas. O mote é dado desta feita não com base numa prelecção, mas sim em duas referências de leitura inspiradoras. A primeira – La Civilisation Européene Occidentale et l’ École, de 1955, «constitui o chamado manifesto do Pacto de Bruxelas e é a primeira tentativa de uma didáctica da cultura europeia acima dos planos nacionais» (1957:107). A segunda – L’ Originalité des Cultures. Son Rôle dans la Compreension Internationale, de 1953, e publicada pela UNESCO – é um «manifesto assinado por um grupo de intelectuais, entre eles dois brasileiros – Sérgio Buarque de Hollanda e M. Castro Leal – e constitui uma tentativa para encontrar na diversidade das culturas dos povos brancos e dos povos de cor uma unidade e uma base de confronto» (1957: 107).
 Colocando-se na posição de quem vai, desta feita, «escutar em vez de fazer-se ouvir», Lessa fá-lo a partir desta premissa globalizante da construção da unidade europeia e do diálogo internacional com o “Terceiro Mundo”, sobre o pano de fundo do carácter ecuménico da “civilização ocidental”. Este ponto parece-me interessante, pois claramente coloca Cabo Verde – e por metonímia as sociedades crioulas – no lugar de plataforma de encontro e lugar de observação privilegiado (e, considerando o contexto, o mundo colonial português supostamente miscigenado como projecto político-cultural consubstanciável em Cabo Verde). A intervenção inicial é de Baltasar Lopes: «…eu não vejo oportunidade nem razão para se falar numa civilização cabo-verdiana … por um ponto de vista que é meu e de muita gente: porque não temos uma civilização específica, teremos traços regionais. Nós estamos mais aproximados do tipo português de cultura do que talvez suponhamos (…) Teremos caracteres regionais, como acontece com o minhoto, com qualquer provinciano da metrópole (…) O Sr. Dr. Almerindo, como aliás Gilberto Freire, o Archibald Lyall, o Santana, o Chevalier, ter-se-ão impressionado … pelo aspecto exterior. Notam uma população na sua maioria de aspecto negróide, … paisagens que não estão de acordo com o que cá se faz, com o que se traz de fora. Por outro lado, o baixo teor de vida: indivíduos mal trajados, mal alimentados, com uma deficiente assistência médica. Isso, é claro, desnorteia e dá uma impressão falsa do nível a que esta população chegou…» (1957: 113-114).
Colocando-se na posição de quem vai, desta feita, «escutar em vez de fazer-se ouvir», Lessa fá-lo a partir desta premissa globalizante da construção da unidade europeia e do diálogo internacional com o “Terceiro Mundo”, sobre o pano de fundo do carácter ecuménico da “civilização ocidental”. Este ponto parece-me interessante, pois claramente coloca Cabo Verde – e por metonímia as sociedades crioulas – no lugar de plataforma de encontro e lugar de observação privilegiado (e, considerando o contexto, o mundo colonial português supostamente miscigenado como projecto político-cultural consubstanciável em Cabo Verde). A intervenção inicial é de Baltasar Lopes: «…eu não vejo oportunidade nem razão para se falar numa civilização cabo-verdiana … por um ponto de vista que é meu e de muita gente: porque não temos uma civilização específica, teremos traços regionais. Nós estamos mais aproximados do tipo português de cultura do que talvez suponhamos (…) Teremos caracteres regionais, como acontece com o minhoto, com qualquer provinciano da metrópole (…) O Sr. Dr. Almerindo, como aliás Gilberto Freire, o Archibald Lyall, o Santana, o Chevalier, ter-se-ão impressionado … pelo aspecto exterior. Notam uma população na sua maioria de aspecto negróide, … paisagens que não estão de acordo com o que cá se faz, com o que se traz de fora. Por outro lado, o baixo teor de vida: indivíduos mal trajados, mal alimentados, com uma deficiente assistência médica. Isso, é claro, desnorteia e dá uma impressão falsa do nível a que esta população chegou…» (1957: 113-114).
Se Lessa pode caricaturalmente ser retratado como o médico e investigador colonial em trânsito pelas ilhas, Baltasar Lopes é, sem dúvida, a figura chave da formação intelectual cabo-verdiana engajada na construção de uma identidade nacional – ou, a julgar pelas suas palavras, regional… Quem é ele? Comecemos pelo célebre episódio dos amores e desavenças entre Gilberto Freire e Baltasar Lopes.
Segundo a brilhante análise de Osvaldo Silvestre (2002), Freire, no decurso do seu périplo pelo Império português como convidado do regime, desembarca em Cabo Verde depois de uma visita à Guiné Portuguesa. Nessa colónia «Freire encontra um dos vértices do seu Atlântico Negro, o qual, após o trabalho inicialmente liderante do vértice luso, geraria a democracia racial do vértice brasileiro» (2002: 85). O Brasil visto como síntese do processo histórico, não pode deixar lugar para Cabo Verde como exemplo semelhante, ao contrário do que os intelectuais da Claridade (a revista que deu nome ao movimento protagonizado, entre outros, por Baltasar Lopes), e desde logo Baltasar Lopes, propugnavam, a partir de uma leitura e apropriação das ideias de Freire: «…o lugar de Cabo Verde é problemático porque excedentário: nenhuma mestiçagem aí realizada poderia superar o valor de exemplo do grande caldeirão brasileiro» (Silvestre, 2002: 86).
 O que Freire tenta fazer em Aventura e Rotina é remeter Cabo Verde para semelhanças com as Caraíbas, especialmente Martinica e Trinidad, «ilhas em que as populações fossem predominantemente africanas na cor, no aspecto e nos costumes, com salpicos, apenas, de influência europeia» (s.d.: 240, in Silvestre, 2002: 86). A corroboração disso seria, na interpretação de Freire por Silvestre, o idioma crioulo. Silvestre chama a atenção para uma passagem de Freire por ser reveladora do seu modelo de mestiçagem: «Procuro notar nos meninos de escola e de liceu o que o seu aspecto pessoal parece exprimir da estética de miscigenação nesta ilha: uma ilha em que o europeu puro está hoje em tal minoria que é como se fosse um intruso» (Freire s.d.: 249, in Silvestre, 2002: 87). Outras observações de Freire são resumidas por Silvestre. Desde logo, a falta de «stocks europeus» na mestiçagem teria levado a uma entropia identitária, pois o cabo-verdiano teria perdido o melhor das origens africanas sem que pudesse aspirar a uma cultura de dominância europeia – o que redundaria em indivíduos envergonhados das origens africanas; a língua crioula, a fraqueza do artesanato e da culinária própria seriam sinais disso mesmo; pelo que, conclusivamente, a mestiçagem não teria originado em Cabo Verde uma «terceira cultura, caracteristicamente cabo-verdiana» (s.d.: 251, in Silvestre, 2002: 87).
O que Freire tenta fazer em Aventura e Rotina é remeter Cabo Verde para semelhanças com as Caraíbas, especialmente Martinica e Trinidad, «ilhas em que as populações fossem predominantemente africanas na cor, no aspecto e nos costumes, com salpicos, apenas, de influência europeia» (s.d.: 240, in Silvestre, 2002: 86). A corroboração disso seria, na interpretação de Freire por Silvestre, o idioma crioulo. Silvestre chama a atenção para uma passagem de Freire por ser reveladora do seu modelo de mestiçagem: «Procuro notar nos meninos de escola e de liceu o que o seu aspecto pessoal parece exprimir da estética de miscigenação nesta ilha: uma ilha em que o europeu puro está hoje em tal minoria que é como se fosse um intruso» (Freire s.d.: 249, in Silvestre, 2002: 87). Outras observações de Freire são resumidas por Silvestre. Desde logo, a falta de «stocks europeus» na mestiçagem teria levado a uma entropia identitária, pois o cabo-verdiano teria perdido o melhor das origens africanas sem que pudesse aspirar a uma cultura de dominância europeia – o que redundaria em indivíduos envergonhados das origens africanas; a língua crioula, a fraqueza do artesanato e da culinária própria seriam sinais disso mesmo; pelo que, conclusivamente, a mestiçagem não teria originado em Cabo Verde uma «terceira cultura, caracteristicamente cabo-verdiana» (s.d.: 251, in Silvestre, 2002: 87).
Em 1956, o mesmo ano da mesa redonda, Baltasar Lopes publicava o texto Cabo verde visto por Gilberto Freire, com base em apontamentos lidos ao microfone da Rádio Barlavento, como consta do subtítulo. Nele, Lopes enuncia toda a apropriação das ideias de Freire e a expectativa da sua visita às ilhas e corroboração do modelo interpretativo da Claridade. Diz Silvestre: «Significativo desejo, este pelo qual o crioulo anseia pelo antropólogo que de si faça o nativo que a crioulização de vários modos problematiza, na medida em que o afasta de uma origem situável e definível como tal (como nativa). De facto, nestas palavras Baltasar dá voz ao cronótopo e à mitologia da mais clássica antropologia modernista, aquela que vive do desdobramento de toda uma série de estratégias de localização e enraizamento». (Silvestre, 2002: 89)
Este é também o tema de preocupação das mesas redondas dirigidas por Lessa. Como o será na voz de informantes membros das elites cabo-verdianas, quando questionados, já no ano 2000, por Fernando Barbosa Rodrigues: ao desejo de que alguém produza pesquisas que localizem e definam raízes para os vários apports que contribuíram para a crioulização, ajudando assim a definir um nativismo especificamente cabo-verdiano. Baltasar Lopes responderia a Freire reafirmando-o, e enfatizando a separação entre “raça” e cultura (Lopes, 1956: 16), acusando assim Freire de ter feito uma confusão entre as duas, apesar dos ensinamentos de Boas de que se reivindicava herdeiro. Lopes acusa este lapso de ser mais próprio de turistas que de antropólogos (acusando assim, também, a superficialidade da visita de dez dias de Freire). Lopes reconhece a diluição da África em Cabo Verde, o que era, aliás, uma parte fundamental do ideário da Claridade, e pergunta-se: «Pela cabeça de quem, medianamente informado das coisas de Cabo Verde, é que passa que o cabo-verdiano é mais africano do que português? (1956: 14). Fiquemo-nos por aqui, por enquanto, para regressarmos à mesa redonda e deixando uma análise da Claridade – e das contestações dela – para mais tarde.
Interessa-nos reter que estamos, na mesa redonda de 1957, perante um Baltasar Lopes que já reagiu às observações de Freire sobre Cabo Verde. Imediatamente na sequência da intervenção inicial de Lopes na mesa redonda, Júlio Monteiro complementa as suas observações: «…desses dois extremos rácicos, postos em contacto um com o outro, dessa miscigenação, nasceu um tipo próprio, plástico, maleável, que ligou perfeitamente os dois povos: o elemento crioulo. Esse elemento crioulo difundiu-se. Houve a transmissão de poderes, lenta mas verdadeira; os colonizadores, que eram brancos, detentores da terra e do mando, a pouco e pouco foram perdendo essas terras e o poder que eles tinham passou cumulativamente, mas com segurança, exactamente para a raça que eles tinham procriado. Nestas deu-se a valorização, aquilo que Gilberto Freire chamou a ascensão do mulato, aquilo que [Almerindo Lessa] chama aristocratização … o mestiço havia de tender para aquele que maior influência social tinha e tendeu para o europeu (…) O paradigma da nossa evolução foi a própria metrópole…» (1957: 115-116).
A conclusão provisória de Monteiro, corroborado pelos presentes, é de que não existe uma civilização cabo-verdiana, mas sim um processo de imitação. A questão fica suspensa com a introdução da segunda pergunta, sobre as relações tidas por óbvias entre «sensualidade» e criação artística e entre «sensualidade» e africanidade, para resolver o enigma da suposta ausência de uma Arte cabo-verdiana. Lopes é de novo o primeiro a intervir para dizer que leu algures que, ao contrário do que se pensa, o africano «não é portador de uma sexualidade acentuada» (p. 120), o que leva Lessa a intervir a partir da autoridade de naturalista: «O problema da sensualidade fraca do africano tem uma explicação puramente fisiológica. A intensidade sexual física de um negro…. é inferior à de um branco» ( p. 120-1). E concorda com uma alusão feita por Lopes ao sexólogo Havellock Ellis sobre o carácter sexualmente compensatório das danças «orgiásticas» e «sensuais»: «Creio que a dança (…) representa um expediente ou uma sublimação; ou um acto preliminar de excitação compensatória… Eu encontro que, na actividade paralela à vida sexual, a dança e a música que eu vi e ouvi na Ribeira de Julião – o “Cola São João” – são, nitidamente, atitudes eróticas preliminares de conquista, de posse» (p. 120-121). Esta discussão sobre sexualidade e sensualidade liga-se à discussão sobre o carácter sexuado – e de género – da própria miscigenação. Daniel Tavares refere o rifão popular “Quem tiver paciência acaba por ter filho branco” para comentar a afirmação de Lessa sobre a suposta facilidade com que uma rapariga está disposta a ser mãe. A incidência da ilegitimidade é justificada, pelos presentes, pelo carácter deserto das ilhas nos primeiros tempos e pelas crises cíclicas de fome, sendo a ilegitimidade e a maternidade precoces vistas como mecanismos de adaptação por parte das mulheres que, assim, não podem ser acusadas de “desordem sexual ou moral”.
Na terceira pergunta, sobre a “indolência”, Lessa faz a ligação entre a expectativa deste comportamento e as origens raciais, remetendo para o célebre caso da bacia do Sado em Portugal: «…recordei-me de uma experiência de leitura colhida por mim nos escolares da bacia do Sado. Em 1937, ao preparar uma tese para um Congresso Internacional de Medicina Escolar … encontrei como referência quase permanente dos professores dos liceus que ficavam ao sul do Sado que os estudantes eram mais inactivos, mais preguiçosos e com menor comportamento escolar do que aqueles que viviam acima do Sado … Não era fácil encontrar uma explicação … porque o fenómeno era anual, sistemático e de todas as classes. E como em todos os livros que estudam o homem negro vêm referências psicomentais semelhantes… sabendo eu da existência de uma raiz negra na bacia do Sado … Essa hipótese foi muito criticada». (1957: 133)

Este compactar algo caótico de questões – arte, sensualidade, sexualidade, indolência e negritude – parece-nos hoje quase risível. Todavia, é preciso realçar o quanto as definições raciais de negritude se baseiam (e ainda hoje, no senso comum) em características da corporalidade e da sensorialidade. Que Lessa invoque a célebre polémica da Bacia do Sado sem se aperceber que a sua validade é questionada pela prévia identificação da negritude dos habitantes locais, é sintomático da prevalência de formas essencialistas de abordar o real. Para todos os efeitos práticos, estes tópicos de discussão na mesa redonda tinham um objectivo específico: identificar o grau de negritude e nela situar a raiz de alguns “problemas”, ultrapassáveis por um trabalho pedagógico e eugénico de branqueamento.
Na quarta pergunta, sobre o estatuto do crioulo, as reacções não são extremadas, mas antes giram em torno do consenso sobre a validade do crioulo como dialecto regional. Baltasar Lopes diz que a vitalidade do crioulo dá-lhe a possibilidade de responder positivamente a um problema posto por ele e por Osório de Oliveira, em 1936: «será o crioulo uma língua?» (1957: 137). Lopes qualifica-a como língua regional e não de civilização, mas com todas as características e possibilidades de uma língua, ao que Lessa acrescenta: «Eu já conhecia algumas das crónicas radiofónicas em que contestou um ou outro pormenor da crítica de Gilberto Freire a propósito do crioulo e tinha lido na Claridade o seu magnífico trabalho sobre “Uma experiência românica nos trópicos”» (1957: 138).
Saltando a quinta e sexta perguntas, que não estão no âmbito das preocupações do presente texto e tão pouco são muito desenvolvidas pelos intervenientes, a conclusão de Lessa permite-me fazer a ponte para o que se segue: «Tentei fazer um inquérito… mas um pequeno inquérito para uso pessoal, para que eu não fosse informar tão mal de Cabo Verde como outros têm feito… todos procuraram afincadamente responder pela negativa à maior parte das perguntas… A maior divergência foi, sem dúvida, a respeito da existência de uma civilização cabo-verdiana … residiu sobretudo no diferente conteúdo que cada um pôs dentro da palavra civilização … eu concluo … que existe pelo menos uma tentativa de civilização regional, que falta talvez compreender no seu sentido final: civilização no sentido Ocidental, no sentido Africano ou porventura no sentido que hoje damos à nossa civilização: euro-africana…» (1957: 149).
Primeiro passo analítico
A viagem de Lessa procura identificar percursos de raízes: de onde vêm aqueles mestiços que simultaneamente perturbam a ordem da dicotomia branco-negro e servem de exemplo para a miscigenação do projecto lusotropical? Trata-se, por assim dizer, de um não-racismo com raças, pois é colocável a meio caminho entre a raciologia antimiscigenadora de Tamagnini e Mendes Correia, por um lado, e o anti-racismo nosso contemporâneo, que nega a própria existência das “raças”, por outro. O operador desta mudança é o luso-tropicalismo e a aceitação da distinção Boasiana entre “raça” e cultura. Esta distinção é, todavia, e tal como em Freire, constantemente mediada pela ideia de civilização e pelo projecto moderno e antropológico de procurar a identificação étnico-nacional, pela simultânea definição de raízes e etnogéneses com capacidade de serem localizadas em territórios discretos, definidos por especificidades culturais cuja identificação estaria ao alcance da etnografia. Turista e antropólogo acidental como já Freire o fora, Lessa tenta fazer a mediação “raça” – cultura auscultando os definidores por excelência da “civilização” (leia-se “cultura”) local. Estamos, aqui, perante um processo extremamente ambíguo, pois a definição da identidade cabo-verdiana não podia, politicamente, ser uma definição etno-nacional, mas apenas regional, branqueada da sua característica colonial de modo a surgir como projecto ecuménico lusotropical. Em primeiro lugar os convidados são, por um lado, intelectuais locais, e, por outro, ocupantes de cargos administrativos ou clínicos. A esmagadora maioria são funcionários locais, isto é, cabo-verdianos e não membros de um corpo científico colonial de assento metropolitano. Deve-se isto, com certeza – e à semelhança de processos de tipo equivalente, como os médicos de Goa analisados por Cristiana Bastos – ao carácter ambíguo da localização de Cabo Verde no Império na época de triunfo do luso-tropicalismo como ideologia: a possibilidade de Cabo Verde ser a instância de concretização da miscigenação, como território onde não se aplica o indigenato por assunção por defeito de uma assimilação concluída; como território onde as elites podem falar enquanto “portuguesas”. Por isso a discussão não segue argumentos de tipo colonial, de identificação de África, mas sim de identificação de origens, permitindo deslocar o campo discursivo da coisa colonial para a coisa regional, evitando o perigo de chegar à coisa nacional. Torna-se, por isso, evidente, a mútua constituição destes dois campos discursivos, assim como a mútua constituição dos saberes das elites locais e dos saberes das elites especializadas nos assuntos coloniais. Lessa e Lopes, o metropolitano e o cabo-verdiano – aqui como figuras exemplares – encontram-se perfeitamente, através da mediação lusotropical. Os objectos de espanto são os mesmos: o mestiço no sentido racial e o miscigenado ou crioulo no sentido cultural; o nascimento ou não de uma civilização terceira, com o problema do predomínio ou não de uma das componentes; a aferição das características africanas (como a temática da sexualidade e da indolência); e a verificação da validade do precipitado cultural por excelência, com base no paradigma classificatório etnolinguístico – a língua crioula.
A narrativa que, simultaneamente, o antropobiólogo, os intelectuais orgânicos locais definidores da etnogénese, o apoio teórico do lusotropicalismo e a própria política colonial da época constroem retroactivamente, usando Cabo Verde como plataforma semântica, pode ser resumida do seguinte modo:
1) As ilhas desertas são ocupadas por portugueses e escravos oriundos de África, ficando assim estabelecida a noção de terra de ninguém, de tábua rasa e de génese do novo absoluto.
2) As relações entre senhores e escravos são necessariamente racializadas como relações entre brancos e negros e culturalizadas como relações entre europeus e africanos.
3) O produto dessas relações tem uma dimensão corporal / racial e uma dimensão cultural. Ambas são consubstanciadas na figura dos produtos reprodutivos de uniões entre homens europeus brancos em situação de ascensão e mulheres africanas em situação de submissão.
4) Este modelo encontra a sua inspiração na narrativa freiriana sobre o nordeste brasileiro colonial da formação social do engenho (ou plantação).
5) O produto – o mestiço ou o mulato – é construído como intermediário racial e cultural que vai, ao longo do tempo, proliferando-se e tomando lugares de maior destaque na sociedade, um dos quais será o de intermediário no próprio império.
6) Neste processo, mesmo que haja predomínio fenotípico da raiz africana, o predomínio cultural é português, pelo que a formação cultural gerada em Cabo Verde seria um regionalismo.
7) Este regionalismo é visto como uma das variações possíveis de uma civilização euro-africana ou lusotropical, que seria o desígnio histórico de Portugal e da sua vocação expansionista e colonial.
8) Esta civilização do mestiço tem todas as características do “novo”: é metaforizada como “jovem” (nos sentidos positivo e negativo), como estando em construção, como tendo um desígnio que é visto como positivo. Daí o malestar que coloca a contestação do facto por Freire em relação a Cabo Verde por oposição ao Brasil.
Esta narrativa tem autores: são eles, em primeiro lugar, o Gilberto Freire lusotropicalista; em segundo lugar, o aparato de saberes coloniais, da medicina à antropologia, passando pela sua zona intermédia de sobreposição, a antropologia física; em terceiro lugar, o aparato de saberes em torno da definição da nacionalidade portuguesa; em quarto lugar, os intelectuais orgânicos de Cabo Verde. Trata-se não de um Atlântico Negro no sentido de Gilroy, mas de um Atlântico cinzento, em que interesses e visões do mundo de elites se encontram. Esta narrativa tem um tempo: trata-se da época da redefinição do colonialismo português e da definição crescente das especificidades locais das colónias no sentido da autodeterminação; trata-se ainda do tempo do começo das descolonizações e do cânone modernista na antropologia, através quer do relativismo inerente às definições de unidades culturais e etnolinguísticas localizadas, quer em relação à distinção entre “raça” e cultura.
O que Lessa e os seus interlocutores fazem é, desde logo, garantir a clivagem em relação ao modelo raciológico anterior, personificado por Tamagnini e Mendes Correia e pela política imperial anti-miscigenadora. Num segundo movimento conceptual, aceitam a existência e o valor heurístico de “Raça”, mas limitam a sua aplicação aos três tipos, e recusam liminarmente a confusão entre “raça” e nação. Isto deixa-os com o problema da cultura (glosada quer como psicobiologia quer como civilização). No contexto do colonialismo, a questão está em definir os limites da especificidade e o âmbito da inclusão. Daí a importância da noção de civilização regional: diferente, mas pertencendo ao mesmo todo em que Portugal é a fonte inspiradora.
A preocupação com a definição das diferentes origens africanas ou europeias no “sangue” é mais do que mero resquício de um pensamento raciológico ou de justaposição entre população e cultura. Trata-se de um recurso metafórico para poder falar da importância da cultura e que se resumiria na ideia de Lopes de que apesar de o aspecto exterior poder até ser predominantemente africano, a cultura mestiça é especialmente portuguesa. É assim que o mestiço se confunde com o crioulo. Isto é, com o filho da terra, portador de uma expressão linguística própria e híbrida, mas enraizada no português. Este mestiço crioulo é o jovem resultado de uma experiência histórica portuguesa, metaforizada na experiência românica nos trópicos ao nível linguístico.
Lessa e os interlocutores não podem ser liminarmente acusados de elidirem os processos de sexualidade e género, classe e estatuto, mercadorização e escravatura que estão na génese do processo da crioulização e que se reproduziram mesmo depois da abolição da escravatura ou de sucessivas modificações no sistema colonial. Isto porque o seu foco de interesse é no produto cultural do processo de encontro, independentemente dos juízos de valor sobre as etapas que a ele conduziram. Mas é nessa elisão que radicam muitos dos malentendidos do elogio e expectativas da crioulização.
continuar a ler:
O Projecto Crioulo - Cabo Verde, colonialismo e crioulidade (Parte II e III)
O Projecto Crioulo - Cabo Verde, colonialismo e crioulidade (Parte IV)