A indecência funcional e a violência discursiva na era pós-colonial
A política democrática parece ter sido capturada por uma prática discursiva que dispensa ideologia robusta, prescinde de coerência argumentativa e produz efeitos desproporcionais com investimentos discursivos mínimos. Essa prática, que aqui designo como indecência funcional, não deve ser confundida com má-educação, nem com grosseria pessoal ou desvios morais ocasionais. Ela constitui um método político, uma técnica de mobilização emocional que opera através da suspensão deliberada das normas mínimas da convivência democrática. A indecência é funcional porque é eficiente. Produz atenção, irritação, amplificação e polarização a custos quase nulos. E por ser tão eficaz na redução da política ao teatro da ofensa, ela tornou-se uma das forças mais potentes na esfera pública contemporânea.
A tendência generalizada de etiquetar figuras políticas como racistas, fascistas ou supremacistas, embora muitas vezes justificada, corre o risco de obscurecer o facto de muitos destes actores não dependem de convicções estruturadas, nem de visões de mundo coerentes. O que os move não é a ideologia, mas a técnica. E, no campo da técnica, a indecência tem uma lógica instrumental simples que consiste na ideia de que quanto mais se recua frente à ofensa, mais a ofensa se torna regra e quanto mais se responde com irritação, mais se alimenta o mecanismo que a indecência pretende activar. Estamos, portanto, perante um fenómeno que merece ser estudado não pela via da indignação moral, mas pela análise sociológica do estilo político.
O caso luso-angolano que recentemente mobilizou debates públicos ilustra de modo exemplar este fenómeno. A afirmação historicamente banal de que o colonialismo atrasou Angola – feita pelo Presidente angolano – tornou-se, nas mãos do líder do CHEGA, um palco ideal para uma “performance” de ressentimento dirigida ao eleitorado português. O seu objectivo não era corrigir factos, mas transformar a memória colonial portuguesa na fantasia reconfortante segundo a qual Portugal teria sido generoso, civilizado e injustamente acusado pelos ingratos africanos.
A antropóloga Gloria Wekker chamou a isto de “inocência branca”, portanto, a narrativa segundo a qual o país colonizador, embora tenha exercido domínio, o fez com pureza moral, como se a violência fosse acidente e não estrutura. Ventura, como muitos populistas europeus, não precisa de acreditar sinceramente nessa fantasia. Basta-lhe mobilizá-la como lente emocional através da qual o seu público interpreta qualquer crítica histórica. A indecência aqui consiste não em negar o colonialismo, mas em explorá-lo como teatro da humilhação voluntária do tipo “os africanos falam mal de nós porque beneficiaram sem reconhecer”. Esta inversão, que transforma a violência histórica em gesto paternal, é a forma mais barata de produzir orgulho identitário num eleitorado inseguro.
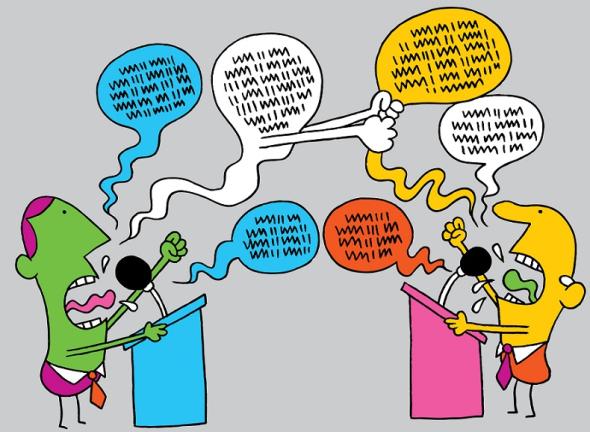
Do lado angolano, a resposta institucional contribuiu inadvertidamente para o espectáculo. Ao reagir com irritação e indignação, o Estado angolano confirmou o que a indecência desejava produzir, nomeadamente uma conflagração emocional que passou a ocupar o espaço da análise. A TPA, ao rebaixar-se ao nível da caricatura, reforçou o guião populista, oferecendo ao indecente funcional exatamente o que ele procurava, isto é, antagonistas que o legitimam ao demonstrar que ele lhes provoca desconforto. A indecência funciona porque desorganiza a racionalidade institucional do interlocutor. Quanto menos o Estado se contém, mais ele se expõe. Essa dinâmica explica porque é que, apesar de aparentemente frágil, o estilo indecente avança, não porque vence no plano das ideias, mas porque domina o ritmo emocional do debate.
Tenho em mim que o conceito se revela particularmente útil para repensarmos discussões sobre racismo e fascismo. Ao chamarmos um político de racista, estamos a supor que o seu discurso assenta em crenças sobre inferioridade biológica, cultura ou civilização. Em muitos casos, porém, a lógica é menos profunda e mais perigosa, pois o indecente utiliza o tema racial porque ele produz clivagem emocional instantânea. O seu discurso não se dirige a um “outro racializado”, mas a um “público imaginado” que precisa de sentir-se lesado. A figura do imigrante, do negro, do cigano ou do africano não é alvo, mas sim instrumento. A política deixa de ser o espaço da disputa sobre princípios e torna-se uma economia de afectos. O indecente é, portanto, alguém que não sente o menor embaraço em humilhar o que for preciso para produzir reacções. O cinismo é total. Se amanhã a xenofobia deixasse de render dividendos, ele encontraria outro alvo com a mesma eficiência emocional.
No que diz respeito ao fascismo, a confusão é semelhante. Etiquetar certos comportamentos como fascistas pode ser necessário, e há realmente práticas contemporâneas que ecoam o autoritarismo dos anos 1930, mas reduzir figuras indecentes a fascistas é oferecer-lhes capital político que não possuem. O fascismo implicou um projecto total, sustentado por ideologia, militância, culto da força e visão orgânica de nação. A indecência funcional, ao contrário, é ideologicamente vazia. Não precisa de mobilizar Estado, massas ou símbolos épicos. A sua força reside no contrário, a saber, na fragilidade emocional do público, que troca estabilidade interpretativa por catarse. O indecente profissional não quer instaurar uma ordem nova. O que ele quer é apenas capitalizar a desordem afectiva que cria. Enquanto o fascismo aspirava a totalizar a sociedade, a indecência aspira a saturar a esfera pública com ruído moral.
A indecência política é, por isso, uma forma de analfabetismo moral deliberado. Ela não falha em compreender. Recusa simplesmente compreender, porque sabe que a incompreensão rende mais. E aqui, justamente, um olhar histórico mais longo, como o de Norbert Elias – um sociólogo alemão – ajuda-nos a compreender a profundidade desta regressão. No processo civilizacional, Elias mostra que a sociabilidade moderna assenta na internalização gradual do autocontrolo dos afectos. A boa educação não é ornamento, mas sim uma espécie de tecnologia de convivência. É através da contenção dos impulsos, da modulação da agressividade e da capacidade de adiar a resposta emocional que os indivíduos se tornam socialmente fiáveis. A civilidade é, neste sentido, uma conquista frágil, sempre ameaçada e sempre em disputa. Mas o projecto colonial europeu introduziu uma distorção decisiva que consistiu nos colonizadores exigirem de si elevados padrões de autocontrolo na relação entre pares europeus, mas suspensão desses padrões na relação com os povos colonizados. Os africanos tornavam-se, na prática, destinatários duma versão amputada da civilidade moderna. O colonizador acreditava-se dispensado da contenção que definia a sua própria auto-imagem.
Com as independências africanas e a democratização formal das relações internacionais, muitos europeus viram-se subitamente obrigados a estender à relação com os antigos colonizados aquilo que nunca haviam universalizado verdadeiramente, nomeadamente, as boas maneiras, o respeito mútuo, a contenção emocional. Este alargamento da esfera da civilidade produziu tensões subtis. A igualdade normativa exigia um trabalho ético que nem todos estavam dispostos a realizar. Para quem carregava, mesmo inconscientemente, a convicção residual da superioridade europeia, a nova exigência de civilidade para com africanos e imigrantes não representava progresso, mas uma forma de opressão simbólica, uma limitação das suas “liberdades emocionais”. Muitos sentiram, e ainda sentem, que lhes foi retirada a permissão histórica para tratar o outro com desdém ou condescendência, permissão essa que o colonialismo naturalizara. Elias ajuda-nos a ver que a reacção contemporânea não é mera intolerância. Ela é, na verdade, a recusa de ampliar o espaço da civilidade para além do círculo identitário europeu.
A indecência funcional ganha terreno aqui mesmo. Ela oferece uma libertação emocional a quem nunca se reconciliou com os imperativos normativos do processo civilizacional e que consistem na contenção, no respeito, no autocontrolo e na reciprocidade quando estes são aplicados de modo universal. A indecência funciona como dispositivo de desinibição ao permitir dizer o que antes não se podia dizer, insultar quem antes se tinha de tratar de forma igual, romper com a coerência moral que Kant exigia quando formulou o imperativo categórico. Ao invés de agir segundo máximas que se gostaria que fossem universais, o indecente actua segundo máximas que só funcionam se a universalidade for recusada, isto é, que só fazem sentido se o outro for desqualificado como destinatário legítimo da moralidade. A indecência funcional é, portanto, não só um estilo retórico, mas acima de tudo uma rejeição activa da civilidade moderna, uma forma de contra-processo civilizacional que se apresenta como autenticidade, mas que no fundo é nostalgia por um tempo em que a hierarquia racial dispensava o autocontrolo. Aquilo que por vezes se descreve como racismo ou fascismo é, no fundo, a parte visível dum movimento mais profundo de reversão das pressões civilizacionais para restabelecer impulsos que o colonialismo permitiu praticar impunemente.
Para ultrapassar isto, precisamos de reorganizar a morfologia da nossa própria reacção. A pergunta relevante já não é: “ele é racista?” Nem sequer: “ele é fascista?” A pergunta é outra: que estilo político permite que o racismo e o fascismo sejam teatralizados sem compromisso ideológico profundo? A indecência funcional é essa ponte. Ela permite que discursos extremos circulem sem que quem os vocaliza se comprometa com a ideologia que aparentam carregar. É a mesma lógica que permite que a frase mais ofensiva seja dita com a desculpa da franqueza, da autenticidade ou mesmo da coragem. O indecente não acredita necessariamente no que diz, e isso torna a crítica ideológica insuficiente. Criticar um indecente pela via da ideologia é como tentar calar um comediante analisando a coerência do seu argumento. Perde-se o alvo.
A alternativa está em reconstruir a esfera pública como espaço de responsabilidade discursiva. Fabien Eboussi Boulaga insistia que «Si l’on veut survivre, il faut vraiment philosopher !», uma convocação para romper com o hábito colonial de pensar através de categorias importadas. Situar a noção de indecência funcional nesse horizonte é reconhecê-la como tentativa de pensar politicamente a partir de nós, e não apenas sobre nós. Ao nomear este estilo político, faço aquilo que Boulaga entendia como o acto filosófico por excelência, a saber, construir as categorias que nos permitem sobreviver com lucidez no presente. Isso coloca sobre os Estados, instituições e cidadãos a exigência de prática de aprenderem a distinguir entre confronto intelectual e provocação instrumental. A crítica histórica ao colonialismo, por exemplo, deve ser feita com serenidade e densidade conceitual, não como reflexo emocional a populistas que instrumentalizam a história para ganhos eleitorais internos. É preciso compreender que a reacção emocional é o combustível da indecência funcional. Quanto mais nos escandalizamos, mais força lhe damos. O antídoto é a compostura institucional, a repetição paciente dos factos e a recusa em transformar ofensa em espetáculo. A maturidade democrática consiste precisamente em não confundir barulho com ameaça.
Esta não é uma defesa de neutralidade moral, antes pelo contrário! A indecência funcional deve ser denunciada, mas pelo que ela é, isto é, uma técnica, e não uma essência. Quando a compreendemos como estratégia, deixamos de cair na sua armadilha. Por exemplo, não é necessário demonstrar que Ventura “é” racista para desarmar o seu discurso. Basta expor a instrumentalização cínica que ele faz da sensibilidade racial portuguesa. Não é necessário provar que ele “é” fascista. Basta mostrar que o seu projecto não é autoritário, mas oportunista porque vive do ressentimento e não duma visão para a sociedade. Este deslocamento analítico é crucial, porque nos permite operar fora da lógica emocional que a indecência nos impõe.
No fundo, a questão é como reconstruir espaços de interlocução entre sociedades marcadas pelo passado colonial e atravessadas por populismos que exploram cicatrizes históricas. A resposta começa por um duplo trabalho. Do lado dos antigos Estados colonizadores, é urgente uma alfabetização histórica que desfaça a mitologia da inocência. Isso implica enfrentar o colonialismo como violência estrutural e não como mágoa sentimental. Do lado dos Estados africanos, é necessário fortalecer a autoridade moral interna, pois só um país reconciliado consigo mesmo pode afirmar a sua verdade histórica com serenidade no exterior. Quando um Estado não controla a sua narrativa interna, também não controla a externa e é neste intervalo que os indecentes prosperam.
O combate que vale a pena travar não é contra indivíduos indecentes, pois eles existirão sempre, mas contra as condições que transformam a indecência em método político eficaz. Essas condições incluem a fragilidade institucional, o ressentimento histórico, a pobreza de imaginação política e a incapacidade colectiva de distinguir provocação de argumento. A democracia exige uma ética mínima de convivência discursiva. Quando essa ética falha, a política degenera na performance moral que os indecentes dominam tão bem.
Para revertermos este processo, precisaremos de resgatar o espaço público como lugar de responsabilidade e não de descarga emocional. Isso implica desaprender muito do que o colonialismo nos ensinou. Portugal precisa de desaprender a nostalgia da inocência imperial e Angola (Moçambique, Guiné, etc.) precisa(m) de desaprender a tentação de responder emocionalmente ao populismo. E nós, observadores da cena contemporânea, precisamos de desaprender a ideia de que um político ofensivo é necessariamente ideológico. A indecência funcional floresce onde há reacção automática. O seu desaparecimento exige a coragem de não entrar no jogo que ela propõe.
A indecência funcional não deve ser tratada como desvio anedótico nem como aberração moral. Ela é um sintoma profundo duma cultura política que perdeu a sua gramática de responsabilidade. É, por isso, simultaneamente um desafio e uma oportunidade, a saber, o desafio de compreender o que ela revela sobre nós e a oportunidade de reconstruir o discurso público em bases mais sólidas. A pergunta fundamental não é se os indecentes vencerão, mas se nós seremos capazes de recentrar a política naquilo que ela exige, portanto, pensamento, responsabilidade e a coragem de não ceder ao espetáculo. Só assim a democracia poderá sobreviver à tentação permanente da ofensa e reencontrar a dignidade que a indecência funcional tenta corroer.