"Pode a subalterna tomar a palavra?" — Prefácio
Uma jovem de classe média, com apenas dezassete anos, suicida-se, em 1926, no apartamento da família em Calcutá. Uma leitura superficial do celebrado ensaio de Gayatri Chakravorty Spivak poderá ver neste episódio - que, apesar de várias vezes aludido ao fio do texto, ocupa apenas algumas páginas finais - uma simples ilustração da teoria. Nada mais errado. Na verdade, o enigma desta morte é o fio condutor de toda a reflexão e, longe de ocupar um lugar marginal, constitui o foco central do texto, representa, em larga medida, o objecto que faz mover toda a densa argumentação do ensaio. É, pode dizer-se, o núcleo compassivo dessa argumentação, a consideração específica de um destino trágico individual que, na economia do texto, funciona como revelador das lógicas de poder que impedem a subalterna de tomar a palavra. Já não é segredo, entretanto, dado que a própria autora o tem referido em várias ocasiões1 que Bhubaneswari Bhaduri, a mulher suicida, era irmã da sua avó. A compaixão pelo destino trágico desta mulher, que faz mover o ensaio, está, no entanto, muito além da esfera privada ou de uma lógica sentimental; pelo contrário, ao ler esta morte como texto, por parte de «uma figura que escreveu com o próprio corpo», Spivak inscreve-a no cerne de uma reflexão a muitos títulos paradigmática.
Se existe um cânone da teoria pós-colonial, Pode a Subalterna Tomar a Palavra? ocupa, indubitavelmente, nesse cânone um lugar de absoluto relevo, apenas comparável ao de uma obra matricial como Orientalismo, de Edward W. Said. E, no entanto, o texto não foi originalmente pensado para intervir na discus são pós-colonial, como a autora não se cansa de insistir, sublinhando, por exemplo, em conversa com Étienne Balibar, que o ensaio foi escrito «contra a sua própria cultura» e «para fugir à influência francesa», enquanto crítica, a partir de dentro, de todo o tipo de essencialismos.2 Não obstante, o núcleo da argumentação rapidamente tornou o texto uma peça decisiva da discussão sobre silêncio, discurso e poder, central ao desenvolvimento da reflexão pós-colonial a partir dos anos 80.
A versão original do texto está numa conferência de 1983, publicada, em 1985, pela revista Wedge.3 Em versão revista e aumentada, o ensaio tornou a ser publicado em1988, datando desse ano, verdadeiramente, a sua ampla circulação e transformação em objecto de larguíssima discussão e polémica.4 Finalmente, a autora incorporou o texto, em versão muito revista, no capítulo «History» da obra A Theory of Postcolonial Reason, publicada em 1999.5 Esta última versão, entre outros aspectos, clarifica o sentido, muitas vezes mal compreendido, da frase que dá o título ao ensaio: o silêncio da subalterna não é, evidentemente, ontológico, é situacional, dependente das condições de enunciação em que se encontra e que condenam à irrelevância toda a tentativa de articulação.
O conceito de subalterno/subalterna desempenha uma função estratégica na argumentação de Spivak, neste e noutros textos. Trata-se de um conceito originado na reflexão de Antonio Gramsci sobre «a questão do Sul» e que, no contexto indiano, foi adoptado pelo Subaltern Studies Group, de inspiração marxista, a que Spivak esteve associada, mas do qual viria a demarcar-se. Entre outros aspectos desta demarcação, a crítica desconstrutivista à noção de sujeito desempenhou um papel fundamental: o subalterno/a subalterna definem-se, não enquanto classe, no sentido marxista convencional, mas sim pela posição não-hegemónica que ocupam no seio das relações de poder. A mulher suicida, como lembra repetidas vezes Spivak, pertence à classe média, mas, genericamente, a sua dupla inscrição como sujeito colonizado, não-hegemónico, e como mulher permite caracterizá-la como subalterna. A subalterna, como insiste recorrentemente a autora, não é «a outra» e, muito menos, a outra absoluta; é, sim, uma categoria relacional, construída na sua subalternidade pelos discursos dominantes.
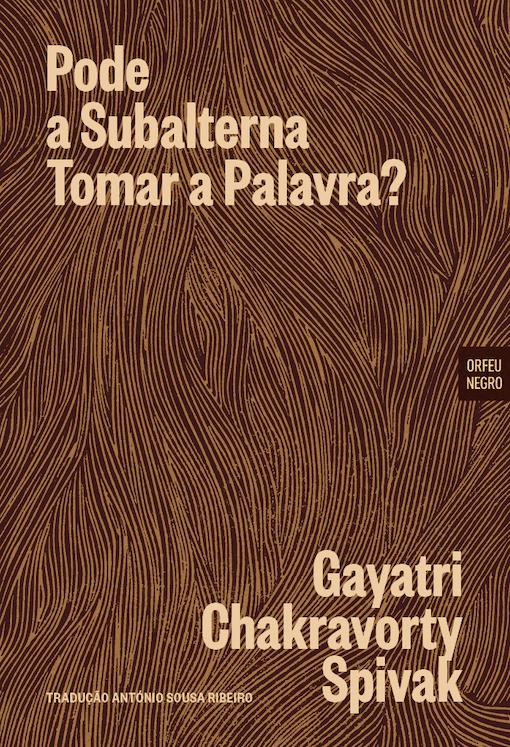
A controvérsia que tem rodeado este ensaio desde a publicação de 1988 tem vertentes muito distintas, mas, em primeira linha, não é separável da grande complexidade do texto, que constitui um enorme desafio à leitura. Não é apenas o quase hermetismo de algumas formulações e a enorme erudição da autora, que obriga o leitor ou a leitora a lidar com um conjunto muito amplo de pressupostos teóricos; a própria estrutura do texto, que vai focando o seu objecto através de aproximações sucessivas, por vezes inesperadas, na forma do que uma leitura menos atenta poderá interpretar como derivações - mas que, na verdade, são formas de preparar o terreno da análise através da construção dos níveis de com plexidade exigidos pela substância da argumentação - , suscita dificuldades consideráveis. Não surpreende, assim, que seja um texto muitas vezes mal compreendido. Rosalind C. Morris enumera, com pertinência, as quatro principais tresleituras de que o texto tem sido objecto: a ideia de que o silêncio da subalterna representa uma simples ausência, facilmente colmatável por uma atitude de abertura do discurso hegemónico, ou, noutro plano, que esse silêncio é ontológico, inerente a uma condição fatalistamente insuperável; a interpretação de que Spivak estabelece uma oposição constitutiva entre teoria e prática, uma binaridade que o próprio texto elaboradamente rejeita; a noção de que a autora utiliza o caso indiano como metonímia para o conjunto do «Terceiro Mundo» e, portanto, apresenta as suas conclusões como directamente extrapoláveis (quando Spivak insiste, de modo recorrente, em que o seu uso do caso indiano se deve a um acidente auto biográfico); e, por último, esta a tresleitura mais grotesca, a acusação de que o texto adopta a perspectiva nativista de um fundamentalismo cultural à luz do qual procede a uma apologia do sacríficio das viúvas.6
 Gayatri Chakravorty Spivak, foto de Hartwig Klappert
Gayatri Chakravorty Spivak, foto de Hartwig Klappert
Não é por acaso que o primeiro núcleo teórico da argumentação se centra na noção de representação e toma por base uma crítica a Michel Foucault e Gilles Deleuze, a partir do conhecido diálogo destes sobre «os intelectuais e o poder». A crítica é violenta: por um lado, na perspectiva da autora, teóricos como Foucault e Deleuze constroem para si mesmos uma posição de transparência e exterioridade que, supostamente, os situa além das estruturas de poder que criticam; por outro lado, são os próprios protagonistas da desconstrução da narrativa iluminista ocidental e da concomitante des construção do sujeito cartesiano que transpõem uma noção não-desconstruída de sujeito para grupos marginalizados que, deste ponto de vista, «podem» falar, afirmando trans parentemente, por exemplo, um ponto de vista de classe. Desta forma, é possível «representar» o subalterno, na dupla acepção cuja crítica Spivak vai buscar a um passo d’O 18 de Brumário, de Karl Marx, de representar, dar uma imagem de, e de ser representante de, estar mandatado para falar em nome de. Assim, o pensamento desconstrucionista enreda-se nas suas próprias aporias, incapaz de apreender a especifici dade da dupla subalternidade da mulher em contexto colonial. Construir a subalterna como objecto de conhecimento significa, deste ponto de vista, fazer parte das estruturas de poder que a silenciam.
Quando o texto se volta para o contexto indiano, atra vés da longa discussão sobre o significado do sati, da imolação sacrificial das viúvas, segundo uma certa tradição hindu, o problema continua a ser a questão do sujeito e da represen tação do sujeito. A mulher imolada está silenciada e violen tada pelas elites locais, masculinas, mas não o está menos pela intervenção civilizadora da potência colonial que vem salvá-la desse destino horrível. Como já referido, é este talvez um dos aspectos menos compreendidos do texto. Na linha do que já discutira no seu texto sobre a «Rani de Sirmur» (incorpo rado na primeira parte do capítulo «History» de A Critique o/ Postcolonial Reason), não se trata, evidentemente, da defesa de uma «tradição» contra a ingerência do poder colonial. Trata-se, sim, de dar a perceber que tanto o discurso britâ nico, à luz do qual a pressuposta voz da mulher enquanto vítima grita pela libertação (tornando, assim, a proibição do satium acto civilizador que legitima o poder colonial), como o discurso das elites hindus, na lógica do qual essa é uma voz submissa que exprime a adesão voluntária ao sacrifício, coin cidem no silenciamento da mulher subalterna e representam a manutenção de relações de poder que traduzem a complexidade e heterogeneidade dos contextos concretos para cons truções ideológicas aparentemente transparentes.
Não é, seguramente, um dos menores créditos de Spivak o facto de, desde o início dos anos 80, ter contribuído de modo decisivo para fazer inflectir os estudos pós-coloniais, então ainda bastante incipientes, no sentido de uma reflexão feminista. Embora, na economia do ensaio, não tenha a mesma proeminência do que a discussão de Deleuze e Foucault, a crítica ao «feminismo ocidental» ou «do Primeiro Mundo» corre paralela a esta e assenta, fundamentalmente, nos mesmos pressupostos: a incapacidade de descolonizar os seus próprios pressupostos, levando o discurso feminista dominante no Ocidente a construir uma imagem da «mulher» incapaz de apreender a complexidade das condições específi cas de articulação da subalterna.
No conjunto, é, justamente, a tentativa de reconstrução dessa especificidade que constitui o elemento mais poderoso da argumentação do ensaio. O sacrifício pessoal de Bhubaneswari Bhaduri é um gesto de revolta e de resistência. Escolhendo, para consumar o seu gesto definitivo, um dia em que está mens truada, põe-se calculadamente à margem dos lugares-comuns dominantes, na tentativa de impedir que o seu suicídio seja objecto da interpretação trivial que o atribuiria a uma gravidez socialmente inaceitável. A sua tragédia não consiste no carácter irremediável do seu gesto, uma vez que este não constitui a aceitação passiva da condição de vítima, antes pelo contrário, exprime a reivindicação expressa de uma capacidade de acção e de inscrição como sujeito. A tragédia está antes no facto de as condições de articulação em que, como subalterna, está enre dada não permitirem que o seu gesto de inscrição seja enten dido. Assim, a sua voz, reinterpretada pelo discurso dominante reproduzido na sua própria esfera familiar, é reduzida aos lugares-comuns desse discurso e, neste sentido, silenciada. A questão, portanto, não é não ter sido ouvida: é ter sido ouvida à luz das lógicas interpretativas dominantes e, portanto, ter visto rasurada a radicalidade do seu pronunciamento.
É este o ponto essencial desta e de muitas outras intervenções críticas de Spivak e a razão que as torna não apenas relevantes, mas também flagrantemente actuais. Tal como a condição subalterna é definida a partir dos lugares de poder dominantes, também a fala da subalterna é permanentemente condenada à irrelevância pela assimilação aos códigos impos tos por esses lugares. Significa isto que toda a resistência é fútil e que o silêncio da subalterna só pode ser visto como uma espé cie de fatalidade intransponível? De forma aparentemente paradoxal, o ensaio de Spivak «dá voz» à subalterna - não no sentido transparente que o texto põe profundamente em ques tão, mas sim pelo trabalho analítico que, expondo os mecanismos de silenciamento da subalterna, constitui em si um gesto de resistência, apontando para formas de articulação susceptíveis de permitir que a voz silenciada se faça ouvir. Trata-se, no fundo, de um trabalho de tradução, assente na suspeita perante todas as lógicas de assimilação e empenhado em criar um espaço de ressonância e de articulação anti-hegemónica.
É assim que não se trata apenas de «falar»; trata-se, muito mais, de «tomar a palavra». O conjunto de opções de tradução tomadas ao longo da presente edição - preparada em estreita articulação com a autora - explica-se por si mesmo e não carece de especial comentário.
A tradução do título, contudo, ao divergir do conjunto das traduções existentes, necessita de ser justificada. Não tanto a opção pelo feminino, que o inglês, pela natureza da língua, deixa em suspenso, mas que o português, como muitas outras línguas, nomeadamente as românicas, tem de deixar explícita a necessidade do uso do feminino resulta, de modo evidente, da própria sequência do ensaio, está suficientemente abonada em várias entrevistas da autora e foi explicitamente confirmada ao tradutor em conversa pessoal havida em 12 de Outubro de 2018. Nesta mesma conversa, houve oportunidade para uma inesquecível troca de impressões em torno do significado do verbo to speak no contexto do ensaio. A posição nesse momento manifestada pela autora esteve explicitamente em linha com as preocupações fundamentais do seu texto, culminando na indicação de que, não dominando o português, se estivesse a traduzir para francês, nunca utilizaria simplesmente o verbo parler, mas a expressão prendre la parole, muito mais precisa e consentânea com a lógica da argumentação. Com o que a solução a adoptar na versão portuguesa se ofereceu de imediato e de maneira inequívoca.
Pode a subalterna tomar a palavra? Título original Can the Subaltern Speak? Tradução e Prefácio António Sousa Ribeiro 2021 | 136 pp., Orfeu Negro.
- 1. Por exemplo, em Gayatri Chakravorty Spivak, «ln Response. Looking Back, Coming Forward», em Rosalind C. Morris, org., Can the Subaltern Speak? Rejlections on the History o/an Jdea (Nova Iorque, Columbia Univer sity Press, 2010), p. 231.
- 2. Étienne Balibar e Gayatri Chakravorty Spivak, «An lnterview on Subal temity», Cultural Studies 30(5), 2016, pp. 856-871. Noutro local, a autora clarifica que Pode a Subalterna Tomar a Palavra? «não é, de modo nenhum, sobre o colonialismo. É sobre a capacidade de acção [agenry]: acção insti tucionalmente validada» (Gayatri Chakravorty Spivak, «Foreword: Upon Reading the Companion to Postcolonial Studies”, em Henry Schwarz e Sangeeta Ray, orgs., A Companion to Postcolonial Studies (Malden, Mass., Blackwell, 2000), p. XX.
- 3. «Can the Subaltern Speak? Speculations on Widow Sacrifice», 1Vt?dge 7/8 (Primavera/Verão de 1985), pp.120-130.
- 4. «Can the Subaltern Speak?», em Cary Nelson e Lawrence Grossberg, orgs., Marxism and the Interpretation o/ Culture (Urbana, University of Illinois Press, 1988), pp. 271-313.
- 5. Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique o/ Postcolonial Reason - Toward a History o/the Vanishing Present (Cambridge, MA/Londres, Harvard Uni versity Press, 1999), pp. 246-311. É esta a versão que serviu de base à presente tradução, tendo o parágrafo inicial sido reescrito pela autora. Outras pequenas adaptações tornadas necessárias pela autonomização do texto seguiram a versão incluída em Rosalind C. Morris, org., Can the Subaltern Speak? Rejections on the History (Nova Iorque, Columbia University Press, 2010), pp. 21-78. A autora agradece a Iuri Bauler Pereira pelo auxílio na leitura da versão portuguesa.
- 6. Rosalind C. Morris, «Introduction », em R. C. Morris, org., Can the Subaltern Speak? Rejections on the History (Nova Iorque, Columbia University Press, 2010), pp. 2-3.