O pensamento tradicional africano, entrevista a Ferran Iniesta
Entrevista com Ferran Iniesta (Universidade Barcelona) por ocasião da vinda a Lisboa para a conferência «Pensamento moderno versus pensamento tradicional na África actual», em Fevereiro 2011, enquadrada no Ciclo Internacional de Conferências Doutorais do ISCTE-IUL.
Ferrán Iniesta é profesor de Historia de África na Universidade de Barcelona e fundador do Centre d´Etudis Africans da mesma universidade. Entre as suas obras destacam-se “El Islam Del Africa Negra” de 2009, “Kuma, Historia del Africa Negra”, “El Planeta Negro”, de 1998 e “Etnia i nació als mons africans”, editor com Christian Coulon, de 1995, entre muitas outras.
 Intervenção de Ferran Iniesta na performance de Braima Galissa, ISCTE, 2011. Fotografia de Hugo Cruz.
Intervenção de Ferran Iniesta na performance de Braima Galissa, ISCTE, 2011. Fotografia de Hugo Cruz.
Dr. Iniesta regressa a Lisboa, depois de vários anos. Como é tradição no pensamento africano, há que começar pela origem. A primeira vez que veio a Lisboa foi no ano de 1965, correcto?
Sim, a primeira vez que vim a Lisboa era estudante de Filologia Românica e interessava-me particularmente pela língua portuguesa, tanto o português de Portugal como do Brasil e dos países africanos. Era uma ideia juvenil e ingénua e relacionava-se com certas perspectivas políticas, no continente europeu de reconstrução e troca com o mundo africano.
Depois de estar um tempo em Lisboa, regressou a Barcelona e envolveu-se no que seria a luta antifranquista.
Estive praticamente na clandestinidade durante um largo período de tempo, quando me expulsaram das universidades espanholas. Até que, em 1973, a organização à qual pertencia achou que devia ser exilado porque era procurado pela polícia de Franco em demasiados lugares. De facto, os meus conhecimentos sobre o mundo português e lusófono em geral eram mais conhecimentos a nível político e, quando cheguei a Portugal, fiquei un tempo em Lisboa, mas estive a viver também em Torres Novas, em Coimbra, em Régua, na zona do Douro e também no Porto. Foi a minha primeira aproximação no país.
Depois de chegar a Espanha, partiu para Paris? Que fez em Paris?
Entrei ilegalmente pelos Pirenéus onde me esperavam uns camaradas franceses. O primeiro contacto com africanos tinha sido em Coimbra, com cabo-verdianos apoiantes de Amílcar Cabral, anti-colonialistas que se encontravam lá numa pequena pensão. Em Paris tive o meu segundo contacto. Ali os marginais, os emigrados económicos e políticos, os africanos por escassos recursos económicos, conhecíamo-nos e relacionávamo-nos. Foi através desses contactos com pessoas da África Ocidental, senegaleses mas sobretudo malianos, que comecei a minha formação sobre as questões africanas. Destaco especialmente Issa Traoré, que foi o condutor das minhas leituras. Iniciou-me primeiro com historiadores europeus que falavam de África e, a pouco e pouco, foi-me introduzindo a autores africanos, menos sólidos em termos de trabalho metodológico mas extraordinários do ponto de vista da compreensão das sociedades africanas tais como Boubou Hama, Djibril Tamsir Niane, e um estranho Cheik Anta Diop que dizia que os egípcios antigos eram negros. Para mim, Anta Diop foi uma descoberta extraordinária, e finalmente fui directamente a África logo que tive condições de o fazer.
Depois de Paris, viajou até África?
Não directamente, de Paris fui para os Pirinéus e estive um ano e meio a viver em Andorra porque não podia transpor a fronteira e, desde ali, era mais fácil conseguir visitar a minha filha. Bom ritmo de leitura de livros de Paris, enviados por Younès Dadzi, um editor e livreiro argelino. Então comecei a escrever alguns textos para edições espanholas sobre questões africanas, artigos que hoje prefiro que não sejam citados numa revisão da minha trajectória. Todos os líderes africanos pareciam-me esperançasoso, eram textos de uma ingenuidade notável.
Quando conseguiu finalmente pisar o continente africano?
Penso ter sido em Agosto ou Setembro de 1977. Passei umas semanas na Catalunha, e em Marselha e daí saí para a Argélia, depois Níger, Mali e desembarquei finalmente em Dakar. Eu e a minha companheira, depois mãe do meu filho, estávamos a contratados pela Direcção Geral do Ensino Privado, em Dakar, porque isso nos permitia lá ficar. O Ministério do Senegal oferecia-nos trabalho em sítios fantásticos de Senegal, e ainda por cima permitia estarmos juntos, mas não sou propriamente um antropólogo e o meu interesse era sobretudo trabalhar nos arquivos, em Dakar, e concretamente privar com Cheik Anta Diop que era a razão fundamental da minha estada em Dakar.
Não foi fácil mas finalmente conviveu com Cheik Anta Diop e tornou-se Professor de Línguas na Universidade?
Sim, foi um pouco complicado e fiz um pouco de tudo. Cheguei a trabalhar um ano no ensino privado, exactamente no Collège de la Cathedral. Aí pude conhecer aos filhos da elite africana que, embora fossem quase todos muçulmanos, estudavan no Collège de la Cathedral com os filhos dos diplomatas, etc… Depois trabalhei um ano para o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) onde estava Samir Amin, a dar aulas de castelhano. Só posteriormente pude aceder aos arquivos do Instituto Fundamental da África Negra e à Biblioteca da Universidade de Dakar e ensinar no Departamento de Línguas Românicas da Universidade, quando consegui ter o título académico que, devido à minha expulsão das universidades espanholas, não consegui antes.
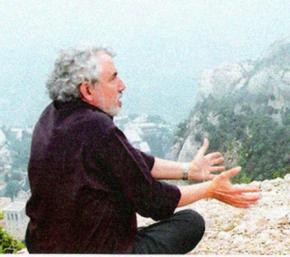 Inicia-se então um importante período de actividade, de partilha do pensamento de Cheik Anta Diop. Daí sai uma tese de licenciatura que foi publicada. Durante esse período a sua forma de ver o continente e de pensar foram muito marcadas pela Escola de Dakar.
Inicia-se então um importante período de actividade, de partilha do pensamento de Cheik Anta Diop. Daí sai uma tese de licenciatura que foi publicada. Durante esse período a sua forma de ver o continente e de pensar foram muito marcadas pela Escola de Dakar.
Como todos as fases construtivas foi um grande período. Em primeiro lugar porque, depois de um primeiro ano muito duro de adaptação (porque a realidade da África negra era menos idílica e mítica do que eu imaginava), a minha estadia foi excelente e talvez não tivesse saído de África tão cedo se o meu pai não adoecesse. Mas digamos que as entrevistas, os encontros no laboratório da rádio carbono com Cheik Anta Diop, as nossas discussões e discordâncias, embora praticamente de acordo quanto às suas posições sobre a negritude cultural do Egipto Antigo, foram intensas: mas continuava sem ter a certeza que fossem tão negros (de pele) como ele assegurava, embora os textos gregos assim o afirmassem.
Cheik Anta Diop insistia muito em demonstrar que os antigos egípcios eram de pele negra?
Sim, porque Diop era um nacionalista africano, um pan-africanista. O que ele tentava era uma recuperação do passado africano para dar uma base sólida à auto-estima do mundo africano actual, coisa que todo o mundo académico euopeu tentava censurar. Claro que os académicos europeus não tinham necessidade de afirmações nacionalistas, nomeadamente os franceses, porque eles já tinham feito uma leitura nacionalista da História antes de ter controlado África. Aquilo que os europeus estavam a fazer há muito tempo não era permitido a Cheik Anta Diop e a outros africanos: a intenção de ligar emoção com razão, e produzir assim uma obra própria com personalidade. Esse foi um período excelente porque conheci gente como Pathé Diagne e Abdoulaye Wade (actual presidente do Senegal) com quem falei horas, e dedicou-me um livro. Conheci gente da oposição, e não tanto representantes do poder, nunca falei com Senghor, por exemplo, embora isso fosse acessível para alguém com uma posição social e um salário tão baixo como eu tinha naquela altura. Nessa altura a presença europeia, salvo a dos antigos colonizadores, era escassa na maioria do país, e eu gostava de ser catalão e ainda mais de ter um passaporte espanhol, pois não era identificado como cidadão de nenhuma potência colonial. Isso funcionava em toda a África Ocidental como uma credêncial de neutralidade.
Naquele tempo li muito. Creio ter aprendido bastante, fui ajustando as minhas ideias sobre África, uma coisa era a teoria que tinha lido em Paris e Andorra e outra foi o que encontrei no terreno. Foram-me extraordinariamente úteis os meus conhecimentos de português e da História portuguesa porque muitos dos grandes textos clássicos do séc. XV e XVI estavam em português. E nesse período o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau) estava ainda em pleno apogeu e florescimento, tendo em conta a Independência recente e que gente como Teixeira da Mota tinham trabalhado conjuntamente com Raymond Mauny, Théodore Monod, etc.
Então depois abandona o Senegal e regressa a Espanha por motivos familiares e em Barcelona aproveita para apresentar uma tese de licenciatura sobre Kemit: A Nação Negra, que é produto desta pertença à escola de Dakar. Numa universidade espanhola de início dos anos 80, onde os conhecimentos sobre África eram bastante escassos (ou nulos), como conseguiu defender uma tese de licenciatura com um tema como a negritude do antigo Egipto ou a língua faraónica?
Digamos que o tema dos antigos egípcios serem negros não foi realmente um problema… A ignorância espanhola e catalã sobre África era tão forte que a ninguém parecia algo escandaloso. A dificuldade maior era outra, porque o meu estudo se inseria mais dentro do campo da antropologia cultural e da história cultural e não num estudo sobre a luta de classes dentro da História. Isso sim foi difícil porque os professores que me orientaram eram todos marxistas ferranhos, como Josep Fontana, hoje na Universidade Pompeu Fabra, ou Miquel Barceló, já emérito na Universidade Autónoma de Barcelona. E defender uma obra assim não era nada cómodo perante um júri da universidade que fazia autênticas carnificinas nas defesas de tese dos candidatos.
Finalmente conseguiu e a sua obra foi publicada, depois de alguns anos, traduzida do catalâo para castelhano.
Sim, escrevi o livro em Catalão mas os editores preferiam gastar meio milhão ou um milhão de pesetas pagando a tradutores para publicá-lo em castelhano pela razão de que o mercado catalão é pequeno, agiam por critérios comerciais. Se eu fosse um independentista mais duro, não tinha aceite… mas a verdade é que este livro existe no original catalão.
Depois deste período em Barcelona, onde apresentou a tese de licenciatura, viaja até Madagáscar durante os anos 80.
Sim, entre 83 e 85. O meu pai já havia morrido e a minha mãe estava mais recuperada, então fui com a minha companheira e o meu filho mais novo com um ano de idade. O meu filho aprendeu malgaxe, falava catalão em casa e francês com os adultos porque interpretava o que os adultos falavam em francês. Com os miúdos falava malgaxe e connosco catalão.
Como decidiu ir para Madagáscar?
Simplesmente porque a minha companheira e mãe do meus filho recusou-se a ir para Moçambique que estava em plena guerra com a RENAMO. Maputo ou Antananarivo. Eu tinha preferência por Maputo. O facto de ir de novo para um país francófono de alguma forma impôs certos limites na continuidade do meu trabalho no campo lusófono.
Em Madagáscar foi também professor de espanhol na Universidade?
Contrataram-me como professor de espanhol mas rapidamente fui captado para leccionar alguns cursos de História de África a historiadores. Creio que apenas passado meio ano em Madagáscar já estava em dois departamentos e dava uma quantidade de aulas inimaginável. Aos linguistas, aproveitando a minha formação em latim, ensinava-lhes gramática histórica do latim ao castelhano, ao francês ao catalão e ao português. Aos historiadores dava diversas cadeiras de História de África antiga, de África clássica simplesmente porque os historiadores malgaxes são muito especializados em Madagáscar e no Oceano Índico mas não têm conhecimento da África em geral.
Calculo que para si esta experiência lhe abriu portas, no interesse sobre o Oceano Índico.
Sim, para mim o Oceano Índico era totalmente desconhecido e as leituras que fiz tanto na Academia Malgaxe como nos arquivos nacionais, deram-me uma perspectiva distinta da História. Para mim a história era muito europeia e mediterrânica. A partir daí tudo se rompeu de uma forma espectacular. Para além disso, também me ajudou a abandonar a ideia maniqueísta de bons e maus. Estava claro, na minha perspectiva da esquerda dura, anti-imperialista, que os maus éramos nós, historicamente, os europeus, e os bons os africanos. Claro que do ponto de vista da responsabilidade, sim. Mas comecei a descobrir como os africanos articularam as suas estratégias, e como conseguiram que os portugueses, durante os 400 anos que estiveram na costa da África Oriental - entre fins do século XV e fins do XIX - não pudessem impôr a sua hegemonia sobre os africanos, o que é bastante interessante interessante porque nota-se que os africanos agem por conta própria e não só reagem contra os europeus. E aí, graças aos magníficos textos e artigos portugueses, comecei sobretudo a falar do canibalismo dos outros. Inicialmente acreditava que os canibais éramos nós, os europeus, mas os africanos tinham uma capacidade de “canibalizar” considerável, não em termos de canibalismo de carne, mas pela capacidade de estabelecer estratégias maquiavélicas, para conseguir determinados objectivos e para desactivar as ameaças que os europeus podiam representar.
Nessa época ainda se considerava marxista? Apesar das críticas ou já não?
Não, nada disso. Abandonei o campo marxista. Fui marxista activo entre os dezasseis e os vinte e oito anos. Meti baixa no movimento trotskista Internacional a que pertencia aproximadamente um ano depois de ter chegado a Paris. O que acontece é que isso deixa rasto durante muito tempo porque ficas acostumado a fazer todo o esquema e método de pensamento e creio que, desde os vinte oito até aos cinquenta anos, fui-me depurando de muito marxismo que engoli, não necessariamente de qualidade, e arrastei durante anos. E se eu, que era trotskista e pertencia a um sector mais forte teoricamente, precisei de mais de vinte anos para depurar-me, não quero nem pensar o que aconteceu a outras correntes marxistas que eram de uma ignorância feroz.
 Intervenção de Ferran Iniesta na performance de Braima Galissa, ISCTE, 2011. Fotografia de Hugo Cruz.
Intervenção de Ferran Iniesta na performance de Braima Galissa, ISCTE, 2011. Fotografia de Hugo Cruz.
Continuemos com o seu percurso: depois de Madagáscar, regressa a Lisboa onde permanece cerca de dois anos para fazer a sua tese de doutoramento.
Estive a trabalhar com bastante intensidade, sobretudo em manuscritos da Biblioteca Nacional mas também no Arquivo Histórico Ultramarino, e em menor frequência na Biblioteca de Ajuda e no Arquivo da Torre do Tombo, que ainda não estava situado no campus universitário e que só visitei um par de vezes por causa de alguns documentos.
Finalmente a sua tese, o livro Bajo la Cruz del Sur, centrou-se na temática da religião, comércio e guerra no Canal de Moçambique que defendeu em Barcelona em 1989. Como foi a experiência de apresentar um trabalho feito fora da universidade onde vai ser avaliada?
Sim, depois da experiência atribulada com a minha defesa de tese sobre a questão egípcia, ao regressar de Madagáscar, fui contratatdo pela Universidade de Barcelona, e aí apresentei a minha tese, que foi menos problemática. Mas repito que não pela questão da pigmentação, foi menos problemática porque era um estilo distinto. Também é claro que a obra do Kemit: A nação negra, é uma obra intelectualmente da juventude, assente numa fórmula de bons e maus e a obra Bajo la Cruz del Sur é a de um historiador mais ou menos respondendo aos cânones standards.
Já estamos nos anos 90 e era professor titular de História de África na Universidade de Barcelona.
Sim, e continuo a ser o único titular existente em Espanha. É dramático.
Inicia assim a sua actividade de dar a conhecer a História de África. Participa na criação do Centro de Estudos Africanos, a ideia era que fosse dentro da universidade, o que no final não foi possível.
As universidades não adoptaram o Centro de Estudos de Africanos porque consideraram que era muito periférico aos interesses universitários espanhóis. Podiam aceitar-me como especialista, mas faltava uma equipa, as pessoas que iniciaram este projecto eram muito jovens, hoje são grandes especialistas como Roca, Bosch, Castel, Cervelló, Crespo, López Bargados ou Creus. Com esses argumentos, nem a Universidade de Barcelona nem a Universidade Pompeu Fabra quiseram aceitar o jovem CEA nas suas estructuras.
Outra iniciativa dessa época e que perdura na actualidade é o início do que seriam os Congressos Ibéricos de Estudos Africanos, iniciativa sua com professores portugueses e de Madrid.
O pacto aconteceu entre Urbano Martínez Carreras da Universidade Camplutense de Madrid, Antonio Santamaría, então em IEPALA de Madrid, e Sousa Ferreira da Universidade Técnica de Lisboa. Isabel Castro Henriques, que nessa época estava flutuando em redor do CRA (Centre de Recherches Africaines) de Paris I, ainda não tinha regressado a Portugal por razões políticas. Creio que este foi o grupo fundador, embora muito rapidamente apareceram Eduardo Costa Dias, Manuel Ennes Ferreira, e o Franz Heimer.
Diria simplesmente que esta iniciativa com início dos anos 90, sendo o primeiro em Madrid, continua até aos dias de hoje e vai na sétima edição, tendo acontecido agora em Lisboa em Setembro passado o 7º Congresso Ibérico de Estudos Africanos. A colaboração com diversas universidades espanholas e portuguesas tem vindo a aumentar de uma forma exponencial durante estes anos e isto, é um legado que convém destacar.
Isto é fruto de uma ideia que todos partilhávamos no seio da conselho de redacção de Studia Africana, a revista do Centro de Estudos Africanos, Sebastià Puigserver, o antropólogo, e eu mesmo. A nossa ideia, um tanto romântica e catalã, era de criar equipas de trabalho e colaboração no mundo ibérico, e no Brasil com países latino-americanos, com uma actividade muito aberta a África, com a possibilidade de formar grupos e intercâmbios menos rígidos, diria até menos hierarquizados em detrimento dos africanos. Era o que ocorria com as históricas escolas de Paris, Londres… Por isso, a nossa revista publicou nos primeiros 12 números apenas em Línguas Românicas. Depois, a realidade venceu e agora, na segunda época da revista, dirigida até hoje por Albert Roca, da Universidade de Lleida, o assunto das línguas está normalizado, e já publica também artigos em inglês.
Por último, nesta época de estabelecimento como professor em Barcelona, concretizou a sua obra de referência O Planeta Negro. Pode dizer-se que é uma espécie de auto-avaliação da sua experiência africana (já vai na sua 3ª edição em espanhol). Existe edição francesa (L’Univers Africain) e é um livro com um certo êxito, sobretudo entre o público que lida com a temática dos Estudos Africanos em Espanha. Como vê agora esse livro e como valoriza a sua continuidade, uma vez que já passaram quinze anos?
Com carinho. Primeiro porque foi a primeira vez que tentei fazer um trabalho, não como historiador, mas pensando a História do ponto de vista antropológico, portanto não existe uma seriação histórica, mas antes uma organização por temas. Abordei o tema do mercado em África, identidade em África, o poder em África, a hierarquização e dependência, a concepção do mundo. Muitas das coisas aí apresentadas ainda hoje as defendo, e o livro provavelmente continua a ser útil para gente que se aproxima do mundo africano e ao seu estudo. Agora, muito embora a maioria dos meus colegas africanos e europeus me reconhecem como o autor de Planeta Negro, faz 20 anos que não sou o autor do Planeta Negro. Passo a explicar, pouco depois de o ter escrito dei-me conta que uma série de realidades que eu não sabia denominar se podem denominar facilmente se as olharmos com uma visão da realidade de tipo tradicional, portanto se aplicarmos uma nomenclatura tradicional a essas questões, as coisas veêm-se com muita mais clareza. A partir desta descoberta comecei uma evolução, diria forte, que só se expressa de forma pública no ano de 1999 com o livro De Marx a Platão. Retorno à tradição ocidental, que é uma obra que fiz com Arcadio Rojo, Lluís Botinas.
Então pode dizer-se que depois de Planeta Negro, inicia uma fase de aprofundamento do que seria a raiz africana, os sistemas iniciáticos africanos e o que têm a ver com a tradição, como forma de estruturar a sociedade africana. E nesta época entra em contacto com académicos dos Camarões que estão relacionados com a instituição dos Mbombog, isto é a monarquia africana na versão dos bassa.
Sim, a década de 90 foi uma época de formação de investigadores, de grupos, de redes, de estruturas, como a rede de investigadores ARDA (Rede para a Investigação e Docência sobre África, que edita Studia Africana) ou mesmo os próprios congressos Ibéricos de Estudos Africanos que começaram em 1991 e que já estão consolidados. Por outro lado, paralelamente, foi nesta década que trabalhei em territóio de floresta no sul dos Camarões e com mestres de tradição antiga, o que se chama de modo polémico de animismo, mas que, em muito casos as pessoas envolvidas podem ser perfeitamente universitários e doutores. E isto dá uma nova visão e permite entender muitas mais coisas.
Recentemente publicou El pensamiento tradicional africano, no qual estabelece uma diferença entre o que é Filosofia e o pensamento tradicional africano. Afirma que não há Filosofia propriamente dita em África. Podemos dizer que este resume um pouco as bases destes seus últimos anos de trabalho?
Sim. Eu pensei durante anos que havia uma Filosofia Africana pela simples razão de que é isso que pensam a maioria dos intelectuais africanos e ocidentais. Como vamos negar a filosofia aos negros? Tem de haver uma Filosofia Africana! Isto é uma visão errónea, pois parte de uma sobrevalorização da filosofia. A Filosofia, tal como se entende no ocidente moderno, é uma forma objectiva de analisar a realidade circundante, quer dizer, que estabelece inevitavelmente uma cisão ou fractura directa entre o sujeito e o objecto. É Aristóteles puro, São Tomás, Descartes. Em absoluto é Platão. Em absoluto é Mestre Eckhart. Que significa? Muito simples, o pensamento de Aristóteles pode ser considerado como focando numa parte minúscula das questões muito mais abrangentes que ocupavam Platão. Aristóteles fez um análise de curto alcance da realidade circundante, um pensamento de natureza dialéctica, baseado na oposição tese/antítese. O pensamento de Platão é amplo e o de Aristóteles é só uma partícula. Platão é alguém que pensa o mundo na sua complexidade, Aristóteles só pensa em parcelas, é um micro-especialista, um precursor de todo o pensamento escolástico que precede Tomás D’Aquino e que continua depois dele.
Desse ponto de vista se enganam os modernos que dizem que a modernidade se constrói contra o feudalismo e contra a escolástica, isso é mentira, os modernos são os seus continuadores naturais. A modernidade constrói-se sim contra o pensamento tradicional que é expresso em Platão, que se expressa em Plotino e tranquilamente em Eckhart ou em Dionisio Aeropagita. Isto deveria ser muito claro, é a chave para compreender a História Ocidental e do mundo. Não há uma Filosofia Africana, salvo especialistas em Filosofia que são africanos e que, como eles são especialistas em Filosofia, afirmam que representam a Filosofia africana. Mas o seu conhecimento é europeu e ocidental, não sabem nada de Ogotemeli, não sabem nada de Hermes Trismegisto como a última fase do pensamento do Egípto Antigo, nem de Tierno Bokar nem das instituições tradicionais como o Mbog. Na verdade, não há Filosofia Africana, o pensamento africano não é um pensamento restritivo nem dualista, é um pensamento muito diferente da filosofia inaugurada por Aristóteles.
Se percebi bem, a nossa dificuldade em reconhecer o pensamento africano estaria na evolução filosófica europeia. A linha de Aristóteles inaugura uma linha diferente da linha de Platão, cujo pensamento seria equiparável ao africano. O que aconteceu foi que, enquanto a linha de Aristóteles se tornou hegemónica, convertendo-se na Filosofia das universidades, a linha de Platão foi marginalizada e combatida desde há muito tempo pelos próprios filósofos da modernidade, e já não há rastro, ou muito pouco, nas nossas sociedades. Portanto hoje custa-nos reconhecer o pensamento tradicional africano, e por isso no livro De Marx a Platão, chamaram a atenção sobre a necessidade de recuperar a linha de Platão para nos conseguirmos aproximar do pensamento tradicional. Está certo?
Para nós, ocidentais, a filosofia é o máximo. Para qualquer tradição, a filosofia é uma anedota, um detalhe muito simples. Sensorialmente nós percebemos a distância entre uma mesa e uma coluna. Este é um conhecimento útil. Inclusive a pequena tecnologia instrumental, desde um martelo a uma nave espacial, forma parte do espaço separativo no qual a mente opera mediante a separação entre sujeito e objecto. Todo aquele que tende a um conhecimento mais amplo, mais de conjunto, mais reticular, transborda isso. O que não quer dizer negá-lo. Simplesmente, transborda, integra-o e minimiza-o em termos de valor. A tradição quer manter esse enquadramento mais amplo, que a filosofia abandonou. Em África não há filosofia porque nunca abandonaram totalmente essa perspectiva ampla.
Este seu grande projecto dos últimos anos, de promover a criação conjunta de um Mestrado oficial em Espanha, entre as universidades públicas catalãs e três universidades africanas: Senegal, Camarões e Madagáscar. Qual foi o objectivo desta iniciativa?
Estivemos a prepará-lo durante três anos. Funciona desde Outubro e existem três sedes em funcionamento, a Catalã, em Tarragona e Barcelona, a sede Malgaxe em Antananarivo e a sede nos Camarões em Yaoundé, e vai começar em Dakar. É um mestrado em Ciências Sociais que se define como “Culturas e Desenvolvimento em África”. O objectivo não é apenas formar especialistas em Ciências Sociais mas sobretudo dar um exemplo prático de como se pode estabelecer uma real cooperação, distinta das outras cooperações que são falsas porque na realidade partem da hegemonia ocidental, e que é uma relação de igualdade no plano intelectual. Damos prioridade a um número de estudantes e equipas de professores africanos comparativamente à participação dos europeus. O que estamos a planear é que outras universidades portuguesas, europeias etc. desenvolvam iniciativas deste tipo, tanto no campo da economia como no campo da ciência política, na saúde… Isto pressupõe uma ruptura no processo da subordinação e dependência que têm nossos colegas africanos em relação aos colegas do Norte.
O percurso que começou com a sua vinda a Lisboa nos anos sessenta, para criar ligações entre os povos ibéricos, continua hoje porque existem uma série de alunos de Barcelona que, desde há cinco anos, estão com uma bolsa de pós-doutoramento da FCT em Lisboa, graças aos contactos e relações prévias entre Ferran Iniesta e Eduardo Costa Dias, e outros professores. Parece que esta colaboração ibérica continua cada vez mais forte.
Há toda uma geração que estabeleceu uma relação estável com o mundo lusófono e espero que consiga o que nós não conseguimos: incorporar especialistas de universidades da América Latina, desde México até Argentina passando pelo Brasil, no trabalho português e espanhol e catalão em estudos africanos. Existe uma frescura, diria até uma força da ingenuidade, e uma capacidade de criação do trabalho nas ciências sociais no âmbito do sul europeu que não existe no território das grandes escolas do norte europeu, que têm sido os nossos mestres e não devemos esquecer isso (Claude Hélène Perrot, Jean Devisse, Catherine Coquery-Vidrovicht, Cruise O´Brien, etc). Parece-me muito importante e é nesse sentido que Lisboa tem uma função chave.