Sisal em Carne Viva - introdução
Introdução
O sisal é uma fibra dura que ganhou relevância na indústria cordoeira a partir do início do século XIX. Extraída da folha da agave sisalana – uma planta xerófita, apta a desenvolver-se nos solos áridos do sertão – a fibra do sisal seria desde então produzida a larga escala, perdendo vantagem face às fibras sintéticas apenas em meados da década de 1960 (Protzman 1964). Destinada a prover as indústrias de cabotagem naval e sacaria, a fibra, tornada cordel, foi igualmente útil ao desenvolvimento de tecnologias de enfardamento de cereais e forragens, bem como à produção de tapeçaria (Brockway 1979: 168-170; Carstensen & Roazen 1992).
A expansão do seu uso associar-se-ia, pois, ao aparecimento das primeiras máquinas que, nos Estados Unidos da América do final do século XIX, permitiram enlaçar a colheita no momento da ceifa, embaratecendo desta forma os custos de produção, num território em que, após a abolição da Escravatura, o trabalho era considerado escasso e dispendioso. Depois de experimentar o laço de arame, a agropecuária favoreceu o uso de cordel, já que o primeiro, em deixando vestígios nos molhos, feria animais e causava danos na maquinaria fabril. A indústria cordoeira adaptou, depois, a tipologia de cordel às necessidades dos fabricantes de máquinas, e rapidamente se popularizou entre os agricultores o cordel de manila, pura ou misturada com sisal, uma vez que a primeira era a fibra dura mais cara, porque também mais resistente, do mercado (Carstensen & Roazen 1992: 570-571).
A planta, em si, tomou o nome do porto de Sisal, no Iucatão centro-americano, de onde a sua fibra começou por ser exportada para os Estados Unidos da América. O cultivo organizado do sisal começou também aí, no sistema de haciendas inaugurado pela colonização espanhola, que vinculava grande parte dos trabalhadores, dali nativos, por relações de dívida (Brockway 1979: 171-172). Foi também aí que surgiu o primeiro raspador mecânico para o processamento inicial da folha de sisal (Carstensen & Roazen 1992: 563). Do Iucatão, a planta chegaria depois a outras partes, por ação de governos, cientistas e investidores, até ganhar relevo durante a 2.ª Guerra Mundial, quando a valorização da sua fibra nos mercados internacionais motivou o investimento na sua produção em regime de monocultura no este-africano, numa tal ordem que levou à conivência das administrações coloniais na mobilização de trabalho forçado (Westcott 1984: 452). Isto, no decurso da destruição e inoperacionalidade de plantações de fibras concorrentes no sudeste asiático, em particular as de juta e manila nas Filipinas e na ilha indonésia de Java (ibid.; Brockway 1979: 180-181).
Terminada a guerra, toda a economia de plantação das regiões tropicais e subtropicais se confrontaria com a necessidade de regular os problemas relativos à angariação, manutenção e estabilização de uma força de trabalho que se tornasse mais produtiva e suprisse, sem sobressaltos, as necessidades do setor (OIT 1950: 21-51).
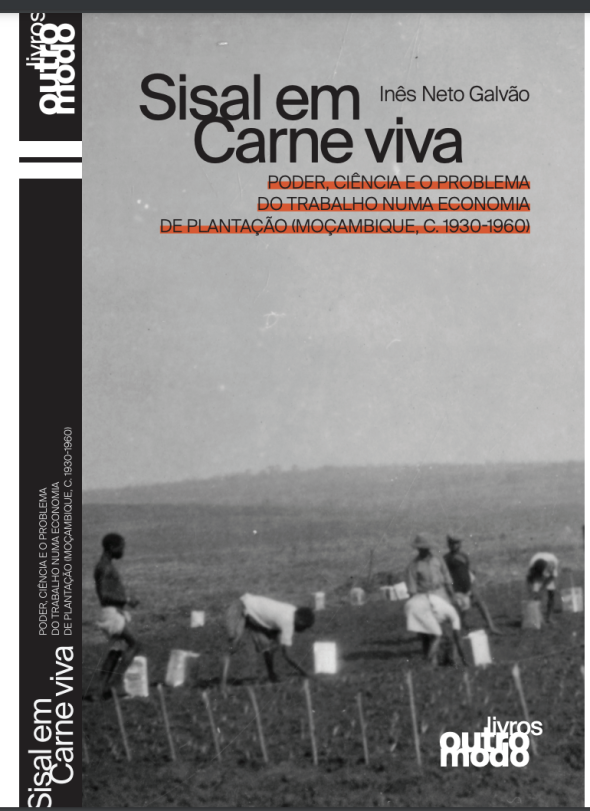
A nível da política internacional, a Carta das Nações Unidas (1945) reforçava, então, o compromisso com o bem-estar dos povos dos territórios não-autónomos, e nesse sentido exigia-se ao Estado português, como a outros, a promoção das condições necessárias ao abandono de práticas de recrutamento forçado, e à concomitante formação e estabilização de uma mão-de-obra dita voluntária, em regime assalariado. Tanto na metrópole como nas colónias, Portugal articulava as suas políticas laborais com as agendas das organizações intergovernamentais, em particular aquelas promovidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que o país integrara desde a sua fundação, em 1919 (Rodrigues 2012). A perspetiva de adesão à Organização das Nações Unidas, que se formalizaria apenas em 1955, movia também um certo alinhamento com estas exigências. Até porque os críticos do domínio português sobre os territórios coloniais africanos apontavam ao Estado a responsabilidade pela continuidade de práticas de trabalho análogas à Escravatura, por via da institucionalização jurídica de modalidades de trabalho forçado no Código do Trabalho Indígena, a pretexto de fins penitenciários (Monteiro 2018).
Havia quem, no concurso entre colonialismos, encarasse a prevalência de trabalho forçado de um ponto de vista reformista, como epifenómeno do atraso económico do país metropolitano, fator primordial do subdesenvolvimento das suas colónias, onde o aparelho produtivo se manteria descapitalizado e incapaz de atrair mão-de-obra sem a intervenção da administração. Ao longo da década de 1950, no entanto, o ideário da autodeterminação dos povos fortalecia-se, e apontava para a inevitável descolonização, já em curso noutros impérios europeus (Santos 2014). Juntavam-se, assim, argumentos mais radicais entre as vozes que contestavam a legitimidade do governo português sobre os territórios africanos e asiáticos, acicatando nos espíritos nacionalistas a defesa de um direito histórico, no enlevo da retórica civilizacional e do excecionalismo luso-tropical (Castelo 1998: 48; Alexandre 2017). Assim se entenderá a tomada de posições mais ou menos contemporizadoras pela representação portuguesa no seio da OIT, onde, como veremos, se discutia a ratificação de Convenções Internacionais sobre Trabalho Forçado desde o final da década de 1920, e onde, em 1951, se nomearia um comité especialmente dedicado à averiguação de acusações deste teor (Monteiro 2018: 141 e sggs.).
É tendo em consideração este contexto que as propostas de organização científica da produção das plantações de sisal se tornam mais interessantes. Elas serão tratadas neste livro de acordo com os propósitos de gestão da força de trabalho expressos pelos próprios sisaleiros – isto é, pelos donos e gerentes das plantações de sisal – no decurso de assembleias técnicas, organizadas regularmente pela Associação dos Plantadores de Sisal de Moçambique, a partir de 1949. O apelo do lucro que motivava o investimento na produtividade das plantações de sisal submeter-se-ia, por esta altura, a uma mudança dos termos em que se concebia o trabalho indígena, a qual levaria à supressão do regime de Indigenato, em 1961, e à sua substituição, logo em 1962, pelo Código do Trabalho Rural (Gaspar 1965: 178-211). O estudo que aqui se apresenta pretende, por isso, compreender, a partir do setor sisaleiro, como foi problematizada essa mudança, e se nele ela se apresentou de algum modo singular. Tratamos, pois, de dimensões discursivas, sim, mas incrustadas na morfologia do Estado colonial e do poder económico, e investidas no aproveitamento material da existência de uma planta peculiar; existência essa modelada em função do seu rendimento, por sua vez dependente de outros fatores, como seja a maior ou menor eficiência do trabalho nas plantações.
Trabalho e economia de plantação
De um ponto de vista teórico – e porque a economia de plantação sobreviveria à abolição formal da Escravatura e do trabalho forçado – importa recuperar, para a discussão destas questões, como o antropólogo Sidney Mintz encontrou nas plantações de açúcar das Caraíbas do século XVII a génese da modernidade capitalista. Instigado pelas reflexões de E. P. Thompson (1967) sobre a organização do tempo e sobre a disciplina do trabalho, Mintz situaria estas plantações na emergência do capitalismo industrial. Parte significativa do processo de transformação da cana-de-açúcar decorria ainda dentro das plantações, aí mantidas pelos precursores do imperialismo europeu. Por isso, o trabalho da terra, de onde brotava a planta, teria de ser conjugado com o do moinho, onde se extraía o melaço de cana, para maximizar a produtividade. Os plantadores procuravam o aproveitamento ótimo das características bioquímicas da planta, por meio da articulação dos tempos e ritmos de produção com as redes comerciais e de transporte, as quais entreteciam já um mercado mundial. Síntese entre campo e fábrica, um tal modelo de plantação implicaria, assim, não apenas a divisão técnica da força de trabalho, mas também a instituição de um tempo comum para sincronizar o ritmo destes dois polos de produção com a economia global, aliando tal sincronização com a disciplina dos ritmos da vida dos trabalhadores sob uma mesma autoridade, comum a todo o complexo agroindustrial (Mintz 1985: 47-48).
Nas Caraíbas, como noutros lugares, a aura de modernidade industrial trazida pela maquinaria pesada das plantações coloniais conviveu com a exploração de trabalho escravo, ou de outro modo coagido, prefigurando já os gestos e ritmos do proletário rural (Mintz 1978). Afinal, a mecanização da produção agrícola nunca dispensou o trabalho intensivo – mal, pouco ou não-remunerado, e muitas vezes sujeito a condições insalubres, tanto pela violência do próprio trabalho e pela falta de estruturas de cuidado na plantação, como por fatores climatéricos e doenças endémicas (OIT 1950: 7; Holmes 2019 [2013]).
Com o fim formal do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, os interesses económicos orientaram-se para os territórios africanos, e instituíram no continente o modelo de plantação, aperfeiçoado antes no Caribe e nas Américas. Nas suas várias travessias atlânticas, o modelo transportou consigo plantas, tecnologia e formas racializantes de organização do trabalho, assentes na exploração de pessoas escravizadas, em empreendimentos nem sempre lucrativos e suscetíveis ao fracasso (Thompson 2010 [1932]; Bastos 2019; Macedo 2021).
Trabalho e Indigenato
Também a política imperial portuguesa foi redirecionada do Brasil, entretanto independente, para as colónias africanas, onde procurou consolidar a até então frágil presença do Estado, resultando, a partir da segunda metade do século XIX, em Moçambique, no intensificar das obras públicas e da exploração dos recursos naturais (Alexandre 1993). Nesta transição, o Terceiro Império português assentou sobre o já referido regime jurídico do Indigenato, o qual previa a incorporação económica dos indígenas enquanto força de trabalho, ao mesmo tempo que alicerçava razões para a sua exclusão política, subordinando à obrigação do trabalho o hipotético acesso à cidadania, nos termos definidos por um regime colonial de inspiração cristã, que abrigava ainda práticas de dominação violenta, herdeiras da economia escravocrata (Capela 1977; O’Laughlin 2002a; Jerónimo, Domingos & Dias 2010).
Com efeito, ao Indigenato associaram-se os principais mecanismos formais de dominação instaurados pelo Estado colonial português para coagir a população africana a participar no sistema produtivo e comercial, que então se implementava. E o trabalho forçado sustentava-se, por via de lógicas penitenciárias, também no regime de impostos (em géneros ou dinheiro), na expropriação de terras e nos cultivos obrigatórios de algodão e arroz.
Enquadrado pelo imaginário imperial racialista, o regime do Indigenato consagrava uma delimitação entre indígenas e não-indígenas, que serviu a hierarquização da ordem de interação colonial. Esta delimitação admitia que, de entre os africanos, algumas – poucas – pessoas se aproximavam dos padrões de conduta e estatuto social valorizados pela população de origem europeia, ali monopolizadora das posições de maior poder económico, simbólico e político, geralmente associadas a uma certa ideia de urbanidade. Tal aproximação seria oficialmente reconhecida pela concessão do estatuto de assimilado, e quem assim fosse consagrado estaria isento das obrigações exigidas aos indígenas, incluindo o trabalho forçado.
De forma bastante geral, a definição jurídica de indígena implicava, então, que um africano só seria reconhecido como não-indígena – habilitado, portanto, ao estatuto de assimilado –, no caso de: usar a língua portuguesa; ser detentor de bens ou exercer uma atividade com rendimento suficiente para sustento próprio e da sua família; ser bem-comportado e não praticar “os usos e costumes do comum da sua raça.” Quem não garantisse para si e seus familiares os níveis de vida consentâneos com os “padrões civilizados”, poderia ser compelido a trabalhar pelas autoridades. E aqui sublinhe-se a declinação masculina do Indigenato, subentendendo-se, em consonância com a lógica patriarcal vigente na metrópole, que haveriam de ser os homens a assumir o papel de provedores. Depois de concedido, o estatuto de assimilado poderia ser revogado, caso deixassem de ser cumpridas as condições que o haviam justificado (Zamparoni 1998: 40-41).
Em Moçambique, como veremos, a cultura do sisal emergiria associada ao recrutamento forçado de trabalhadores, designado localmente por chibalo, que se instituiu com o regime do Indigenato, aí vigente para lá da primeira metade do século XX. Inseridas, logo de partida, na dinâmica mais vasta da região este-africana, e de forma diversa do que ocorreria em espaços insulares, as plantações de sisal integravam, neste período, uma complexa malha económica onde outros polos de produção atraíam importantes contingentes de mão-de-obra por meio do trânsito, mais ou menos coercivo, de trabalhadores, os quais, por sua vez, mantinham laços com o meio de origem. Porque à administração colonial interessava manter uma reserva de mão-de-obra que assegurasse a entrada de divisas através da migração sazonal para os territórios vizinhos, e porque as plantações continuavam incapazes de atrair e manter os necessários contingentes de trabalhadores ditos voluntários, a questão do trabalho foi colocada pelos plantadores de sisal em termos de escassez e absentismo.
O homem africano, em particular, continuava, então, a ser alvo de estigmatização, estereotipado enquanto naturalmente preguiçoso; por isso, tido também como incapaz de assegurar uma existência digna – para si como para a sua família – fora da influência benéfica da civilização trazida pelos colonizadores. O teor pejorativo desta estereotipia orientava as políticas de relações sociais promovidas pelos ideólogos do projeto colonial, usando a pretensa indolência do africano para explicar as elevadas taxas de absentismo e a dificuldade em angariar trabalhadores. Governantes, plantadores e outros empregadores entendiam ser, assim, justificável a aplicação de medidas coercivas, obliterando o peso das más condições que proporcionavam aos trabalhadores.
De um ponto de vista mais amplo, é importante notar que os dispositivos criados no quadro jurídico do Indigenato foram preponderantes no desmantelamento das condições em que antes se organizava a existência no mundo rural moçambicano, conduzindo a uma progressiva proletarização das suas populações, ainda que estas tenham resistido, de diferentes modos, às demandas coloniais (O’Laughlin 2002b).
Ciência e governo colonial
A transição que esta progressiva proletarização reflete sugere uma mudança na forma de governo, que de igual modo se traduziu no alicerçar de estruturas para o crescimento económico das colónias no continente africano. Também por isso, a pesquisa que aqui se apresenta atende às práticas do poder no contexto colonial sob o Estado Novo, aproximando-se dos estudos da governamentalidade, esta entendida como a correlação entre a produção de conhecimento e o propósito da administração da população. No seu sentido mais abstrato, a noção de governamentalidade desdobra-se na associação entre três movimentos: (i) a transição (não necessariamente absoluta ou definitiva) do poder político enquanto soberania pura para o exercício de poder na forma de economia, no advento do Estado administrativo; (ii) a emergência da população como finalidade última do governo, constituída como campo de intervenção e como um dado (marcadamente estatístico e taxonómico), irredutível à dimensão da família mas tendo nesta um instrumento fundamental do seu governo; e (iii) o processo pelo qual se isolou a economia como um setor específico da realidade, tendo na política económica a ciência e técnica que suporta a intervenção do governo (Foucault 2011 [1978]).
De forma geral, a governamentalização do poder do Estado moderno, em África como noutros lugares, implicou o saber da economia política e o desenvolvimento de uma série de aparelhos governativos especializados, assim como dispositivos administrativos, mais ou menos coercivos, delineados para vigiar a população e promover a ordem social. Paralelamente, este processo de extensão dos modos de saber e ação do Estado acomodaria o desenvolvimento de ciências úteis à governação, dotadas dos seus próprios especialistas, empenhados na identificação de problemas, suas causas e possibilidades de resolução. Por intermédio de um conjunto alargado de instituições, procedimentos, estratégias e tecnologias intelectuais, disciplinas como a geografia, a agronomia, a medicina, o direito, a demografia e outras ciências sociais, incluindo a antropologia e a sociologia, formulariam discursos próprios, conquanto o uso de linguagens comuns possibilitasse a interação entre corpos de conhecimento distintos e facilitasse a sua mobilização na tomada de decisões. Recentemente, a historiografia tem aprofundado o estudo da vertente colonial deste aparato (Pereira 2021; Singaravélou 2011; Tilley 2011), sendo as suas ramificações interimperiais particularmente relevantes para a análise do colonialismo português tardio (Castelo & Ágoas 2020; Castelo 2022).
O tema do trabalho nas plantações de sisal moçambicanas, aqui em estudo, apela, pois, a uma inquirição sobre a governamentalidade colonial que não ignore nem a história particular do poder do Estado colonial português, nem a sua inserção no plano internacional. Uma inquirição que, além disso, parta de uma teoria da prática e rejeite a redução dos discursos proferidos nas assembleias à forma de proposições ou ao valor semântico dos seus enunciados. As assembleias técnicas serão, por isso, analisadas enquanto palco de prática ideológica (Madureira Pinto 1976 e 1977), inserido nas estruturas de representação do poder económico, e onde se procurava conciliar os interesses de diferentes plantadores e do próprio Estado. Tal permitir-nos-á aceder à forma como as políticas do Governo eram recebidas e negociadas pelos sisaleiros. Além da análise dos debates e diálogos aí estabelecidos, exige-se, pois, um duplo esforço de contextualização pelo qual seja possível a justaposição analítica entre o projeto político do Estado e o campo da indústria sisaleira instalada em Moçambique, a fim de melhor compreender a evolução desta relação, entre pontos de convergência e de conflito.
Estrutura e organização dos capítulos
Nesse sentido, o nosso texto organiza-se em três capítulos. No primeiro, a descrição de uma cerimónia pública em que os sisaleiros se dirigem ao Governo-Geral, para relatar o sucesso de uma das assembleias técnicas e endereçam, depois, alguns pedidos quanto à política de mão-de-obra, serve-nos para apresentar alguns dos principais personagens presentes nas assembleias técnicas. Serve-nos também para traçar os veios de interdependência entre o setor do sisal e o do algodão. Abordamos ao mesmo tempo o contexto económico após a 2.ª Guerra Mundial, a formação do quadro imperial do Estado Novo e a implantação das lógicas corporativistas em Moçambique, para reconstituir o momento em que surgiu a Associação de Produtores de Sisal, analisando a sua relação com a Junta de Exportação da Colónia de Moçambique, um organismo de coordenação económica diretamente implicado no processo de constituição da Associação. Procuramos objetivar o lugar do poder económico ligado ao sisal a partir desta relação e da posição que o produto ocupava na estrutura de exportações da colónia, entre a 2.ª Guerra Mundial e princípios da década de 1950. Depois de descrevermos as áreas em que, tipicamente, atuaria a Associação, procuramos perceber as condições históricas da emergência do sisal na economia global, bem como as razões da sua progressão até chegar à África Oriental alemã e, pouco depois, a Moçambique. Para tal, ancoramos a narrativa em publicações de divulgação da cultura que permitiram, em simultâneo, entrever o papel dos Estados de matriz imperial na expansão do conhecimento técnico-científico e na expansão da economia de plantação, bem como na articulação entre ambas.
O segundo capítulo começa por apresentar o problema do trabalho, conforme colocado nas assembleias técnicas dos sisaleiros, através da análise de alguns dos momentos em que os seus contornos foram expostos e discutidos com maior detalhe. Assim, acompanhamos as discussões em torno da hipótese de se alargar a mecanização do processo produtivo, identificando, no debate, quais os principais constrangimentos económicos com que, no princípio da década de 1950, se justificaria a ainda diminuta substituição do trabalho braçal pelo trabalho mecânico. De seguida, procuramos perceber a importância política do problema do trabalho indígena para o Estado português, através da análise de um relatório de Henrique Galvão, então inspetor ao serviço do Ministério das Colónias.
A justaposição entre os dois modos de problematização da questão do trabalho indígena remete-nos para a multiplicidade de agências no campo de poder do Estado colonial e abre questões sobre o recrutamento que abordamos no terceiro capítulo, associando o surgimento do problema da mão-de-obra à expansão e consolidação da economia de plantação no território e ao tráfego de trabalhadores. O Indigenato e as discussões internacionais são convocados para situar a transformação das orientações governativas sobre o trabalho indígena. Por fim, recuperamos o exame das assembleias técnicas para, através da análise de uma seleção de estudos aí apresentados, abordarmos as soluções com que se projetava a criação de uma mão-de-obra mais estável nas plantações.
Referências
Alexandre, Valentim. 1993. “Portugal em África (1825-1974): Uma Perspectiva Global”, Penélope, 11: 53-66.
Alexandre, Valentim. 2017. Contra o vento: Portugal, o Império e a Maré Anticolonial (1945-1960). Lisboa: Temas e Debates.
Barth, Frederik. 1969. “Introduction”. Em Frederik Barth (Ed.) Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Londres: Allenan and Unwin.
Bastos, Cristiana. 2019. “Açúcar, ananases e ilhéus portugueses no Hawaii: dinâmicas de migração, etnicidade e racialização no terreno e no arquivo”, Etnográfica, vol. 23, n.º 3, pp. 777-798.
Brockway, Lucile H. 1979. Science and Colonial Expansion: The Role of the British Royal Botanic Gardens. New York: Academic Press.
Capela, José. 1977. O imposto de palhota e a introdução do modo de produção capitalista nas colónias: As ideias de Marcelo Caetano: Legislação do trabalho nas colónias nos anos 60. Porto: Edições Afrontamento.
Carstensen, Fred & Diane Roazen. 1992. “Foreign markets, domestic initiative, and the emergence of a monocrop economy: The Yucatecan experience, 1825-1903”, The Hispanic American Historical Review, vol. 72, n.º 4: 555-592.
Castelo, Cláudia. 1998. «O modo português de estar no mundo»: O lusto-tropicalismo e a ideologia colonial portuguesa (1933-1961). Porto: Edições Afrontamento.
Castelo, Cláudia. 2022. “Recherche et développement dans les colonies portugaises d’Afrique: L’impulsion de la coopération scientifique interimpériale (1950-1962)”, Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique, n.° 3: 35-48.
Castelo, Cláudia & Frederico Ágoas. 2020. “Inter-African cooperation in the social sciences in the era of decolonization: A case of science diplomacy”, Centaurus. 2021; 63:67–83. https://doi.org/10.1111/1600-0498.12357
Foucault, Michel. 2011 [1978]. “A ‘governamentalidade’”. Em A política dos muitos: povo, classe e multidão, Bruno P. Dias & José Neves (Coords.) Trad. Frederico Ágoas. Lisboa: Tinta da China Edições, 113-135.
Gaspar, José Maria. 1965. Problemática do Trabalho em África. Dissertação de Doutoramento. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina – Universidade Técnica de Lisboa.
Holmes, Seth. 2019 [2013]. Corpos resistentes: Imigração, racismo e trabalho agrícola nos EUA. Trad. Joana Braga. Lisboa: Outro Modo.
Jerónimo, Miguel B., Nuno Domingos & Nuno Dias. 2010. “Indígenas, Imigrantes e Outros Povos”. Em Como se Faz um Povo, José Neves (Coord.) Lisboa: Tinta da China Edições, 153-166.
Macedo, Marta. 2021. “Coffee on the move: technology, labour and race in the making of a transatlantic plantation system”, Mobilities, vol. 16, n.º 2: 262-272.
Madureira Pinto, José. 1976. “Ideologias: inventário crítico dum conceito (I)”, Análise Social, vol. XII, n.º 45: 127-152.
Madureira Pinto, José. 1977. “Ideologias: inventário crítico dum conceito (II)”, Análise Social, vol. XIII, n.º 49: 97-144.
Miller, Peter & Nikolas Rose. 2008. Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life. Cambridge/Malden: Polity Press.
Mintz, Sidney. 1978. “Was de Plantation Slave a Proletarian?”, Review (Fernand Braudel Center), vol. 2, n. º 1, pp. 81-98
Mintz, Sidney. 1985. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Penguin Books.
Monteiro, José Pedro Pinto. 2018. Portugal e a questão do trabalho forçado: Um império sob escrutínio (1944-1962). Lisboa: Edições 70.
OIT. 1950. Basic Problems of Plantation Labour. Committee on Work on Plantations, first session, Bandeong. Genéve: ILO. Disponível online.
O’Laughlin, Bridget. 2002a. “Class and the customary: The ambiguous legacy of the indigenato in Mozambique”, African Affairs, 99: 5-42.
O’Laughlin, Bridget. 2002b. “Proletarianisation, Agency and Changing Rural Livelhoods: Forced Labour and Resistance in Colonial Mozambique”, Journal of Southern African Studies, vol. 28, n.º 3: 511-530.
Pereira, Rui Mateus. 2021. Conhecer para dominar: A antropologia ao serviço da política colonial portuguesa em Moçambique. Lisboa: PARSIFAL.
Protzman, Cecille M. 1964. “Hard Cordage Fibers in a Changing World”, em Foreign Agriculture, vol. II n.º 27, pp. 3-5.
Rodrigues, Maria Cristina. 2012. Portugal e a Organização Internacional do Trabalho (1933-1974). Tese de doutoramento com orientação de António Casimiro Ferreira e Álvaro Garrido. Coimbra: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Disponível on-line [18-09-2012]: http://hdl.handle.net/10316/18559.
Santos, Aurora Almada. 2014. A Organização das Nações Unidas e a Questão Colonial Portuguesa: 1961-1970. Tese de Doutoramento em História Contemporânea, orient. Pedro Oliveira. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade de Lisboa. Disponível em: http://hdl.handle.net/10362/13087
Singaravélou, Pierre. 2011. Professer l’Empire. Les «sciences coloniales» en France sous la IIIe République. Paris: Publications de la Sorbonne.
Tilley, Helen. 2011. Africa as a Living Laboratory: Empire, Development, and the Problem of Scientific Knowledge, 1870-1950. Chicago: University of Chicago Press.
Thompson, Edward Palmer. 1967. “Time, work-discipline, and industrial capitalism”, Past and Present, n.º 38: 56-97.
Thompson, Edgar Tristram. 2010 [1932]. The Plantation. Columbia: University of South Carolina Press.
Westcott, Nicholas. 1984. “The East African sisal industry, 1929-1949: The marketing of a colonial commodity during Depression and War”, The Journal of African History, vol. 25, n.º 4: 445-461.
Zamparoni, Valdemir. 1998. Entre Narros & Mulungos: Colonialismo e paisagem social em Lourenço Marques, c. 1890-c. 1940. Tese de doutoramento em História Social apresentada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
MAIS INFOS NA EDITORA OUTRO MODO.