Jornalismo lento: uma questão de humanidade e profundidade no jornalismo
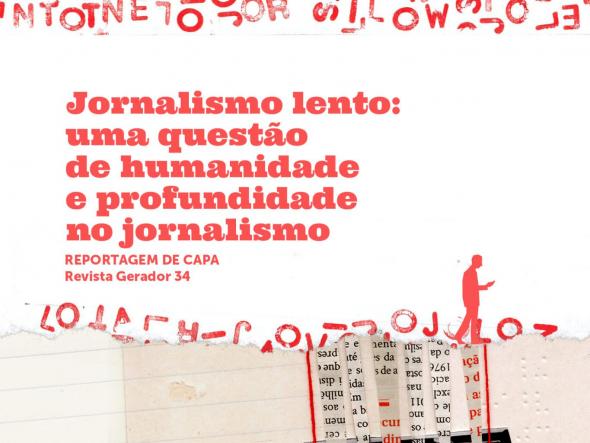
Como se redifine a base de uma profissão?
A crise económica do setor jornalístico traz uma crescente preocupação para a contribuição do jornalismo na afirmação das sociedades democráticas. A constante procura por um modelo de negócio vantajoso para os media obriga as redações a questionarem-se sobre a aposta no clickbait, a diminuição do espaço para se dedicar a longas investigações jornalísticas ou até o despedimento de repórteres experientes. Ao longo desta reportagem, procurámos definir jornalismo lento, explicando qual a sua relevância para a manutenção de uma sociedade democrática, identificar algumas das principais causas que nos levam, cada vez mais, a ter necessidade de distinguir o jornalismo lento como um subgénero do jornalismo, em vez de tratar a área como um todo. Seguimos com a enumeração de algumas das consequências deste cenário, como são exemplo o surgimento de projetos de jornalismo alternativo e questões relacionadas com a literacia mediática e digital.
O que é o jornalismo lento?
Tempo, contextualização, compreensão, narrativa, investigação, conhecimento e acompanhamento. A definição de jornalismo lento pode ainda gerar dúvidas, mas reúne consensos em torno destes elementos.
No artigo «What is slow journalism», publicado em 2015 na revista Journalism Practice, Megan Le Masurier faz uma sistematização dos conceitos dispersos e conclui que esta prática é consideravelmente diferente daquilo que é o jornalismo quotidiano, por diversas razões. O artigo descreve o jornalismo lento como uma abordagem mais demorada, densa e extensa aos assuntos, que contrapõe a velocidade frenética a que o jornalismo diário sucumbiu. De acordo com o artigo, não se trata necessariamente de um novo formato, já que sempre existiram géneros jornalísticos de grande extensão, fossem eles uma grande reportagem ou uma narrativa jornalística em livro. A diferença reside, sobretudo, na forma como se assume um compromisso com a exploração de temas além da espuma dos dias e se descarta a superficialidade nas abordagens.
De forma a compreender melhor como o jornalismo lento é encarado, o Gerador conversou com académicos, jornalistas, diretores e alunos de jornalismo, que explicaram o que para eles representa esta prática, porque acham que ganhou destaque e que diferença pode fazer. De uma forma geral, todos referem conceitos sinónimos aos mencionados no início deste texto, embora possam discordar no que respeita ao papel social dos mesmos.
Na visão de Paulo Pena, jornalista que integra o consórcio internacional Investigate Europe, «o jornalismo lento é um conceito que surge um bocadinho como crítica à forma como o jornalismo se tornou imediatista e superficial», sendo, por isso, uma resposta à forma como este passou a organizar-se primordialmente «em torno da rapidez». Para o antigo editor de política da revista Visão, que foi também grande repórter do Diário de Notícias e do Público, «a razão de ser do jornalismo é dar às pessoas a informação verificada, que depois lhes permita tomar decisões», motivo pelo qual acredita ser importante haver um abrandamento da prática jornalística.
 Paulo Pena, jornalista do Investigate Europe ©Cortesia de Paulo Pena
Paulo Pena, jornalista do Investigate Europe ©Cortesia de Paulo Pena
Filipe Sanches, chefe de redação do Jornal do Fundão, diz que os trabalhos mais «lentos» em que este semanário continua a apostar, «são trabalhos maioritariamente fora da agenda, que exigem reflexão e preparação». Neste caso concreto, de jornalismo local, «a ideia é sempre aprofundar um pouco mais uma determinada temática, sempre na perspetiva de um concelho ou da região em que nos inserimos».
Já Carlos Camponez, professor auxiliar do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra admite ter «alguns cuidados nas apropriações simplistas destas expressões», pois, «por vezes, elas mais não são do que modismos para referir coisas que já existem». «O jornalismo faz-se a várias velocidades e temporalidades», diz, sublinhando que «o bom jornalismo faz-se com o tempo devido a cada circunstância».
De certa forma, acaba por ser esta a perspetiva de Margarida David Cardoso. A jornalista do Fumaça diz que o jornalismo lento traduz a ideia de «algo que é publicado só quando tu estás perfeitamente consciente, segura e satisfeita com aquele trabalho», tenha ele sido feito em dois dias ou em dois anos. Neste sentido, a palavra «lento» não descreve necessariamente um período longo, mas antes um período de tempo livre de pressões, necessário para processar e reportar informação.
Jornalista: Em Portugal, para se ser jornalista é preciso aceitar e aplicar o código deontológico dos jornalistas, receber remuneração pelo seu trabalho e ser detentor de carteira profissional de jornalista, atribuída pela CCPJ (Comissão da Carteira Profissional de Jornalista). O Estatuto do Jornalista é definido como «aqueles que, como ocupação principal, permanente e remunerada, exercem com capacidade editorial funções de pesquisa, recolha, seleção e tratamento de factos, notícias ou opiniões, através de texto, imagem ou som, destinados a divulgação, com fins informativos, pela imprensa, por agência noticiosa, pela rádio, pela televisão ou por qualquer outro meio eletrónico de difusão».
O jornalismo e o seu papel numa sociedade acelerada
 Pedro Coelho, grande repórter de investigação da SIC ©Cortesia de Pedro CoelhoSão noções praticamente unânimes: o jornalismo cedeu demasiado ao mercado, tem vindo a apostar na produção em quantidade e a desinvestir na qualidade. O jornalismo online transformou os órgãos de comunicação social em escravos de uma atualização constante, o que prejudica não só a qualidade da informação veiculada, como a própria compreensão da mesma por parte do público. Tudo isto esbarra contra os valores basilares da prática jornalística, que se veem cada vez mais desvalorizados em prol de uma resposta à procura sôfrega por conteúdos, impulsionada, em grande medida, pelas redes sociais.
Pedro Coelho, grande repórter de investigação da SIC ©Cortesia de Pedro CoelhoSão noções praticamente unânimes: o jornalismo cedeu demasiado ao mercado, tem vindo a apostar na produção em quantidade e a desinvestir na qualidade. O jornalismo online transformou os órgãos de comunicação social em escravos de uma atualização constante, o que prejudica não só a qualidade da informação veiculada, como a própria compreensão da mesma por parte do público. Tudo isto esbarra contra os valores basilares da prática jornalística, que se veem cada vez mais desvalorizados em prol de uma resposta à procura sôfrega por conteúdos, impulsionada, em grande medida, pelas redes sociais.
Para Pedro Coelho, grande repórter de investigação da SIC, a questão prende-se com o facto de o jornalismo não controlar a receção de informação, que hoje se faz em plataformas que são uma amálgama indistinta de entretenimento, informação e desinformação. «O jornalismo, por mais que se esforce, está a ter muita dificuldade em penetrar nesse universo do rumor e da mentira, em conseguir separar o trigo do joio. E, lá está, o jornalismo lento, o jornalismo de qualidade, tem essa possibilidade, porque tem mais tempo para apurar a prova, para defender o quadro de valores do jornalismo», diz o jornalista que trouxe aos ecrãs a reportagem televisiva «A Grande Ilusão», sobre a extrema-direita europeia.
Esta é uma possibilidade que, no entanto, só existe como construção posterior, já que, como explica Margarida David Cardoso, «o jornalismo lento, feito sem a lógica do imediatismo, não existe». «Acho que na génese do jornalismo estão duas coisas: este imediatismo de dizer o que aconteceu, onde e porquê e, depois, essa lógica de jornalismo lento, de explicar a sério o porquê e dar um contexto bastante grande. Então, uma coisa não existe sem a outra», defende.
O investigador Carlos Camponez sublinha, por isso, que o jornalismo lento surge como alternativa, e não substitui o jornalismo quotidiano, pois «se todo o jornalismo fosse lento, ele também não desempenharia a sua função social». «A informação sobre os acontecimentos do quotidiano, a noticiabilidade dos factos momentâneos, não pode deixar de existir», afirma.
Esse papel social foi, aliás, o que saiu destacado durante a pandemia que, segundo António Rodrigues, veio mostrar «que as pessoas consomem informação quando sentem que isso afeta as suas vidas». «Isso deveria colocar-nos, jornalistas, a refletir sobre o tipo de jornalismo que fazemos», diz o jornalista e diretor do semanário Mensageiro de Bragança.
De acordo com o Reuters Digital News Report 2020, relatório realizado em parceria com oOberCom – Observatório da Comunicação e o MediaLab do ISCTE-IUL, a centralidade do jornalismo na sociedade continua a ser reconhecida, com 7 em cada 10 portugueses a considerar que este desempenha um papel importante no bom funcionamento das estruturas sociais contemporâneas.
Na opinião de Miguel Carvalho, grande repórter da revista Visão, o problema está antes no facto de se estar a menorizar o papel «do jornalismo em profundidade, que permite que as pessoas tenham as armas todas para formarem as suas opiniões, o que é importantíssimo numa sociedade democrática como a nossa».
 Miguel Carvalho, grande repórter da revista Visão ©Cortesia de Miguel Carvalho
Miguel Carvalho, grande repórter da revista Visão ©Cortesia de Miguel Carvalho
Esse é, precisamente, o jornalismo que envolve tempo para se produzir e para se consumir. João Ribeiro, jornalista e cofundador do Shifter, resume a questão numa frase simples: «O mundo onde as pessoas estão habituadas a consumir notícias é demasiado rápido para o jornalismo.»
Onde mora o tempo numa redação?
A «falta de tempo» e a «impossibilidade de praticar jornalismo lento num espaço de redação» são fatores comummente enunciados por jornalistas. Catarina Gomes, que após 20 anos no Público decidiu trabalhar como jornalista freelancer, afirma que essa foi a principal razão que motivou a sua decisão. «No fundo, estava na profissão certa, no sítio certo – um lugar que admiro – mas aquilo que eu acho relevante e significativo enquanto jornalismo, estava cada vez a perder mais espaço, que é o espaço de reportagem, o espaço de sair, do tempo, de falar com as pessoas, dar-lhes atenção», clarifica Catarina. Paulo Pena, sustenta também esta afirmação apontando ainda a lógica «de que é preciso termos turnos online, que estão sempre a produzir, por uma razão simples que é a razão económica. Quanto mais um jornal produzir, mais hipótese tem de receber lucros de publicidade online, o que é sempre uma receita muito curta, porque a publicidade onlinenão paga o custo de trabalho da redação.» A este propósito, Rudolf Gruner, diretor-geral do Observador, conta que neste meio publicam, em média, «180 conteúdos por dia», ou seja, «mais de cinco mil por mês», em que se «inclui vídeos, áudios e textos».
«Com a entrada do online, que é uma máquina, um frenesim de constante produção de notícias, tu não podes parar», partilha Catarina Gomes, espelhando o retrato da emergência de um jornalismo sentado, praticamente limitado ao tratamento de notícias de agência e press releases, uso da Internet ou telefonemas, sem que o jornalista saia da redação, que se verifica na maior parte dos órgãos de comunicação mainstream.
José Manuel Nobre-Correia, em Média, Informação e Democracia, defende, então, a existência de um «novo jornalismo português». Inspirado no jornalismo desportivo, que se limita à «atualidade da competição e dos ases», o autor afirma que «também o jornalismo político gira em volta da lógica de conflito entre líderes, grupelhos e «famosos» da vida política», assistindo «à eclosão de um jornalismo exaltado que funciona permanentemente numa lógica de conflito». Ao invés de tratar os projetos, programas e políticas com profundidade, análise, contexto e reflexão, a prática comum alojou-se na urgência de transmissão, na ditadura do direto, e nos ecos do diz-que-disse entre políticos, inclusive através da partilha, em noticiários, de posts de redes sociais como fonte informativa sem que seja contextualizada a afirmação que contêm.
Aquilo que pode ser primeiramente enunciado como falta de tempo, tem, posteriormente, repercussões danosas para a prática jornalística que assentam, inclusivamente, na perda da empatia e compaixão, como aponta Catarina Gomes no texto que escreveu para ler no 4.º Congresso dos Jornalistas, de 14 de janeiro de 2017, intitulado «As redações, inimigas da compaixão»:
«A ideia de perder tempo a ouvir uma pessoa que depois pode não resultar numa peça jornalística é hoje uma prática à qual um jornalista da imprensa se pode, cada vez menos, dar ao luxo. Não há tempo a perder a ouvir, quanto mais a escutar. Se é para pôr os pés fora da redação é para voltar, rapidamente, e escrever… o que quer que seja. Do jargão jornalístico fazia parte uma expressão que se usava quando se saía da redação para ir conversar com alguém e depois se voltava dizendo: «não deu nada». Hoje isso é quase impossível, cada saída tem de «dar alguma coisa» e, por isso, arrisca-se menos. […] O jornalismo de rabo sentado na secretária corre o sério risco de estar a criar zombiesemocionais que produzem o que se lhes pede, enlatados jornalísticos, de forma desafetada. Se não conheces as pessoas, não sabes para quem estás a escrever, porque estás a escrever, o teu trabalho perde significado. Perdes o norte.», em «As redações, inimigas da compaixão», por Catarina Gomes.
 Margarida David Cardoso, jornalista no Fumaça ©Joana BatistaSobre esta sua reflexão, conta-nos que «o que sentia era que me estava a dessensibilizar, a tornar pior pessoa, e se me torno numa pior pessoa, torno-me numa pior jornalista.»
Margarida David Cardoso, jornalista no Fumaça ©Joana BatistaSobre esta sua reflexão, conta-nos que «o que sentia era que me estava a dessensibilizar, a tornar pior pessoa, e se me torno numa pior pessoa, torno-me numa pior jornalista.»
Para além do trabalho de investigação, contacto com fontes e escrita, é ainda importante defender o trabalho de revisão por um editor que, também ele, precisa de tempo para ser crítico sobre aquilo que está a ler. No Fumaça, esta é uma prática que acompanha cada conteúdo publicado, não só quando a reportagem fica concluída, mas também desde a sua génese. «Acho que se queres uma edição realmente muito cuidada, em que a pessoa tem esse espírito crítico, essa edição tem necessariamente de demorar tempo. Não há outra forma, se não vai sempre acabar por ser uma edição que é mais circunstancial, tem mais que ver com erros ortográficos ou erros muito claros.» O papel do editor prende-se com o questionamento «a fundo de determinados preconceitos que podes ter tido a escrever, que podem não ser claros para ti que estás superenvolvida naquele trabalho. Acho que essa edição tem de ter tempo para conseguir ser o mais justa possível e considerar as várias camadas que estão envolvidas ali e, mesmo assim, vais cometer erros de certeza», explica Margarida David Cardoso.
A prática jornalística associada ao jornalismo lento depreende um trabalho, muitas vezes, dispendioso que, cada vez menos, as redações conseguem suportar: requer deslocações, mas, acima de tudo, muito tempo de produção que, por vezes, pode até não resultar numa reportagem porque uma investigação nem sempre dá frutos.
Perguntámos a alguns jornalistas quanto tempo tinham dedicado a algumas das suas investigações, e este quadro torna-se claro. Para o livro Furiel não é Nome de Pai, Catarina Gomes conta ter demorado cerca de três anos; em Coisas de Loucos, a sua investigação e concretização estendeu-se ao longo de sete anos, com um ano de dedicação exclusiva. Para concluir, a série «A Serpente, o Leão e o Caçador», Margarida David Cardoso diz ter levado cerca de ano e meio, já a investigação do «Exército de Precários» demorou dois anos. João Ribeiro partilha que a sua relação com o tema dos NFT começou em 2018 e que foi essa investigação continuada sobre o tema que permitiu a publicação da reportagem «Os artistas não começaram a criar NFT porque queriam destruir o planeta», em abril de 2021. Paulo Pena aponta que, geralmente, demora três meses a concluir as investigações que surgem no contexto do Investigate Europe. Embora estes sejam apenas alguns exemplos, e as variáveis mudem consoante as investigações, o tempo é o maior aliado do jornalismo de profundidade.
Jornalismo e redes sociais: uma relação amor-ódio
 João Ribeiro, cofundador e diretor do Shifter ©Cortesia de João RibeiroA falta de tempo dos jornalistas para a verificação e investigação é indissociável do surgimento das redes sociais. Se o jornalismo online veio alterar todo o paradigma de produção e consumo de informação, as redes sociais vieram diluí-lo num ecossistema de presença permanente que as redações querem alimentar. Apesar disso, é inegável o seu papel transformador na indústria da comunicação, especialmente no que respeita à abertura do mercado a novos intervenientes.
João Ribeiro, cofundador e diretor do Shifter ©Cortesia de João RibeiroA falta de tempo dos jornalistas para a verificação e investigação é indissociável do surgimento das redes sociais. Se o jornalismo online veio alterar todo o paradigma de produção e consumo de informação, as redes sociais vieram diluí-lo num ecossistema de presença permanente que as redações querem alimentar. Apesar disso, é inegável o seu papel transformador na indústria da comunicação, especialmente no que respeita à abertura do mercado a novos intervenientes.
«As redes sociais são uma porcaria, tanto quando são a melhor coisa que inventaram, porque sem redes sociais não havia Shifter», diz João Ribeiro. «É verdade que são uma chatice, e são câmaras de eco, muito tóxicas e tudo mais, mas também é verdade que permitiram a democratização do espaço público de uma forma que permitiu um certo alavancamento destes projetos pequenos», explica.
Esta perspetiva é partilhada por Rute Correia, que encara as redes sociais como um importante canal de distribuição para os media alternativos. «Eu acho que as redes sociais podem ser grandes aliados na disseminação de informação e de conhecimento, pese embora estas limitações, que têm que ver também com pessoas que propagam ativamente desinformação, e sensacionalismo», clarifica a jornalista que fundou o Interruptor.
A noção de alcance e de alargamento da audiência é, de acordo com as várias declarações recolhidas pelo Gerador, a grande vantagem das redes sociais para os órgãos de comunicação social, nomeadamente os locais. Este facto prende-se com a acessibilidade e conveniência das plataformas digitais, que reúnem várias coisas diferentes num único lugar. Paradoxalmente, este fator de agregação, que as torna atrativas, é também uma das causas dos problemas que lhes estão associados, nomeadamente a propagação de desinformação, de acordo com Pedro Jerónimo. «Não diabolizo as redes sociais, o problema é elas misturarem muita informação do credível, do sério, ao entretenimento. Depois, os algoritmos acabam por filtrar [de acordo] com aquilo que se aproxima mais dos nossos gostos», diz o investigador do LabCom, unidade de investigação científica de comunicação e artes da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior.
A amálgama de conteúdos que nos são apresentados leva, também, a que a nossa capacidade crítica sobre os mesmos seja diminuída, conduzindo a avaliações irrefletidas. Uma das grandes questões do comportamento do público nas redes sociais é precisamente que, muitas vezes, os conteúdos jornalísticos apresentados não são sequer lidos, sendo a avaliação dos temas descritos feita com base no título. «Nós temos até um fenómeno, raro, que descobrimos outro dia que é: em alguns casos, descobrimos notícias que têm mais partilhas no Facebook do que leituras no site, o que a princípio é um contrassenso», diz Rudolf Gruner, referindo-se a estatísticas do site Observador. O diretor-geral diz que este facto se torna mais frequente em notícias que possam ser utilizadas como bandeiras de convicções individuais e que geram posições opostas, como assuntos religiosos, políticos ou causas sociais (como feminismo, por exemplo). «Isso tem um bocado que ver com o fenómeno das redes sociais. Uma pessoa quando partilha uma coisa é porque quer fazer um statement sobre si próprio às pessoas que a seguem», diz o responsável.
A par desta situação, há outros perigos a considerar na relação do jornalismo com as redes sociais. Um deles – e talvez o mais referido – é o facto de poderem ser utilizadas como fontes de informação, por parte dos jornalistas. Neste aspeto, o jornalista Paulo Pena é perentório e diz que o «o melhor conselho é: não usem muito as redes sociais».
«O principal desafio é que os jornalistas compreendam que as redes sociais não são transparentes, que não são conversas de pessoas. Há uma grande percentagem de coisas que nós vemos nas redes sociais que são criadas apenas para manipular o debate público, para nos enganar», afirma.
Paulo Pena dá o exemplo da análise de redes sociais que é feita, em direto, por alguns canais de televisão: «Há um debate entre dois candidatos a primeiro-ministro e depois vão pôr [em direto] o que é que o Twitterdiz sobre aquilo, sendo que aquela estação de televisão não teve nenhum trabalho a verificar se aquelas “pessoas” que está a citar do Twitter são pessoas ou não, porque podem não ser. Podem ser agências de propaganda a escrever [que] o candidato A é péssimo, o candidato B derrotou completamente o candidato A… Para quê fazer isso? Não faz sentido».
O problema, diz Paulo Pena, é a ilusão que se cria em torno da popularidade de uma pessoa ou assunto, popularidade essa que não reflete a opinião pública, especialmente porque nos é mostrada de acordo com a seleção de conteúdos do algoritmo, que é diferente para cada pessoa. «A própria lógica das redes sociais é uma lógica publicitária, não é uma lógica informativa», sublinha.
O jornalista Miguel Carvalho, por sua vez, reconhece as vantagens da utilização das redes sociais, mas salienta que envolve um conhecimento prévio de todos os perigos que acarretam. «O problema é quando o jornalismo não tem uma agenda. Se o jornalismo não tem uma agenda – a sua agenda – obviamente que está sujeito a que se escreva e faça aquilo que é soprado por aquelas ventoinhas», critica, dando exemplos de assuntos que transitam das redes sociais para os meios de comunicação social sem escrutínio, e que se vêm a revelar enganadores ou mesmo falsos. «Nós, que estamos cada vez mais dependentes do digital, da notícia rápida, se deixamos de ter a nossa própria agenda, começamos a fazer agendas que a gente nem sabe de onde é que vêm», diz, referindo-se a movimentos extremistas ou a políticos populistas, que «plantam» nas redes discussões sem fundamento.
Há, por estes motivos, uma necessidade de distinguir os ambientes e de avaliar todas as possíveis condicionantes. Paula Cardoso, jornalista e fundadora da plataforma Afrolink,afirma que «a dinamização de redes sociais não devia ser confundida com o exercício do jornalismo, e, em determinada altura, – ou desde o início – essas fronteiras não foram estabelecidas». A própria prática jornalística é, por isso, afetada, deixando-se contagiar por fenómenos como o clickbait. «O que eu sinto é que há muitas notícias que são feitas para as redes sociais», para gerar cliques e comentários. «Acho que esta promiscuidade desvirtuou estas práticas», afirma. «Este ritmo que nós temos presentemente foi, para mim, claramente imposto pelas redes sociais, com todos os problemas daí decorrentes», declara a jornalista.
Que diversidade existe no jornalismo?
Falar de diversidade nas redações é um olhar demorado e múltiplo: podemos estar a falar de diversidade em termos de distribuição geográfica, etária, classe económico-social, sexo ou etnia, por exemplo, e todas estas e outras dimensões são importantes no que diz respeito à perceção que temos do mundo que não nos é imediato, mas sim contado por via do jornalismo.
Em novembro de 1994, o jornalista polaco Ryszard Kapuscinski, no seu encontro, em Milão, com o escritor e crítico de arte John Berger, no congresso Ver, Perceber, Contar: Literatura e Jornalismo no Fim de Um Século, refletia sobre o papel dos meios de comunicação na construção da história: «Desde o desenvolvimento dos meios de comunicação, na segunda metade do século xx, estamos a viver duas histórias diferentes: a verdadeira e aquela criada pelos meios de comunicação. O paradoxo, o drama, o perigo, residem no facto de que conhecemos cada vez mais a história criada pelos meios de comunicação e não a verdadeira. Por isso, o nosso conhecimento da história não se refere à história real, antes à história criada pelos meios de comunicação.»
Por isso, torna-se relevante refletir sobre questões de diversidade no que diz respeito à composição das redações, pois os temas e formas de os tratar nos media serão sempre um reflexo do contexto de quem os escreve. «Todas as tuas vivências vão obviamente afetar as tuas escolhas e eu acho que o facto de os jornalistas terem tendencialmente experiências muito parecidas, estarem fechados numa certa bolha, tem consequências de falta de representatividade e uma dificuldade gigante em teres, leres e saberes outras vozes», defende Margarida. Também Paula Cardoso é perentória sobre a diversidade nas redações – «ela não existe», defendendo que é necessário «reconhecer que aquela distribuição de pessoas [nas redações] não é minimamente representativa da sociedade na qual nós estamos».
Olhando para as questões de distribuição geográfica, o estudo «Profissão Jornalista: Condições laborais, Formação e Constrangimentos» (2017), da OberCom, revela que quase dois terços dos jornalistas têm como região de trabalho a área metropolitana de Lisboa (63,7 %), seguindo-se o Norte (16,6 %). As regiões do Alentejo, Algarve, Açores e Madeira apresentam percentagens inferiores a 5 %, cada.
Ao analisar a composição demográfica das redações e compará-la com a da população que habita em Portugal, percebemos que num país que recebe muitos emigrantes e se veem cruzadas muitas culturas, tal não se observa ao entrar numa redação, como acontece noutras áreas profissionais, em que a maioria dos jornalistas continua a ter nacionalidade portuguesa e ser caucasiano. Por outro lado, observa-se um rejuvenescimento e feminização das redações crescente, mas tal não se verifica nas direções – «aquela imagem horrível dos diretores de jornais sentados no Congresso de Jornalistas, era só homens, 14 ou 15… sim, isso é verdade», partilha Paulo Pena.
Estes dados são conformes com os recolhidos em 2017 pelo Relatório sobre a profissão de jornalista da OberCom. Neste estudo, verificamos que 48,2 % dos inquiridos eram mulheres e que a principal faixa etária compreendia os 35 e os 44 anos (38 %). Paulo Pena também destaca o problema da distribuição etária nas redações: «Já não há diversidade etária, porque nestes processos de despedimentos, […] talvez fosse considerado um mal menor despedir o mais velho do que o mais novo», atentando ainda que «essa diversidade etária é muito importante porque, no jornalismo, nós vamos ganhando qualidades com a idade.» Sobre esta reflexão, Sofia da Palma Rodrigues, jornalista da Divergente, lança a pergunta – «Quantas pessoas que viveram o 25 de Abril estão hoje em dia numa redação? – para frisar que são pessoas cuja «memória não pode ser encontrada num livro.»
De acordo com um documento disponibilizado no site da CCPJ, intitulado de «Total de Titulares de Carteira Profissional de Jornalista a 01/04/2021», existem 5337 jornalistas em Portugal, 40,9 % dos quais são do sexo feminino e 59,1 % do sexo masculino. 98,8 % do total de jornalistas com carteira profissional têm nacionalidade portuguesa.
Paulo Pena destaca ainda que a «diversidade cultural tem também que ver com religião, com a cor da pele, com os gostos por viagens, com gostos e interesses por coisas muito diferentes, e essa riqueza ideal faria com que uma redação tivesse uma ligação muito maior com a sociedade e isso não existe. A maior parte dos jornalistas que eu conheço desloca-se de carro para a redação, não passa a vida sujeito à conversa das pessoas e à forma como estão a ver o mundo e isso passa-lhes um bocadinho ao lado. E, depois, tentam substituir isso por redes sociais, que é a pior coisa que se pode fazer na vida. Essas não são, de todo, o espelho da sociedade.»
Assim, em termos de temas tratados, «a sociedade civil e, mais largamente, a vida quotidiana dos cidadãos, a dos grupos minoritários como as tomadas de posição em sentido contrário ao das correntes dominantes, encontram pouco lugar nos nossos media», como podemos ler no livro de Nobre-Correia já citado. Sofia da Palma Rodrigues defende que «o sítio de onde as pessoas vêm, as pessoas com quem nos cruzamos no nosso dia a dia, e o que nos constitui enquanto seres humanos, é importantíssimo para a forma como olhamos para o mundo», que se refletirá no tom que se usa para tratar determinados temas e até na perpetuação de narrativas fixas e, muitas vezes, erróneas em determinados contextos – tome-se como exemplo o discurso comum de «hipervigilância direcionada para as periferias que não existe no centro», «como os jovens das periferias são os marginais» ou, no desporto, como «ao negro só é permitido que tenha um desempenho máximo», ilustra Paula Cardoso.
 Paula Cardoso, jornalista e fundadora do Afrolink ©Aline Macedo
Paula Cardoso, jornalista e fundadora do Afrolink ©Aline Macedo
Neste sentido, a jornalista destaca a importância da linguagem que se utiliza quando se está a escrever, frisando a importância de através dela se «desconstruir, descolonizar, uma série de conceitos e explicar de uma forma que as pessoas possam entender», acrescentando que tal só é possível «com a diversificação de fontes, de equipas e de aposta nesta formação para a diferença». Embora concorde com o impacto da falta de diversidade nas redações, João Ribeiro, distingue as noções de diversidade e identitarismo, por ver o jornalismo como uma profissão de intermediação. «Não é preciso aquelas conversas de que só uma minoria pode escrever sobre a sua minoria… O papel do jornalista é mesmo fazer a intermediação e criar esses dinamismos sociais.»
Pensar em diversidade no jornalismo, vai para além da composição das redações e a forma como esta enviesa os temas e ângulos das histórias publicadas nos media. É igualmente importante apostar na diversidade de fontes que se usa nas investigações, razão pela qual, para além de tempo, Sofia defende que se tem de ir «aos espaços onde as nossas fontes realmente se encontram.»
Falta de recursos afeta a prática jornalística
«Aquilo que hoje mais atormenta os jornalistas são os constrangimentos económicos. Estão aí as principais censuras, transpostas na diminuição de meios, na redução das equipas, na limitação dos trabalhos. A dependência dos anunciantes é colossal. O medo dos administradores, real. Hoje é difícil ir até ao fim da rua ou até ao fim do mundo à procura de uma boa história. Não há dinheiro. É preciso fazer mais com menos», Felisbela Lopes, em Jornalista, profissão ameaçada (2015).
«Fazer mais com menos» tornou-se paradigmático no jornalismo. Abril de 2021 ficou marcado por mais uma notícia de despedimento coletivo, por parte do grupo Cofina Media – detentor do Correio da Manhã – que ia dispensar 26 trabalhadores. Esta prática tem sido recorrente nos últimos anos e reflete a grande instabilidade laboral da profissão de jornalista.
«O jornalismo quotidiano, nesta fase, está claramente condicionado pelo mercado. Atravessa ainda os efeitos de uma longa crise de sustentabilidade que se instala no jornalismo na viragem do século, com a associação do jornalismo à Internet, que teve reflexos enormes nos meios tradicionais e ainda não ultrapassámos esse problema», diz Pedro Coelho. O grande repórter de investigação da SIC, diz que, apesar disso, as receitas estão associadas à credibilidade dos órgãos de comunicação, algo que só se consegue com jornalismo de qualidade e mais reportagem e investigação, que tem impacto junto do público.
Mas se a falta de recursos financeiros é um problema nos grandes órgãos de comunicação nacionais, nos media alternativos é quase uma característica intrínseca.
Rute Correia explica ao Gerador que um projeto como o Interruptor «só é possível com poupanças pessoais da equipa», constituída por três pessoas. «Temos alguns subscritores a quem estamos sempre eternamente gratos e cujos donativos já têm algum peso no nosso trabalho», diz a jornalista, que ressalva que, apesar de a plataforma não dar prejuízo, ainda não é financeiramente sustentável.
Tal como o Interruptor, há vários meios alternativos que encaram o acesso à informação como um serviço público, negando a vertente comercial. Neste sentido, recusam aplicar paywalls ou ceder espaço publicitário, procurando formas alternativas de se financiar.
O caso do Fumaça é, talvez, o mais paradigmático. Numa tentativa de isolar completamente o jornalismo de quaisquer interesses comerciais, esta plataforma tem como ambição ser financiada apenas pelos seus leitores. O objetivo ainda não foi cumprido, sendo as contribuições individuais – que já rondam os 40 % – complementadas com bolsas de apoio1 ao jornalismo. «O Fumaça é detido por uma associação sem fins lucrativos, então todo o dinheiro que venha é simplesmente para manter a redação a funcionar», explica Margarida David Cardoso.
Ser financiado apenas pelos leitores «é uma coisa que nunca foi tentada e nós queremos ir por aí, porque acreditamos que o jornalismo pago pelas pessoas é o caminho», diz. A jornalista afirma que a aplicação de paywalls cria «uma espécie de elitismo informativo», pois «só determinadas pessoas vão poder ter acesso à informação», o que, na sua opinião, contraria a missão de serviço público do jornalismo. «Isso não significa que não acho que as pessoas devem pagar pelo trabalho do jornalista. Acho que, quem pode, o deve fazer, mas quem não pode também tem de ter acesso à informação», sublinha.
O ensino do jornalismo e as perspetivas de futuro
A formação em jornalismo é, também, um elemento que inevitavelmente tem impacto na prática jornalística atual. Dependendo da academia, país ou até região onde se estuda, são adquiridas diferentes competências que se refletem no exercício da profissão. Estudantes e professores ouvidos pelo Gerador assumem posições díspares, refletindo as diferenças inerentes à pedagogia de cada instituição.
O jornalista Pedro Coelho, que é também professor auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, afirma que existem lacunas na formação, que diz ser, de um modo geral, excessivamente direcionada para a vertente de notícia. «Hoje já ninguém perde tempo com ninguém e as pessoas, se não aprendem na faculdade a fazer reportagem, quando chegam à redação também não vão aprender e criam-se ilusões. A ideia de que muita gente ensina reportagem na faculdade é falsa», afirma.
Paula Cardoso tem uma visão distinta. A jornalista do Afrolink diz que os problemas são mais profundos e podem mesmo estar relacionados com a falta de oportunidades para estagiar nas redações que, segundo afirma, estão relacionadas com a própria universidade onde se estuda. «Se calhar, os alunos que são indicados para os estágios em redações de referência são indicados por alguns professores, que têm um contacto qualquer naquela redação, e que fazem uma pressão qualquer», diz sublinhando que a porta de acesso «é muito estreita» e depende de «cunhas».
Para muitos estudantes de jornalismo a questão coloca-se precisamente nessa vertente, do acesso às oportunidades. Mariana Coelho, aluna finalista da licenciatura em Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, diz ter ingressado nesta área por estar decidida a seguir a vertente de televisão, no entanto, agora, que está «mais enquadrada acerca da realidade do mercado», não consegue ser tão seletiva. «Quero apenas que me deem uma oportunidade de mostrar o que valho», diz a estudante ao Gerador. Já Fátima Santos, que frequenta o mestrado em Jornalismo na Universidade da Beira Interior (UBI) diz que gostava «de experimentar tudo», tendo uma especial vontade de trabalhar o género de reportagem, em imprensa ou rádio.
A estudante dá nota positiva ao curso que frequenta, e diz que este lhe deu uma «visão completamente diferente do que é jornalismo, sobretudo de como é o jornalismo hoje e como quero contribuir para o futuro da profissão». De um modo geral, Fátima Santos diz que o mestrado da UBI é «bastante prático» e descreve-o como «adequado ao jornalismo atual». «Estudamos questões prementes, muitas para as quais ainda ninguém tem resposta, como o combate à cultura da gratuitidade no digital, e a procura de modelos sustentáveis», acrescenta.
Há, no entanto, relatos de experiências diferentes. Helena Lins licenciou-se em Jornalismo, Media e Estudos Culturais no País de Gales, em 2014. Mesmo tendo gostado, diz que sentiu muito a falta de ensino prático, embora tenha tido oportunidades de experienciar essa vertente em estruturas paralelas à universidade como as associações de estudantes, que detinham rádios e revistas próprias. Para colmatar as lacunas que ficaram da experiência académica, já realizou diferentes cursos profissionais no Cenjor – Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas. «Eu gosto dos cursos do Cenjor, porque são cursos práticos, que foi uma coisa que eu não tive», diz a jovem que trabalha agora como jornalista multimédia.
Projetos de jornalismo alternativo: um complemento que revigora o jornalismo lento
Uma das principais consequências do quadro jornalístico que enunciámos, que muitas vezes apenas encontra repercussão nas franjas dos estudos jornalísticos e políticos, sendo até excluídos do ensino em jornalismo ou apresentados enquanto casos de estudo extremos, é o surgimento de projetos de jornalismo alternativo, um tema que é maioritariamente abordado segundo uma proposta académica politizada.
O aparecimento destes projetos não é algo contemporâneo existindo, pelo menos, desde os jornais radicais ou os pauper papers, em Inglaterra, dos séculos xviii e xix. Este tipo de jornalismo nasce devido à necessidade de a população se organizar no seio da classe operária, como meio para educar os leitores e os mobilizar politicamente, pelo que era um trabalho amador, de forma a não se desligar dos seus objetivos e audiência. No entanto, também se encontram exemplos de jornalismo alternativo feito por jornalistas profissionais, mas que aplicam as técnicas jornalísticas de formas que vão para além do seu uso convencional nas redações de hoje em dia.
A origem de projetos de jornalismo alternativo está maioritariamente associada a críticas relativamente à prática jornalística vigente nos meios de comunicação tradicionais, surgindo com projetos que apresentam alternativas com as quais se identificam.
Os projetos de jornalismo alternativo podem ser caracterizados por serem meios de comunicação de pequena escala, que não têm uma visão comercial, estando comprometidos com uma causa e que apostam na participação e interação com o público, por acreditarem que todas as pessoas têm um igual direito a serem ouvidas, não limitando o espaço público à voz de elites e incluindo fontes não oficiais, ou seja, pessoas normais que surgem no papel dos tradicionais especialistas, de forma a potencializar a interatividade que a Internet traz. Ademais, abraçam a missão de descodificar e analisar em profundidade as mensagens disseminadas pelos meios de comunicação mainstream.
 Sofia da Palma Rodrigues, jornalista e cofundadora da Divergente ©Diogo CardosoPor norma, estes projetos, em Portugal, têm surgido pelas mãos de jornalistas profissionais, constituindo pequenas redações com uma periodicidade de publicação inferior à de um meio tradicional, apostando naquilo a que podemos chamar de jornalismo lento, e em que não existe a pressão do imediatismo para a publicação de um artigo ou a cobertura de um tema.
Sofia da Palma Rodrigues, jornalista e cofundadora da Divergente ©Diogo CardosoPor norma, estes projetos, em Portugal, têm surgido pelas mãos de jornalistas profissionais, constituindo pequenas redações com uma periodicidade de publicação inferior à de um meio tradicional, apostando naquilo a que podemos chamar de jornalismo lento, e em que não existe a pressão do imediatismo para a publicação de um artigo ou a cobertura de um tema.
Sofia da Palma Rodrigues conta que a Divergente, «uma revista digital de jornalismo narrativo» que se dedica a «fazer trabalhos de investigação» e «histórias narrativas», «nasceu de uma vontade de um grupo de pessoas de fazer o tipo de jornalismo que acreditava que era necessário, que gosta de fazer, mas que não encontrou espaço para o realizar nas redações tradicionais.» No entanto, apesar de se tratar de uma redação pequena, Sofia partilha que «o jornalismo não deve ser uma coisa de nicho. Nós queremos que o jornalismo que fazemos chegue ao máximo de pessoas possível», pelo que, após a publicação das suas investigações multimédia, tentam que os seus trabalhos ganhem outros caminhos publicando reportagens em jornal e fazendo versões televisivas, ou até dando origem a debates ou versões para rádio. «Ou seja, o jornalismo que fazemos não é em competição com o jornalismo dito tradicional, é um complemento. Não queremos ser competidores, queremos ser parceiros, se possível, e poder ter os nossos trabalhos a passar em órgãos de comunicação social que têm muito mais alcance do que nós», defende.
No caso de Margarida David Cardoso, o que a fez chegar até ao Fumaça foi a vontade de fazer jornalismo de uma forma diferente, por sentir que não se identificava com a pressão e rapidez de escrita em redação. «Não acho que o jornalismo seja, ou deva ser, um negócio. Não estamos a vender nada. Estamos a dar informação». É, aliás, essa uma das razões que identifica para o surgimento de projetos de jornalismo alternativo: a vontade, por parte dos jornalistas, de «sair desta lógica». Por outro lado, considera que existe «uma pressão bastante grande e boa de leitores a exigir coisas diferentes que são um complemento ao jornalismo imediato.»
O Interruptor surge também por terem identificado um espaço por ocupar no jornalismo em Portugal – a «democratização do acesso à cultura e de repensar narrativas à volta da cultura» através do jornalismo de dados, explica Rute Correia. À semelhança dos testemunhos anteriores, Rute defende que projetos desta índole surgem por se ter identificado «uma lacuna nas coberturas mediáticas nacionais, de jornalismo lento ou mais de investigação sobre determinados temas», tentando, assim, ocupar esse espaço – «às vezes, tentam mais do que realmente ocupam», admite. Defende, por isso, que «não faz sentido comparar um Interruptor com o Público, por exemplo. São lógicas muito distintas de produção, são estruturas completamente díspares em termos de dimensão, de política editorial, de tudo mais».
 Rute Correia, diretora, editora e jornalista no Interruptor ©Ricardo CorreiaPara João Ribeiro, um dos fundadores do Shifter, a história do meio dava um documentário, desde logo porque não vieram «da cultura jornalística» – estudaram publicidade e marketing. Aquilo que nasceu como um hobbie, surgiu como uma resposta a uma ausência – «havia esta noção clara de que ‘não havia nada para nós’» numa vertente temática mais ligada à tecnologia e sem inibição quanto ao tempo de produção de uma peça. Porém, nos últimos anos têm feito um processo de profissionalização, tendo inclusive lançado uma revista, mas mantendo uma estrutura não hierarquizada.
Rute Correia, diretora, editora e jornalista no Interruptor ©Ricardo CorreiaPara João Ribeiro, um dos fundadores do Shifter, a história do meio dava um documentário, desde logo porque não vieram «da cultura jornalística» – estudaram publicidade e marketing. Aquilo que nasceu como um hobbie, surgiu como uma resposta a uma ausência – «havia esta noção clara de que ‘não havia nada para nós’» numa vertente temática mais ligada à tecnologia e sem inibição quanto ao tempo de produção de uma peça. Porém, nos últimos anos têm feito um processo de profissionalização, tendo inclusive lançado uma revista, mas mantendo uma estrutura não hierarquizada.
O Afrolink, fundado por Paula Cardoso, surge, numa primeira fase, com o objetivo de «apresentar perfis de uma forma muito resumida, como se fossem telegramas» para dar a conhecer caras e nomes de pessoas africanas e afrodescendentes residentes em Portugal, ou com ligação ao país, nas mais variadas áreas. Porém, posteriormente percebeu que a «partilha de histórias das pessoas que fazem parte da comunidade tinha um acolhimento muito grande e um efeito de contágio positivo, poderoso.» «O Afrolink é esse espaço de acolhimento dessas narrativas diferenciadas e de celebração», resume.
Estes são apenas alguns exemplos de projetos de jornalismo alternativo em Portugal, mas que nos mostram como estes ocupam um papel de complementaridade entre si e em relação aos meios mainstream, pois todos contribuem com uma dimensão editorial distinta no panorama jornalístico português.
Jornalismo narrativo: quando a investigação ganha a forma de livro
Perante o desconforto da lógica que se vive, hoje, numa redação, nem todos os jornalistas optam por uma solução como a de fundar ou integrar um projeto de jornalismo alternativo. Há quem faça por levar a cabo investigações no seu tempo livre, ou quem opte por ser jornalista freelancer permitindo, inclusive, a descoberta de novos formatos para o jornalismo – como é o caso do livro.
Catarina Gomes é um desses exemplos que, após 20 anos a trabalhar no Público, em que embora conseguisse fazer jornalismo lento «era uma coisa que saía, muitas vezes, do meu tempo pessoal e não acho isso um preço justo». Tendo reunido as condições financeiras que permitissem tomar esta decisão, optou sair da redação e dedicar-se a investigações lentas que já deram origem a dois livros, desde que deu este passo, em 2017: Furiel não é Nome de Pai (2018) e Coisas de Loucos (2020); tendo já publicado um livro em 2014 – Pai, Tiveste Medo?
 Catarina Gomes, jornalista freelancer ©Daniel Rocha
Catarina Gomes, jornalista freelancer ©Daniel Rocha
Apesar de já não fazer parte dos quadros da redação, Catarina mantém uma relação, enquanto colaboradora, com o Público, tendo publicado algumas reportagens que integram os seus livros: «No caso deste meu último livro, Coisas de Loucos, quatro das reportagens saíram no Público, que foram as financiadas pela bolsa de jornalismo da Fundação Calouste Gulbenkian, e foram elas que depois chamaram leitores para o livro porque, queira-se, ou não, os jornais são mais lidos do que os livros. Gosto dessa interação, mas, depois de escrever as reportagens para o jornal, aquilo que deixei de fora pode entrar no livro.»
Nesta descoberta pelo jornalismo narrativo/literário, «em que quero contar uma história e vou gerir a narrativa com base factual, mas a construção é minha», Catarina descobriu a sua voz na primeira pessoa. «Pela primeira vez, pude usar o ‘eu’ e, logo aí, foi uma enorme libertação. Claro que o ‘eu’ existia, sempre existiu, mas ali podia assumi-lo e dizer o que sentia. Supostamente, num espaço de reportagem até podes deixar transparecer o que sentes e imaginas, aliás é bom que assim seja, mas não podes dizê-lo com todas as letras e aqui há uma liberdade de o ‘eu’ entrar por ali. Não deixas de ser jornalista e há uma série de fronteiras, mas podes dizer o que sentes, encher aquilo de parêntesis e dizer eu chorei, ri.» Em relação a essas fronteiras, Catarina partilha que o seu limite é a ficção – «eu posso imaginar, mas tenho de dizer que estou a fazê-lo; posso especular, mas tenho de o fazer de forma informada e dizer ao meu leitor que estou a fazê-lo com base nisto.»
Também Miguel Carvalho, jornalista na revista Visão, conta já com sete livros publicados, decorrentes de investigações jornalísticas, exercício que encara como um prolongamento da sua escrita – «faço com os livros o que posso não posso fazer na revista», afirma por entre risos. «Acho que pode ser um caminho, ou seja, eu não me vejo a fazer ficção, gosto de trabalhar os factos, gosto de trabalhar a realidade e reportá-la. Mas, para mim, tem sido, ainda que às vezes com grande esforço familiar, com uma grande sobrecarga, um dos maiores prazeres e acho que Portugal ainda está muito atrás em relação àquilo que é a tradição anglo-saxónica nesta matéria. A investigação jornalística, a grande reportagem, ainda não é propriamente aquilo que as editoras consideram vendável, mas os hábitos também estão a mudar. Estou a sentir que isso pode ter algum mercado para leitores que estão muito cansados do jornalismo do clique», partilha.
A desinformação e as práticas jornalísticas que se deixam contagiar
É uma preocupação crescente. O Reuters Digital News Report 2020 revelava, em junho do ano passado, que Portugal é o segundo país mais preocupado – numa lista de 40 – com a legitimidade de conteúdos digitais, com 76 % das pessoas a manifestarem preocupação em distinguir entre o que é verdadeiro e falso. Este número representa um aumento de 1 % face a 2019, altura em que Portugal já surgia na segunda posição desta tabela. «Uma vez mais, Portugal surge em segundo lugar atrás do Brasil (88 %) e a par do Quénia (76 %) e seguido da África do Sul (72 %)» e dos Estados Unidos (67 %)», lê-se no documento que está disponível para consulta online.
«Do lado oposto, surgem Holanda (32 %), Eslováquia (35 %), Alemanha e Dinamarca (ambas com 37 %), num quadro comparativo em que a média é de 56 % preocupada com a desinformação/fake news, num total de 40 países onde constam, entre outros, o Japão (54 %), Turquia (62 %) ou México (60 %)», diz ainda o relatório.
Estes números confirmam a dimensão de um problema que se tornou cada vez mais difícil de combater. Não sendo um fenómeno novo, a desinformação ganhou novas proporções no meio digital, devido ao desaparecimento de obstáculos inerentes à criação de plataformas informativas. Se antes os jornais de referência eram uma garantia da veracidade da informação, assegurada sob a sua identidade gráfica, hoje essa mesma identidade pode ser usurpada, manipulada e usada de forma falsa. O recurso a ferramentas de edição de imagem, vídeo, som trouxe novas possibilidades na manipulação de conteúdos que possibilitam a imitação de grafismos, a alteração de fotografias e até a reconfiguração de vídeos (veja-se o caso dos deepfakes2).
Mas é errado achar que desinformação é apenas fake news, ou sequer confundir estes conceitos. De acordo com o guia Understanding Information Disorder, elaborado pela organização sem fins lucrativos First Draft News, que realiza e promove investigação na área, há três noções que importa distinguir: a desinformação, que são conteúdos falsos e deliberadamente criados para prejudicar uma pessoa, grupo social ou país; a misinformation,termo sem tradução que descreve uma informação que é errónea mas que não foi criada com a intenção de enganar (incluem-se aqui informações com datas erradas, ou descontextualizadas, fotografias usadas fora do seu enquadramento, erros de tradução ou até sátiras humorísticas que são encaradas como informação séria). Por último, existe ainda a mal-information, que é informação verdadeira utilizada de forma instrumental para manipular (aqui incluem-se, por exemplo, gravações de conversas privadas que são divulgadas fora de contexto, para prejudicar uma pessoa ou entidade). Todos estes conceitos podem ainda ser divididos em subcategorias, de acordo com o tipo de conteúdo a que se referem. O problema é, por isso, complexo e cada vez mais difícil de combater.
A indiferenciação de conteúdos que acontece nas redes sociais, torna ainda mais complicado fazer a distinção entre a verdade e a mentira. «O que a minha experiência me diz é que nem as pessoas mais esclarecidas conseguem», diz o jornalista Miguel Carvalho. «Eu recebo partilhas, às vezes, de pessoas próximas, que estão a partilhar uma coisa que não leram. Que não leram, que leram diferente, que leram o título, mas o título levou-os para outra coisa e, se calhar, se pensassem duas vezes, já nem sequer partilhavam», explica. «As pessoas querem cada vez mais duas coisas que são extremamente perigosas: querem narrativas simples e, sobretudo, narrativas simples que vão ao encontro àquilo que já pensam. Coisas que reforcem a sua trincheira, seja ideológica, seja religiosa, e já sabem muito bem onde procurar», diz o grande repórter da Visão, referindo-se em particular às informações erradas ou teorias da conspiração disseminadas por movimentos de extrema-direita, nas redes sociais.
Pedro Jerónimo, investigador do LabCom, diz que parte do problema está nas próprias práticas jornalísticas atuais. «A pressão de ter de se publicar rapidamente leva, ou tem levado, a que se degradem princípios de verificação que eram assumidos como sagrados no jornalismo», afirma. «Quando isso acontece, estamos a correr o risco de não estar a publicar informação devidamente verificada. Porque é que surgiu a necessidade de aparecerem “Polígrafos” e projetos desta natureza?», questiona.
O académico refere-se à prática de fact-checking, que tem vindo a ganhar maior destaque, através de programas específicos dedicados a desmentir enganos provocados pelas redes sociais. O Observador é um dos órgãos de comunicação social nacionais que tem vindo a apostar nessa vertente, realizando atualmente «cerca de 50 fact-checks por mês», segundo o diretor-geral. Apesar disso, Rudolf Gruner diz que é como «tentar travar uma maré com as mãos». «Há água a passar por todo lado, porque isso está tão espalhado, é tão difícil de controlar», lamenta.
A desinformação e fenómenos afins não são apenas um desafio dos media nacionais. Os jornalistas de órgãos de comunicação local contactados pelo Gerador também assumem a preocupação e muitos criticam a falta de rigor de algumas redações. «Nós próprios conhecemos vários casos de pessoas que se dizem jornalistas, e de órgãos de comunicação que se dizem órgãos de comunicação, em que publicam as maiores barbaridades sem confrontarem fontes e sem confirmarem aquilo que estão a escrever. E daí que, depois, essas “notícias” muitas vezes se tornam virais, quando as verdadeiras passam um bocadinho ao lado», diz Gina Almeida, jornalista da Rádio Covilhã. «Às vezes o clickbait é mais importante do que a notícia», acrescenta.
O jornalista Paulo Pena realizou uma investigação sobre o tema das notícias falsas e editou-a em formato livro – Fábrica de Mentiras: Viagem ao Mundo das Fake News, que foi lançado em 2019. Para o jornalista, este problema é um grande desafio para a profissão, na medida em que também os jornalistas podem ser levados pela corrente do engano. «As redações não estão preparadas para combater a manipulação – que é cada vez mais complexa – da informação gerada nas redes sociais», diz, sublinhando que, no caso dos movimentos extremistas, há «estratégias próprias para fazer com que a comunicação social olhe para eles».
Surge, então, a pergunta inevitável: Como podemos combater isto? «De todas as maneiras, olhando para isto com sentido crítico, não publicando notícias sobre assuntos [destes], sobre declarações de políticos que pretendem apenas gerar um efeito e mais nada. Porque, se não, o que estamos a valorizar não é a informação que damos às pessoas, é o político que diga o maior disparate, não é? E isso não tem fim», afirma Paulo Pena. «Os jornais, as televisões e as rádios não são espaços infinitos, nós escolhemos o que transmitimos, o que dizemos, o que publicamos», diz, afirmando que, por esse motivo, a escolha deve ser criteriosa.
O lado do leitor, uma questão de literacia
Para Nobre-Correia, em Media, Informação e Democracia, os «disfuncionamentos da democracia portuguesa são muito evidentes», havendo inclusive quem diga que se trata de uma «caricatura de democracia». Como explicações ou sintomas, o autor refere «o claro baixo nível cultural da população, consequência de um ensino deficiente», o «facto de as estruturas ligadas aos partidos, sindicatos, ordens, fraternidades e demais grupos de pressão terem tomado conta das estruturas do aparelho de Estado» e uma «notória ausência de cultura democrática».
Esta noção de crise democrática portuguesa não pode ser dissociada do passado histórico, que inclui uma ditadura, da qual fazia parte um sistema de censura, e que veio condicionar a «maior parte da História da Imprensa em Portugal», aponta Filipe Alves, em «Fundações jornalísticas: em busca de um novo modelo de negócio para a imprensa» (2014). O autor aponta ainda os «seculares fracos hábitos de leitura dos portugueses» como um fator para o agravamento da crise que o setor jornalístico português atravessa quando comparada à de outros países, o que encontra uma relação com a indicação de um baixo nível cultural da população de Nobre-Correia.
Perante este quadro, há que atentar que, o que pode parecer uma informação básica para um jornalista, pode não o ser para um leitor. Por vezes, não é evidente a distinção, por exemplo, entre géneros jornalísticos. Trata-se de uma crónica (que se define por ser um artigo de opinião, não de informação), de uma notícia, uma reportagem, uma entrevista ou, até, de um conteúdo patrocinado? Essa falta de clareza pode, por vezes, gerar desinformação, reações extrapoladas ou até uma falta de confiança na imparcialidade dos meios de comunicação. Esta é uma consequência de um défice do ensino em Portugal: «Acho que nós, em Portugal, ainda não fizemos um investimento nos cursos. Sobretudo na formação ao nível da literacia mediática estamos ainda muito afastados dessa possibilidade. Inclusivamente, noutros países, a literacia mediática é trabalhada desde o ensino básico. Nós aqui não temos essa preocupação e eu acho que isto se nota agora», expõe Pedro Coelho. O jornalista associa ainda a «incivilidade que circula nas redes sociais» como «fruto do grau de iliteracia mediática que as pessoas têm».
No entanto, para combater este tipo de questões, existem projetos que se propõem a melhor informar os jovens sobre o contexto jornalístico. Exemplo disso é o projeto de literacia para os media e jornalismo, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, na sequência do 4º Congresso de Jornalistas Portugueses. Esta proposta foi apresentada pelo sindicato em 2017 ao Ministério da Educação, tendo sido aprovada dois anos depois, e arrancado sob a forma de piloto a 26 de janeiro de 2019. Envolveu a formação de docentes, por jornalistas e académicos especialistas na área do jornalismo, do 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário de 40 agrupamentos de escolas distribuídos pelas regiões do Alentejo (Évora), Algarve (Faro), Centro (Águeda), Lisboa e Norte (Porto). Sobre esta iniciativa, Catarina Gomes diz-nos que se trata de «eles, [jovens], perceberem que olham para uma informação e têm de ir ver de onde vem, se a fonte é interessada ou desinteressada, se aquilo parece demasiado estranho, ou seja, dar-lhes instrumentos para eles poderem identificar se aquilo que lhes estão a dar é verdadeiro ou não. Acho que isso é essencial. Se não o podes fazer com adultos, fazê-lo pelo menos com miúdos que crescem com redes sociais e que põem tudo no mesmo nível.»
Outro exemplo será a operação 7 Dias com os Media, uma semana de incentivo à educação para os media e a melhores níveis de literacia mediática que o Grupo Informal sobre Literacia Mediática (GILM) promove anualmente desde 2013. Esta é uma iniciativa dirigida à sociedade em geral, cujas edições contam com participantes oriundos de escolas, associações, bibliotecas, clubes, meios de comunicação social, universidades ou famílias, e em que o resultado fica registado e disponível na plataforma da iniciativa.
Margarida David Cardoso defende ainda que «cabe também aos órgãos de comunicação promover esse tipo de literacia e estar consciente dela, fazendo pequenos ajustes para melhorar a prestação dos leitores.» João Ribeiro acrescenta que não podemos estupidificar os leitores: «se o jornalismo começar a envolver mais todas as pessoas, a falar mais sobre todos os assuntos, a representar mais geograficamente todas as áreas do país, vamos começar a ter uma sociedade muito mais informada e emancipada nesse sentido». Da mesma forma, Rute Correia defende que «a iliteracia mediática também se combate com mais meios locais, mais meios comunitários, mais oportunidades para pessoas que estão fora do sistema e da lógica jornalística.»
No entanto, e tendo em consideração a tendência, cada vez maior, para a predominância do jornalismo online em detrimento de jornais/revistas em papel, Sofia da Palma Rodrigues alerta para a necessidade de se «traçar um perfil da população portuguesa», lembrando que «há muitos milhões de pessoas em Portugal que não têm uma ligação de Internet em casa», para além de ter uma população envelhecida, pelo que o meio digital pode não estar à mão de qualquer cidadão. Falamos, então, de literacia digital.
Só tendo o conhecimento acerca do ambiente digital e as ferramentas que permitam, ao leitor, distinguir o que será uma informação credível, será possível prevenir partilhas, nomeadamente nas redes sociais, que, por vezes, promovem uma desinformação generalizada. «Nós não estamos habituados a digerir a informação que recebemos. Existe uma urgência tão grande de partilhar… Da mesma forma que os media têm esta obsessão de serem os primeiros a dar, depois no nosso espaço, de relações, existem também aquelas pessoas que têm a urgência de serem os primeiros a dar coisas», aponta Paula Cardoso.
Para combater estas iliteracias, Sofia acredita que o jornalista deve ir ao encontro das pessoas, explicando-lhes a importância do jornalismo na sociedade. «Essa ideia de que as pessoas têm de saber a importância que nós temos, acho que é bastante arrogante. Num bom exercício de cidadania as pessoas deveriam ter de saber, mas a maior parte trabalha 12 horas por dia e anda num lufa-lufa de transportes públicos, chega a casa e não tem tempo. Se não houver esse esforço do jornalista em ir ter com as pessoas também, eu acho que vai ser muito muito difícil.»
Quando, no jornalismo, se cede às mais variadas lógicas de pressão e imediatismo, corre-se o risco de desumanizar a prática que funda o quarto poder numa democracia e que tão importante papel desempenha na sua manutenção. Se ao jornalista cabe um papel de intermediação, recolha de várias vozes, contextualização profunda e pluralidade de temas e formas de os tratar, então é preciso tempo e recursos que o permitam não desfigurar o seu propósito. Catarina Gomes aponta que, no jornalismo mainstream, não é habitual assumir-se a ignorância, tendo um «lado muito arrogante». No entanto, gostava que mais jornais apostassem nesse «lado de humildade», partilhando o que sabem e o que não sabem, afinal os jornalistas são pessoas, que também erram e que terão sempre os seus contextos e subjetividades durante a escrita de uma peça jornalística. O método jornalístico permite-lhe ganhar ferramentas que o aproximem da objetividade, mas tudo o que se escreve terá sempre um fundo de subjetividade – desde logo, na escolha de temas a investigar ou notícias a publicar.
Embora o jornalismo lento concretize funções vitais, não podemos esquecer-nos que o jornalismo mais imediato e menos profundo também ocupa um papel importante, afinal será sempre útil para uma sociedade ter acesso a notícias breves ou de última hora. No entanto, tal não deve descurar em práticas que cedam a lógicas do mercado, implicando um prejuízo na qualidade do jornalismo. Tal conduz à descredibilização do jornalismo, promovendo para uma desinformação generalizada, assim como impacta as questões de literacia mediática e digital.
No entanto, o quadro jornalístico português não deve ser manchado de cores fúnebres. Existe, sim, um espaço para o jornalismo lento, de várias páginas, assim como pessoas que o procuram ler, tal como criar. Exemplo disso é o surgimento de cada vez mais projetos de jornalismo alternativo que se têm vindo a apoiar na construção de uma comunidade de leitores. Porém, todos os órgãos de comunicação, sejam eles alternativos ou mainstream, ocupam o seu lugar na esfera mediática e todos apresentam relevância. Não se trata, aqui, de uma relação de canibalismo, mas sim de complementaridade – uns ocupam o espaço que outros não conseguem ocupar, tratam temas não abordados por outros ou apresentam metodologias e formas de contar histórias de vida de maneiras díspares. Pensar sobre o futuro é fazê-lo sempre com base na incerteza. Pensar o jornalismo é tentar prever um mundo em mutação diária. Mas no talento, criatividade e trabalho dos jornalistas portugueses conseguimos encontrar bons exemplos de jornalismo lento – existe esperança e um corpo que se move por entre o aparente caos. Cuidemo-lo.
Sugestões jornalísticas dos nossos entrevistados:
Órgãos de Comunicação Social/publicações nacionais:
Fumaça
Shifter
Divergente
Jornal Mapa
P2 (suplemento semanal do Jornal Público)
Mensagem de Lisboa
Gerador
Órgãos de Comunicação Social/publicações internacionais:
Delayed Gratification
The Atlantic
The Baffler Magazine
Alma Preta
Piauí
The Pudding
The Mark Up
Bristol Cable
The New York Times
Consórcio Investigate Europe
Agência Pública
Programas/podcasts:
Slow Burn (podcast da Slate)
Linha da Frente (RTP)
Grande Reportagem SIC
*Esta reportagem foi inicialmente publicada na Revista Gerador de maio 2021, que podes encontrar, aqui.
Artigo originalmente publicado em Gerador a 23.08.2021
- 1. As bolsas de investigação jornalística são apoios financeiros pontuais a que os jornalistas se podem candidatar para obter financiamento que possibilite concretizar projetos de investigação. Habitualmente requerem a apresentação de um tema e plano da reportagem a desenvolver, bem como a previsão dos custos que esta envolve. Há várias entidades a nível internacional que se dedicam a este apoio. Em Portugal, destacam-se a Bolsa de Investigação Jornalística da Fundação Calouste Gulbenkian, as Bolsas de Jornalismo em Saúde, atribuídas pelo Sindicato de Jornalistas em parceria com a farmacêutica Roche, e a Bolsa Reportagens Essenciais Gerador.
- 2. A palavra deepfake refere-se a conteúdos multimédia falsos, mas que aparentam ser genuínos, pois resultam da manipulação informática de sons, vídeos ou imagens digitais preexistentes. A técnica recorre a ferramentas de inteligência artificial que, permanecendo fiéis às características do conteúdo editado, alteram a mensagem que este transmite. Um exemplo célebre é o vídeo em que Barack Obama chama Donald Trump de «idiota completo», e que mostra no final que as palavras não tinham sido proferidas por Obama, mas pelo comediante Jordan Peele.