Duas biografias de Fernando Pessoa criam confronto de autores e ‘guerra civil literária’ em Portugal
Fernando Pessoa (FP), para muitos o maior escritor em língua portuguesa de todos os tempos (mesmo o Nobel José Saramago não faria nem cosquinha), morreu em Lisboa em 1935, aos 47 anos, numa relativa obscuridade que corria o risco de embalsamá-lo no anonimato. Tinha publicado apenas um livro, “Mensagem”, que apesar dos versos patrióticos ficara em um estapafúrdio segundo lugar num concurso literário público, vencido por um puxa-saco do ditador Salazar. Em menos de um século, porém, Pessoa se mudou de armas e bagagens para a suíte presidencial do cânone – não só da literatura portuguesa, mas universal.
Quinze anos após a morte do poeta, João Gaspar Simões lançou a primeira biografia de Pessoa, que se tornou um paradigma na interpretação freudiana: a morte prematura do pai, o segundo casamento da mãe e a intrusão do padrasto teriam abalado a psique daquele que até então era “o menino da sua mamãe”. Bem ao contrário de Jean-Paul Sartre, cujo pai morreu quando ele tinha um ano de idade, e por isso se pavoneará de que sem a figura paterna nunca desenvolveu um superego.
Portugal é um país pequeno (10 milhões de habitantes), com um território menor que o estado de Santa Catarina. Daí que a maior parte da “intelligentsia” lusa se conheça até em carne e osso – às vezes cordialmente, às vezes belicosamente. O próprio João Gaspar Simões viveu 14 anos com a escritora Isabel da Nóbrega, que depois o trocaria pelo então ilustre desconhecido José Saramago. Simões retaliou como os literatos às vezes fazem: com um sardônico roman à clef, “As Mãos e as Luvas”, em que Isabel aparece como Albertina (o nome da personagem que inspira ciúmes excruciantes ao narrador de “Em Busca do Tempo Perdido”, de Marcel Proust). Simões morreu em 1987, por isso não teve o prazer mesquinho de ver Saramago por sua vez trocar Isabel pela espanhola Pilar del Rio. A partir daí, os livros de Saramago trouxeram dedicatórias à espanhola, mesmo nas obras escritas quando ele nem sequer a conhecia e já havia dedicado antes a Isabel (cujas dedicatórias sumiram). Fechando o círculo, em 1984 Saramago, abastecendo-se na biografia de Simões, escreve “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, protagonizado por um dos heterônimos de FP (Reis “morou” no Brasil, ganhando a vida como professor de latim), e que alguns consideram o melhor romance do nobelizado luso.
Na década de 1960, o prestígio de FP transpõe as fronteiras portuguesas. Em 1961, Octávio Paz (Nobel em 1990) publica uma das exegeses mais penetrantes da obra do poeta: “El desconocido de sí mismo”. O mexicano vê os três supremos heterônimos (Caieiro, Campos e Reis) como “os protagonistas de um romance que Pessoa jamais escreveu”. Mas com uma diferença crucial: “o português não é um inventor de poetas-personagens, mas um criador de obras de poetas diferentes – o que muda tudo.”

No final daquela década, Roman Jakobson assina uma hermenêutica da obra pessoana, e, no New York Times Review of Books, Michael Wood entroniza o poeta luso como a grande figura até então desconhecida da geração de James Joyce e Pablo Picasso. Em Portugal, em 1982, sai a compilação “O Livro do Desassossego”, do semi-heterônimo Bernardo Soares. Até hoje a obra mais vendida de Pessoa, o livro ganha rapidamente quatro edições em inglês. Em 1994, Harold Bloom inclui Pessoa entre os 26 olímpicos autores de seu “Cânone Ocidental” (em que não despontam Machado de Assis, nem Dostoievsky ou Flaubert). Por fim, George Steiner faz na New Yorker um panegírico quase ditirâmbico de FP, canonizando os heterônimos: “É raro um país e uma língua adquirirem quatro grandes poetas em um único dia. Foi precisamente o que ocorreu em Lisboa a 8 de março de 1914.” Hoje, FP é o escritor português mais traduzido no mundo, combustível de uma indústria acadêmica que ombreia com a de James Joyce.
Apesar dessa notoriedade planetária (em Lisboa já houve que resmungasse: “Tanto Pessoa até enjoa!”), durante quase 70 anos não surgiram em Portugal outras grandes biografias de FP – não obstante a existência do mítico baú de madeira escura, uma verdadeira arca do tesouro onde ficaram guardados 27.542 textos inéditos do autor. Até que, no final do ano passado, foram lançadas de rajada duas novas biografias do poeta dos heterônimos, com cerca de mil páginas cada. Embora de castas literárias diferentes, os autores são conhecidos no panorama cultural português. Por isso, a natureza seguia o seu curso – até que uma matéria de jornal entornou o caldo, com uma causa bellis que alinhou os intelectuais lusos em duas barricadas vociferantes. Houve até quem aproveitasse a refrega para lavar velhas roupas sujas – afinal, como suspirou um dia o autor americano Gore Vidal: “Toda vez que um amigo meu faz sucesso, eu morro um pouco”.
O primeiro calhamaço (1136 páginas na edição brasileira) foi “Pessoa, Uma Biografia”, de Richard Zenith. O livro saíra em 2021 nos EUA, chegando à final do prêmio Pulitzer. O autor é americano e desembarcou em Lisboa em 1987, interessado na tradução de trovas medievais – e ficou até hoje, naturalizando-se português. Tornou-se um perito em FP, organizando e prefaciando edições do poeta.
No final de 2022, é lançada “O Super-Camões” (FP via-se como um upgrade lírico do autor de “Os Lusíadas”), de 960 páginas (ainda inédita no Brasil). O biógrafo – o sociólogo e crítico João Pedro George – está acostumado a cutucar vespeiros sem luvas de amianto. Em 2016 publicou uma obra – editada por Walter Hugo Mãe – alegando que a ficcionista best seller Margarida Rebelo Pinto plagiava a si própria, requentando e reciclando passagens dos seus romances anteriores nos novos títulos. A autora chegou a processar o crítico, exigindo a recolha dos respectivos exemplares, mas perdeu a causa. George, dono de uma prosa apetitosa, é também autor de “Puta Que Os Pariu!”, biografia do enfant terrible mais escabroso da literatura portuguesa no século 20, Luiz Pacheco.
As duas biografias nasceram com ambições diferentes. Zenith consumiu doze anos na sua, projetada como - se não definitiva - uma referência acadêmica obrigatória, embora sem jargões abstrusos: “Minha abordagem foi ‘cinematográfica’. Tentei apresentar a vida de Pessoa como um filme, sem me impor demasiadamente’’. Já o livro de George se assume como popular, escrito em dois anos e sob encomenda: “Quis democratizar Pessoa e mostrar que ele não é nem tem de ser de uma confraria de académicos.“ A capa de “O Super-Camões” traz uma imagem que mimetiza o estilo de Roy Lichtenstein, invocando as histórias em quadrinhos. Para se compreender as divergências (que alguns chamam de picuinhas fúteis e outros de alteridades epistemológicas) dos biógrafos, convém fixar os respectivos contextos histórico e literário (todos temos direito à nossa própria opinião, mas não aos nossos próprios fatos).
Fernando António Nogueira Pessoa – aquele que George chama de “o mais importante bebê do século 20 português” - nasceu em Lisboa em 13 de junho de 1888, dia de Santo António. Quando tinha cinco anos, o pai morreu de tuberculose, deixando a família em situação precária, que ditou a mudança para uma casa acanhada e o leilão da mobília. O apuro foi resolvido pelo novo casamento da mãe com um oficial da marinha, nomeado cônsul português em Durban, na África do Sul, então parte do império britânico (Gandhi, de quem o Pessoa adulto será admirador, também morou em Durban na mesma época). FP viverá nove anos em solo sul-africano, dos 8 aos 17. Virtualmente bilíngue (escreveu em inglês seu primeiro poema) será um aluno brilhante de escolas britânicas, e considerará estudar em Oxford ou Cambridge, sonho que não se viabilizou - mas por um triz a literatura em português não perdeu o seu gênio, que no leito de morte escreverá sua última frase em inglês.
Em 1905, o jovem de dezessete anos voltou sozinho para Lisboa. Nos estertores da monarquia constitucional, Portugal vive uma convulsão política. Em 1908 o rei D. Carlos e o príncipe herdeiro são assassinados a tiros no centro de Lisboa. Em 1910 é proclamada a República (a segunda república declarada no continente europeu). A instabilidade se agrava (24 revoluções e 46 governos até 1926), e assoma o autocrata que comandará o país durante quarenta anos. E que, após uma perplexidade em cima do muro (o poeta chegou a enviar um exemplar de “Mensagem” a Salazar – e aliás também mandou um a Cecília Meireles, depois de lhe dar um chá de cadeira num café lisboeta) será a nêmesis crepuscular de Pessoa.
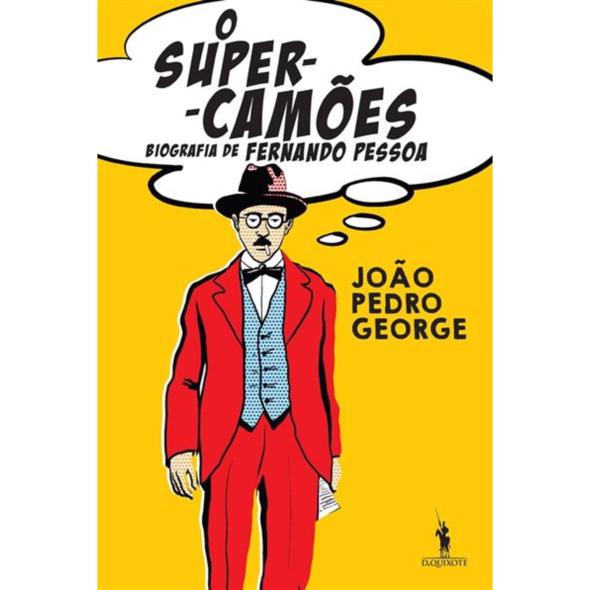
António de Oliveira Salazar nasceu na liliputiana aldeia do Vimieiro (580 habitantes), numa família de camponeses. Dirá: “Devo à Providência a graça de ser pobre”. Entrou na política em 1928, como ministro das Finanças, e em 1932 assumiu o poder total. Começava o Estado Novo, o governo autoritário que sujeitará Portugal e um império que ainda incluía Cabo Verde, Angola, Moçambique (na África), Goa, Damão e Diu (na Índia), Timor-Leste (no sudeste asiático) e Macau (na China). Era um regime de partido único, a União Nacional, com três alicerces populistas: os três Fs – Futebol, Fátima e Fado. Foram criados o Secretariado de Propaganda Nacional, para a doutrinação ideológica, e a Mocidade Portuguesa (obrigatória dos 7 aos 25 anos), no modelo da Juventude Fascista Italiana. A repressão coube a infame PIDE (Polícia Internacional de Defesa do Estado), que montou um campo de concentração em Cabo Verde. O primeiro médico da colônia penal do Tarrafal, que lá permaneceu 16 anos, logo no primeiro dia rosnou aos prisioneiros: “Não estou aqui para vos curar, mas para emitir vossas certidões de óbito”.
A doutrina de Salazar era arcaica, ruralista e tacanha: a nação-aldeia. Taciturno, detestava viajar para o estrangeiro (morria de medo de avião). Um sintoma burlesco desse provincianismo foi a proibição da Coca-Cola, então uma novidade mundial. Salazar justificou-se perante o atônito representante da empresa americana: “Portugal é um país conservador, paternalista e – Deus seja louvado – atrasado, termo que considero mais lisonjeiro do que pejorativo. O senhor arrisca-se a introduzir aqui aquilo que detesto acima de tudo: o modernismo. Estremeço perante a ideia dos vossos caminhões a percorrer, a toda a velocidade, as ruas das nossas velhas cidades, acelerando, à medida que passam, o ritmo dos nossos hábitos seculares.” Pitorescamente, a esquerda também era contra aquela bebida, a que chamava de “a água suja do imperialismo”. Enquanto isso, FP – um eterno freelancer -, improvisado em publicitário na agência Hora, a primeira de Portugal, tinha acabado de cunhar um slogan para a então exótica Coca-Cola: “Primeiro estranha-se, depois entranha-se”. Salazar, embora abstêmio, encorajava o consumo do vinho, pela importância econômica do produto: “Beber vinho é dar de comer a um milhão de portugueses.”
Não que FP – uma minoria de um - tivesse um projeto político unívoco: “Falaram-me em homens, em humanidade, /Mas eu nunca vi homens nem vi humanidade./ Vi vários homens assombrosamente diferentes entre si/, Cada um separado do outro por um espaço sem homens.” Versos que recordam muito uma frase icônica do ideólogo francês do Contra-Iluminismo, Joseph de Maistre. Pessoa ridicularizou o ditador em versinhos impagáveis: “Este senhor Salazar/ É feito de sal e azar./ Se um dia chove,/ A água dissolve/ O sal,/ E sob o céu/ Fica só azar, é natural”. Ou: ““Coitadinho/ do tiraninho!/ Não bebe vinho./ Nem sequer sozinho…/ Bebe a verdade/ E a liberdade./ E com tal agrado/ Que já começam/ A escassear no mercado”. Finalmente, Salazar proibiu a publicação na imprensa de qualquer texto do poeta, que recebeu uma visitinha da PIDE. Sobre Hitler, FP ainda terá tempo de dizer: “Até o bigode dele é patológico”. O ditador luso morreu em julho de 1970, e foi enterrado em sua terra natal. Indiscutivelmente parcimonioso e austero, a casa onde veio ao mundo tem uma placa: “Aqui nasceu o dr. Oliveira Salazar, um senhor que governou e nada roubou”.
No século 19 e início do 20 os escritores portugueses imbuíram-se de um amor que ousava dizer o seu nome: a saudade – o espírito elegíaco inspirado pela melancolia nostálgica e sua languidez agridoce. O poeta Guerra Junqueiro e o romancista Eça de Queiroz formaram um grupo sugestivamente denominado “Os Vencidos da Vida”. Antero de Quental, ligado à Primeira Internacional e fundador do Partido Socialista, suicidou-se com um tiro na cabeça, num banco de jardim onde estava escrita a palavra “Esperança”. O ideólogo do Saudosismo foi Teixeira de Pascoaes, que postulou o Sebastianismo, o regresso messiânico do rei D. Sebastião, morto aos 21 anos em 1578 no campo de batalha, que com a utopia do Quinto Império sensibilizará do padre António Vieira à FP, passando por Antonio Conselheiro em Canudos. Em 1915, Pessoa lançará a revista modernista luso-brasileira “Orpheu” (o diretor no Brasil será Ronald de Carvalho). A publicação causa: os autores são considerados “doidos-varridos”, e por isso no segundo e último número a “Orpheu” publica poemas de um interno num manicômio lisboeta. Em Paris, Sá-Carneiro, o melhor amigo de Pessoa, se mata aos 26 anos, emborcando cinco frascos de estricnina. Não é à toa que, segundo um humorista, a música típica portuguesa – o fado – é “uma espécie de marcha fúnebre cantada”.
A peculiaridade de FP são os heterônimos, que se distinguem de pseudônimos por terem obra e biografias individuais – alter-egos de um ego, personagens que são autores. “São entidades com uma existência própria semelhante à vida, com sentimentos que não tenho e opiniões que não aceito. Seus escritos são obras alheias, ainda que, por casualidade, sejam minhas.” O primeiro - Chevalier de Pas – brotou quando Pessoa tinha apenas seis anos. Os três mais proeminentes, entre mais de 70 (incluindo o astrólogo Raphael Bandaya, que fez o mapa astral dos colegas, e de Napoleão e Shakespeare) são o rústico arcádico Alberto Caieiro, o futurista Álvaro de Campos e o clássico pagão Ricardo Reis. Etimologicamente “pessoa” vem do grego “persona” – máscaras. Pessoa é como um coro de si mesmo (o “ortônimo”), destacando-se alternadamente em identidades caleidoscópicas, que se revezam no palco como que por portas giratórias. Como, segundo o mito grego da gênese do teatro, terá acontecido com Téspis, o primeiro ator e criador do diálogo dramatúrgico. No Livro do Desassossego, há a confissão: “Sou a cena nua onde passam vários atores representando várias peças”. Enfim, o poeta “fingidor/que chega a fingir que é dor/a dor que deveras sente”. Os nós que atam e desatam o eu.
**
Pois bem: estamos em 13 de fevereiro de 2023, e as biografias de Zenith e George convivem pacatamente nas livrarias. Naquele dia, a casa cai. Com chamada na primeira página, o “Expresso”, o mais influente jornal português, publica um texto da jornalista Luciana Leiderfarb: “O Desassossego de Uma Biografia”. Nela, Zenith informa que, folheando o livro de George, ficou mortificado ao verificar que tinha sido uma inspiração abundante - mas não creditada. A palavra “plágio” nunca é proferida, mas se fala em “semelhanças flagrantes”. Para Zenith, os capítulos iniciais de George foram “obviamente” inspirados na sua biografia. Dispara uma flecha incendiária (“Bastava-lhe fazer umas notas de rodapé!”) e aponta erros fatuais em “O Super-Camões”, “fruto da pressa com que o livro foi feito”. George refuta qualquer pilhagem, e defende dados discrepantes da biografia de Zenith (como o de que FP tinha telefone em casa nos seus últimos anos de vida).
George já se penitenciara por um equívoco: citar como verdadeiras três cartas de Pessoa a Sá-Carneiro, que não passam de uma “fantasia literária” do autor contemporâneo Pedro Eiras – as cartas autênticas se perderam em Paris, e viraram um Santo Graal da demanda pessoana. Prometeu corrigir o erro na próxima edição, e, da trincheira do seu blog, revidou com chumbo grosso, no post “O Guardador de Pessoa” (paráfrase do poema de Caeiro, “O Guardador de Rebanhos”). Nele, George resume outra biografia: a de Richard Zenith – e não propriamente como hagiografia. Diz que ao chegar a Portugal em 1987 o americano “descobriu o petróleo pessoano”. Que a edição, prefácio e tradução de Zenith para o inglês de “O Livro do Desassossego” vampirizou a edição anterior da especialista lusa Teresa Sobral da Cunha, sem mencionar a fonte. A esta acusação, Zenith respondeu na época: “Não entendo o que a Dra. quer. Não gostou que eu traduzisse a partir das suas novas leituras, quando as achei melhores? Deveria ter traduzido a partir de leituras inferiores?”
George arrola torrenciais objeções à biografia de Zenith por outras autoridades pessoanas, como os portugueses José Barreto e Patrício Ferrari, e o colombiano Jerônimo Pizarro. E questiona a primazia de Zenith numa série de questões, como as analogias entre FP e Paul Valèry, Edvard Munch e Robert Musil. As divergências mais intrigantes residem nos âmbitos sexual e político do biografado – e não têm a ver com inépcias, mas com perspectivas diferentes dos biógrafos, às vezes conjecturais, e inflamadas pelas ubíquas guerras culturais contemporâneas.
FP, embora um poeta cerebral (Carlos Drummond de Andrade reclamou disso), não se enclausurava numa torre de marfim e era apaixonado pela política, ainda que jamais tenha se filiado a um partido. Foi republicano, mas se desapontou com a República. Zenith e George discordam sobre as ideias de FP quanto ao colonialismo e ao racismo. O primeiro realça observações do poeta quando este, criança e adolescente, vivia na África do Sul. Segundo Zenith, no ginásio de Durban o menino aprendeu a “ridicularizar aqueles que não eram brancos como ele e todos os outros da escola”. O biógrafo cita uma piada de Pessoa sobre uma prova escolar: “Além dos zulus, quais são as principais espécies de gado em uso na África do Sul?” Diogo Ramada Curto, historiador luso e autor de “O Colonialismo Português em África: de Livingstone a Luandino”, duvida que a “brincadeira de mau gosto” ateste o racismo do garoto: “Pode até ser vista como uma caricatura das posições dos professores e da missão civilizadora dos europeus”. Como disse alguém, será que podemos culpar os millennials alemães pelo Holocausto? (Aliás, FP considerou editar “Protocolos dos Sábios do Sião”, a fraude antissemita sobre uma suposta conspiração judaica mundial, que inspirou dos pogroms ao nazismo, e continua a intoxicar na internet. O poeta, por sinal, descendia em parte de judeus convertidos.)
Outra frase “problemática” de FP citada por Zenith: “A escravatura é lógica e legítima; um zulu não representa coisa alguma de útil neste mundo. Civilizá-lo, quer religiosamente, quer de outra forma qualquer, é querer-lhe dar aquilo que ele não pode ter. O legítimo é obrigá-lo, visto que não é gente, a servir os fins da civilização”. De novo, as interpretações colidem: um acha que é prova conclusiva de racismo, o outro (e mais Teresa Rita Lopes) que foi retirada do contexto e não pode ser lida literalmente – quem sabe até um sarcasmo de um agente provocador contra o projeto colonial. Como opina George: “Pessoa guardava tudo, mesmo as bobagens que escrevia em horas de mau humor, coisas que nunca publicou e que jamais pensaria publicar, mas que sobreviveram na arca.” José Barreto, a maior autoridade sobre a política de FP, observa: “Na fase de plena maturidade, anos 1920-1930, Pessoa deixou completamente de escrever aquelas besteiras sobre a escravatura que escrevera na década de 1910. Essa é a outro erro grave da edição indiscriminada dos escritos da arca, isto é, sem datação, nem enquadramento cronológico, nem contextualização.”
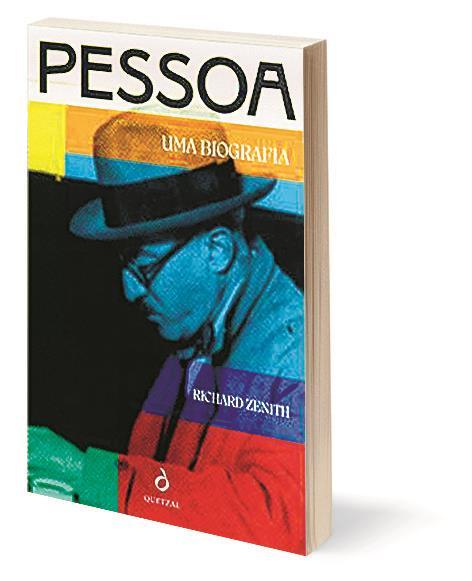
Em “A Pretensa Escravatura em São Tomé”, Pessoa reage ao boicote britânico ao cacau cultivado na então colônia portuguesa. FP reconhece que os negros forçados a trabalhar naquela ilha são submetidos a “um jugo brutalmente desumano”, mas ressalva que eram mais bem tratados do que aqueles nas minas sul-africanas, “onde os patrões britânicos lhes pagavam salário mas faziam-nos trabalhar até à morte”. Para Zenith, “a denúncia de Pessoa do imperialismo inglês não era mais do que uma reação instintiva à atitude dos britânicos em relação ao império colonial português”. (O movimento que culminou no fim do tráfico atlântico e da escravatura moderna floresceu na Grã-Bretanha do século 18, com abolicionistas como William Wilberforce, James Ramsay e Thomas Clarkson.) Por outro lado, meses antes de morrer, FP condenou a invasão da Abissínia (atual Etiópia) pelos fascistas de Mussolini, pondo os pingos nos is: “A escravatura é imoral, porque considera o homem como uma coisa, e a alma humana como subordinável a uma potência material — o dinheiro que compra esse corpo. Ora, a Itália fascista considera o homem como uma coisa, pois o considera subordinado ao Estado, e assim despreza todas as liberdades individuais.”
FP não postulava para Portugal “nem trono nem altar”, mas politicamente, como em tudo, era um literato camaleônico: “A minha pátria é a língua portuguesa”, professou quatro anos antes de morrer. Aos poucos, fez uma descoberta que parece espantar a si próprio: a de que havia em quase todas as coisas humanas o melhor e o pior. Destoava da famosa declaração de TS Eliot: “Sou monarquista em política, anglicano em religião e classicista em estética”. Aliás, se FP tivesse vivido mais três anos, ficaria consternado ao testemunhar a chegada de Eliot a Lisboa como hóspede de Salazar, em 1938.
Se escreveu bastante sobre política, em relação ao sexo FP tampouco regateou o tinteiro: “O desdobramento do eu é um fenômeno em grande número de masturbadores” – o poeta dos heterônimos vestindo a carapuça? Antônio Mora, outro heterônimo, defendeu que a mulher deve ter experiências sexuais antes do casamento, contrariando o costume da época (Zenith considera Pessoa “misógino”). Numa carta a João Gaspar Simões, FP observa que análises freudianas não funcionam com a sua obra: primeiro porque se trata de uma máquina verbal, e segundo porque ele próprio não se deixava influenciar pela sua vida sexual, pela qual não tinha grande interesse. Claro que essa mesma afirmação pode configurar aquilo que os psicanalistas chamam de “denegação” – não querer querendo.
Zenith diz que “a partir das suas notas pessoais. Pessoa quase com certeza morreu virgem”. Ah, esse “quase”. Na área erótica, multiplicam-se na biografia de Zenith expressões menos heurísticas que especulativas, como “provavelmente”, “ele deve”, “possamos supor”, “é possível”, “é provável”, “se fosse”, “é quase impossível”. Por outro lado, com sua exuberante ferocidade, o romancista português Antônio Lobo Antunes há anos já resmungara sobre Pessoa: “Eu me pergunto se um homem que nunca fodeu pode ser um bom escritor”.
Como W. H. Yeats, FP apreciava o ocultismo e a mediunidade, e até seu “espírito astral” favorito, Henry More, passou-lhe um pito: “Você é um homem que se masturba e que sonha com uma mulher à maneira de um masturbador!” Um amigo de Pessoa conta: “Um dia fomos a um bordel da Rua do Ferragial. Pessoa não nos acompanhou. E com surpresa minha vim a descobrir que ele frequentava o dito bordel e até nele tinha uma apaixonada. Se nos tivesse acompanhado se descobriria parte da sua vida privada e esta última para Fernando Pessoa era sagrada. Assim como respeitava a intimidade dos outros, também não suportava que lhe devassassem a sua.” Zenith considera essa fonte pouco confiável, e o episódio implausível. A castidade de Pessoa parece verossímil, como indicam os versos: “O amor é que é essencial./ O sexo é só um acidente./ Pode ser igual/Ou diferente./ O homem não é um animal:/ É uma carne inteligente,/ Embora às vezes doente”. Por outro lado, também podemos nos interrogar como é possível provar que um homem morreu virgem (mesmo com uma autópsia…).
Outra controvérsia diz respeito… ao tamanho do pênis do pobre poeta. Diz Zenith: “Tanto Botto como Leal afirmaram que Pessoa tinha um pênis pequeno, o que não quer dizer que o tenham visto alguma vez nu. ‘Quando se olhava para a virilha dele’, explicou Leal, ‘não se conseguia ver lá nada’.“ Tendo em conta que a moda na época eram calças largas e folgadas, talvez os genitais líricos só fossem conspícuos se – como diria Mae West – o poeta estivesse muito entusiasmado. João Pedro George não deixa barato: “O que seria se, na biografia de uma escritora famosa, se discutisse o tamanho dos seus seios ou o aspecto da sua vagina?” Bom, Freud propôs que “anatomia é destino”.
FP escreveu numerosos textos homoeróticos explícitos: em “Ode Marítima”, Álvaro de Campos devaneia sobre ser maltratado e possuído por piratas truculentos. Sem falar nos dois panfletos, um assinado por Campos e outro em seu próprio nome, em defesa dos poetas gays Antônio Botto e Raul Leal, atacados por sectários que chegaram a queimar suas obras. Zenith proclama ter identificado um amor platônico de Pessoa – um engenheiro que “era bonito, ainda solteiro”, mas heterossexual -, para depois reconhecer que, bem, talvez não fosse ele. Para Teresa Rita Lopes, “se Pessoa não saiu do armário, é porque não estava lá dentro. Não teria problemas em assumir, já que defendeu sem preconceitos seus amigos gays”. FP até editou livros de Botto e Leal – deste, “Sodoma Divinizada”. Zenith acaba concluindo: “Pessoa rejeitava ser escravo do instinto, e não apenas por razões nobres e filosóficas. O fato é que não sabia como agir naturalmente. No que se refere ao amor, era uma espécie de artista da fome.”
No dia 4 de maio passado, foi lançado em Lisboa – talvez já voltando ao campo arcano da mediunidade oracular (como se não bastasse a própria “Autopsicografia”, talvez o poema mais famoso de Pessoa) – o livro “A Homossexualidade de Fernando Pessoa”, de Victor Correia, num evento patrocinado pela ONG Opus Diversidades (ex-Opus Gay). O autor jura de pé junto que Pessoa reprimiu sua homossexualidade. Mas o fato é que a única relação amorosa concreta e comprovada que FP teve na vida foi com uma mulher.
O poeta conheceu Ofélia Queiroz no dia em que ela candidatou-se como datilógrafa na firma em que ele colaborava. Toda a evanescência metafísica de Pessoa não impediu que se embevecesse com a bela jovem de 19 anos (doze mais nova do que ele). Influiu na contratação dela e fez questão de recebê-la no primeiro dia de expediente. Como em tudo o que diz respeito a FP, a dimensão textual impregnou o namoro. Pessoa enviou a Ofélia pelo menos 60 cartas, e recebeu mais ainda (um espólio com 348 documentos, incluindo bilhetes). Era uma correspondência sôfrega entre duas pessoas que se viam quase diariamente, o que esvaziava o teor objetivo da natureza epistolar, talvez como as atuais mensagens digitais.
Um mês antes de morrer, FP escreveu “Todas as Cartas de Amor São Ridículas”, como Álvaro de Campos (que não gostava de Ofélia, e “visitava-a” para falar mal de Fernando). Nesse caso, Campos tem razão: as cartas estão infestadas de expressões pueris e bregas (“bebezinho”, “meu anjinho”, “o seu Nini”), sem a fosforescência literária da correspondência amorosa de outros titãs (Flaubert para Louise Colet, Joyce para Nora, Kafka para Milena, etc). Só faltou o circunspecto Pessoa flanar por Lisboa fazendo aqueles coraçõezinhos bobos com as mãos. FP foi um namorado convencional daquela época: “Fernando era muito ciumento, mas não se zangava, não dizia nada; sofria. Não gostava que eu usasse decotes, nem falasse com rapazes. Um dia disse-me: — ‘Hoje pela primeira vez tive ciúmes dos olhos do meu primo’ — ‘Por quê?’, perguntei — ‘Porque eles viram-te e eu não te vi.’” Para um gênio da lingua, o galanteio deixava um pouco a desejar, quase nível música sertaneja.
Ele conjectura casar com Ofélia, mas “resta saber se o casamento, o lar, são coisas que se coadunam com minha vida de pensamento.” Mais do que Hamlet com sua Ofélia, a relutância de FP em assumir um compromisso lembra Kafka com seus três noivados frustrados, dois dos quais com a mesma mulher (a quem enviou 600 cartas em quatro anos). Sim, como todos nós, Pessoa também era kafkiano.
FP jamais quis ir à casa dela, porém não se reduzia a um trovador do amor cortês, nem Ofélia Queiróz a uma Beatriz Portinari. Ele escolheu Ofélia e não outra. Pessoa sabia ser terno, romântico e até fogoso: “Não digas a ninguém que ‘namoramos’, é ridículo. Amamo-nos.” Um dia ele a empurrou para o vão de uma escada, com uma desculpa esfarrapada, só para sapecar-lhe um beijaço incandescente, num amasso tentacular. Às vezes chamava-a de “ácido sulfúrico”. Mas FP comunica a Ofélia seu desejo de viver no campo, para se consagrar à sua obra. Em 11 de janeiro de 1930, envia a última carta, que termina com um “até logo”. Como crocitaria aquele corvo de Poe que Pessoa traduziu: “Never more”. Em 1985, os restos de FP foram trasladados para o Mosteiro dos Jerônimos, onde repousam outros colossos lusos, como Vasco da Gama e Camões. Já o corpo de Ofélia, por uma ironia da história, descansa na necrópole lisboeta chamada Cemitério dos Prazeres.
A prismática obra pessoana talvez ensine ainda outra lição valiosa. Não é só que na grande literatura não há “lugares de fala” – é que nela todos os lugares são de fala. Exercendo uma das mais admiráveis virtudes humanas (a empatia), um autor é – mais do que metamórfico - um ventríloquo universal. Caso contrário, um escritor hétero como Tolstoi não poderia ter talhado uma mulher tão complexa quanto Anna Karenina (ou Joyce Molly Bloom). Ou um gay como Proust não moldaria de modo tão visceral a paixão entre Monsieur Swann por Odette. Ou uma lésbica como Marguerite Yourcenar não teria imortalizado o amor de um homem por outro em “Memórias de Adriano.” Como assumiu Flaubert, “madame Bovary sou eu”. De tantas personagens que criou, Balzac comentou que fazia concorrência ao Registro Civil francês. Recusando-se a se encarcerarem em gaiolas unidimensionais, há escritores que escreveram como se fossem um cão ou um gato, ou como fantasma, como marciano ou um caruncho, como Deus ou o Demônio. Susan Sontag propôs que ser autor é estar ligado ao valor inerente da pluralidade, ouriços que são raposas: a célebre frase latina E pluribus unum (De muitos, um). E vice-versa. Aquela polifonia verbal a que o russo Mikhail Bakhtin chamou de “dialogismo”. Não com identidades abstratas, e sim indivíduos idiossincráticos e contingentes. A ciência lida com coletivos, mas a literatura trata com singularidades, as fontes ímpares do eu. Como já ensinava Aristóteles: “Só há conceito no geral, mas só há existência no particular”. Em Pessoa, através dos heterônimos, tudo era destilado, refratado, multiplicado, dividido e sublimado pela literatura, um labirinto de espelhos que nunca refletia apenas seu umbigo. Como na peça de seu conterrâneo Gil Vicente, na sua obra FP era todo mundo e ninguém.
O que tampouco o impedia de ser Fernando em pessoa, e de urdir esquemas quiméricos para ganhar dinheiro, eterno endividado que era. Além de depenar parentes e amigos, concebeu jogos de tabuleiro (incluindo um futebol de mesa), elaborou manuais sobre “como montar uma vitrine” ou formatar cartas comerciais, escreveu um Guia Turístico de Lisboa (publicado só em 1990), fundou editoras efêmeras e considerou criar uma empresa cinematográfica. Com o maior topete e candura, chegou a escrever a Andrew Carnegie, sugerindo que o magnata americano do aço fosse seu mecenas.
Os luxos do poeta eram os ternos (cada vez mais puídos, mas sempre elegantes – um dândi chaplinesco), os quatro maços de cigarro por dia e doses gorgolejantes de álcool (embora nunca ninguém o tenha visto de porre). Um dia, consultou o psiquiatra Egas Moniz, Nobel de Medicina em 1949 – que se tornará um constrangimento para os portugueses, devido ao motivo do prêmio: a invenção da lobotomia. O médico prescreveu-lhe exercícios físicos, e FP frequentou uma academia durante três meses – ah, imaginar Pessoa malhando…
Nos últimos tempos, as cólicas abdominais e a febre eram cada mais vez mais frequentes. O médico alertou-o várias vezes que tinha de parar de beber. No dia 29 de novembro de 1935, ainda chamou o sr. Manassés, seu barbeiro, mas acabou hospitalizado com uma crise hepática grave. Pressentindo o fim, pediu papel e lápis e rabiscou em inglês as últimas palavras: ”I know not what tomorrow will bring” (não sei o que o amanhã trará). Mas, fingidor profissional, talvez soubesse: “Não conto gozar a minha vida. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade; ainda que para isso tenha de a perder como minha.”
Se tem algo em que as duas biografias concordam é que FP não se encaixa no clichê do gênio coitadinho: teve pares que o admiravam, amigos que o reverenciavam, parentes que o estimavam, o amor de uma mulher (Ofélia jamais o esqueceu) e galvanizou o Modernismo português. Diz George: “Pessoa era uma pessoa sociável que, como todos nós, tinha os seus momentos de solidão e de tristeza. E alguns dos seus heterônimos, como o Dr. Nabos e o Dr. Pancrácio, eram humorísticos”. Sem falar na foto que enviou a Ofélia, com ele ao balcão tomando um copo de vinho e a dedicatória trocadilhesca: “Fernando Pessoa em flagrante delitro”. Os sobrinhos adoravam-no por causa das brincadeiras burlescas: “Na rua, Fernando Pessoa fingia que tinha acabado de perder uma moeda e começava a examinar a calçada com o nariz quase colado ao chão. Algumas pessoas, quando passavam por eles, punham-se também a olhar para o chão, ajudando a procurar a moeda imaginária.”
Talvez por isso, FP deixou instruções irônicas aos seus biógrafos: “Se depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia,/Não há nada mais simples/Tem só duas datas – a da minha nascença e a da minha morte./Entre uma e outra todos os dias são meus.”
“Estrangeiro nato” (um dos capítulos de Zenith) e “estranho estrangeiro” (título de uma outra biografia de FP, do francês Robert Bréchon), Pessoa foi o mais português dos cidadãos do mundo: “Passo e fico, como o Universo”. O cosmos parece o habitat natural para um poeta universal. Até porque, cristão gnóstico, FP via-se como centelha perdida no exílio terreno, que retornaria à origem divina após a peregrinação sublunar. “Sei que há mais mundos que este pouco mundo/Onde parece a nós haver morrer/Dura terra e fragosa, que há no fundo/Do oceano imenso de viver./Sei que a morte, que é tudo, não é nada,/E que, de morte em morte, a alma que há/Não cai num poço: vai por uma estrada./Em Sua hora e na nossa, Deus dirá.”
A grande biógrafa Hermione Lee comparou as biografias a autópsias, “que acrescentam um novo horror à morte”. É claro que há uma relação entre a vida e a obra de um escritor, mas essa relação nunca é simples. A vida não explica inteiramente a obra, e a obra tampouco explica inteiramente a vida. FP, um ser afável, talvez apaziguasse Zenith e George, e subscrevesse imparcialmente ambos, mas à sua maneira: “Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes, a todos, a vontade./Assim, como sou, tenham paciência!/ Vão para o diabo sem mim, / Ou deixem-me ir sozinho para o diabo! /Para que havemos de ir juntos?”.
Afinal, corrigindo o velho provérbio “antes só do que mal acompanhado”, Pessoa já tinha explicado que, para ele, era melhor “antes só que, até, bem acompanhado”.