Samora Machel. Uma biografia. PRÉ-PUBLICAÇÃO
Introdução
Samora Machel é recordado como o primeiro presidente de Moçambique e um dos líderes africanos notáveis que foram assassinados, nomeadamente Patrice Lumumba (Congo), Amílcar Cabral (Guiné-Bissau) e Thomas Sankara (Burkina Faso). Para os moçambicanos, foi o chefe da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), o exército guerrilheiro que, contra grandes adversidades, trouxe liberdade à sua pátria; na esfera internacional, no entanto, foi muito mais do que isso.
Em toda a África Austral, Samora foi um herói para os oprimidos. Os seus êxitos militares contra um regime colonial apoiado pela África do Sul, a Rodésia, os Estados Unidos e os seus aliados da NATO, reforçaram a sua reputação revolucionária. O seu apoio às forças de libertação do Zimbabwe e ao Congresso Nacional Africano, que se revelou muito oneroso para Moçambique, elevou ainda mais a sua estatura. Para o governo branco que dominava a Rodésia e o regime de apartheid da África do Sul, ele era a personificação do mal — um negro poderoso empenhado na construção de uma sociedade socialista não-racista nas suas fronteiras.
Samora também gozou de projeção internacional muito para além da importância de Moçambique. Em 1975, quando o país se tornou independente, o mundo parecia consideravelmente diferente do que é hoje. Os movimentos revolucionários, com agendas socialistas radicais, estavam em ascensão. Cuba resistiu aos esforços norte-americanos para destruir a sua revolução, os Estados Unidos foram derrotados no Vietname, os sandinistas chegaram ao poder na Nicarágua e os ventos da mudança ameaçavam varrer os governos colonialistas da África Austral. Samora fazia parte de uma nova geração de líderes revolucionários — Fidel Castro, Daniel Ortega, Michael Manley e Yasser Arafat — com quem partilhava uma visão comum e uma amizade calorosa.
Para a China e a Rússia, que apoiaram a FRELIMO durante a luta armada, Samora era um importante aliado que ajudava a combater a influência do Ocidente em África. No entanto, após a independência, os soviéticos nunca confiaram totalmente nele — era demasiado independente, recusando-se a seguir a dogmática linha marxista-leninista, ou a apoiar Moscovo nas suas batalhas contra Pequim. Em contrapartida, os países da NATO acompanharam com preocupação a ascensão de Samora ao poder. Os Estados Unidos viam Moçambique através do prisma da Guerra Fria, como os soviéticos; mas aos olhos de Washington, este novo país ameaçava o crescente interesse dos Estados Unidos por África. Samora também desempenhou um papel importante no Movimento dos Não-Alinhados, onde assumiu uma posição militantemente anti-imperialista e opôs-se fervorosamente às tentativas de hegemonia global, tanto do leste como do ocidente.
Na década de 1980, a posição de Samora, tanto a nível interno como internacional, esta fragilizada. Não obstante, ele continuava a representar uma ameaça tão expressiva para o regime do apartheid e para os seus aliados que os oficiais sul-africanos conspiraram para o eliminar. A 19 de Outubro de 1986, Samora morreu num misterioso acidente de aviação. A sua morte foi uma terrível perda para o país e para a região, bem como para aqueles que, em todo o mundo, partilhavam os seus ideais. Nós estávamos entre eles.
Tomámos conhecimento da morte de Samora na noite seguinte, bem depois da meia-noite em Minneapolis, por um telefonema de Roberta Washington, uma querida amiga e colega com quem tínhamos trabalhado de perto em Moçambique. Com a voz muito baixa, disse-nos que Samora Moisés Machel e muitos dos seus conselheiros mais próximos tinham morrido quando o avião que os transportava da Zâmbia se despenhou numa montanha em Mbuzini, na África do Sul.
Durante os dois anos (1978-79) que vivemos em Moçambique com os nossos dois filhos pequenos, tínhamos conhecido Samora, que admirávamos muito, tanto de longe, como em interacções pessoais. Entre os que perderam a vida nessa noite estavam muitos amigos moçambicanos próximos, que eram como família para nós, entre os quais Aquino de Bragança e Fernando Honwana. Lamentamos a sua perda até ao dia de hoje.
A nossa relação com Moçambique e o seu povo tinha começado décadas antes. Em 1968, viajámos para a então colónia portuguesa para que o Allen pudesse realizar pesquisas para a sua dissertação de doutoramento. Ele escolheu Moçambique, em parte, para combater os pressupostos racistas que enquadravam a arrogante representação colonial do povo moçambicano. Durante demasiado tempo, as experiências deste povo permaneceram à sombra de uma tradição historiográfica quase exclusivamente centrada nos portugueses.
Para nós, ativistas da Universidade de Wisconsin no início dos anos de 1960 e comprometidos com a justiça social, o movimento dos direitos civis, a campanha contra a guerra e os esforços destinados a desmantelar o regime do apartheid, a luta armada travada pela FRELIMO para pôr fim a séculos de opressão portuguesa reforçou o interesse que já tínhamos pela colónia. (Neste estudo, “FRELIMO” refere-se ao movimento de libertação e “Frelimo” ao partido político pós-independência). Felizmente, as autoridades portuguesas desconheciam a nossa política. Só obtivemos autorização porque um alto funcionário português acreditava que iríamos confirmar a tese de que Lisboa estava a seguir uma experiência social multirracial benigna, conhecida pela designação de “luso-tropicalismo”. Uma vez que as autoridades coloniais estavam convencidas de que os africanos analfabetos não tinham uma história real e que estaríamos apenas a estudar “mitos e lendas”, a pesquisa de Allen não parecia constituir uma ameaça ao status quo.
Um vez em Moçambique, um simpático administrador colonial alertou-nos que a perversa polícia secreta conhecida por PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) nos estava a seguir. A sua advertência veio depois de termos criado um alvoroço em Sena, pequena vila do interior, onde alugávamos uma sala na parte traseira do bar local. Violando as convenções sociais, encorajámos o nosso tradutor a usar a casa de banho que partilhávamos com a família do proprietário, em vez de se aliviar ao ar livre. A mulher do proprietário estava furiosa, criticando-nos publicamente por permitirmos que pretos não civilizados usassem casas de banho dos europeus. No dia seguinte, agentes da PIDE interrogaram quem testemunhado esta discussão. Após a independência, descobrimos que este interrogatório não foi um incidente isolado. Nos arquivos, um longo relatório da PIDE descrevia como os seus agentes interrogaram os africanos com quem falámos nas aldeias por onde andámos.
Tal incidente, embora em grande medida insignificante, revelou o caráter intrinsecamente explorador e degradante do colonialismo português. Quando funcionários coloniais, chefes leais e informadores conhecidos não estavam presentes, os anciãos de todo o Vale do Zambeze descreviam com pormenor os abusos que regularmente sofriam. Ficámos a saber como, sob o regime do trabalho forçado (chibalo) que os idosos caracterizavam como uma forma moderna de escravatura, os administradores coloniais obrigavam os africanos a trabalhar por períodos de seis meses, em troca de um mísero salário - ou mesmo de nada - em projetos de obras públicas e plantações, e em quintas e minas dos europeus. Os que tentavam fugir eram espancados e encarcerados. No entanto, nem quem cumpria ficava protegido dos abusos físicos perpetrados pelos fiscais. Os trapos esfarrapados usados por muitos aldeãos e as crianças subnutridas e sem instrução com que nos deparávamos diariamente contrastavam fortemente com o luxo de que a comunidade dos colonos usufruía.
Para a maioria dos africanos na capital colonial, Lourenço Marques, ou na Beira, a segunda maior cidade da colónia, a vida era apenas ligeiramente melhor. Vimos muitos africanos a serem esbofeteados, humilhados, e até presos por comportamento considerado impróprio. Caminhámod pelos subúrbios fervilhantes apinhados de casas feitas de caniço, sem água corrente, sistema de esgotos, drenagem adequada e outras infra-estruturas básicas. As cidades onde os europeus viviam estavam interditas a quase todos os africanos, excepto durante as horas normais de trabalho.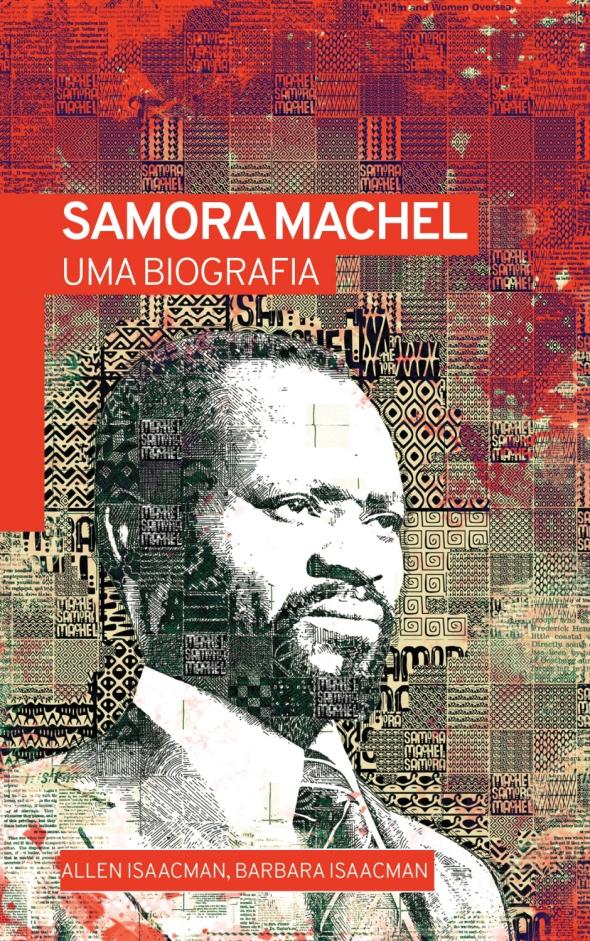 A barreira baseada na cor — informal, mas vigorosamente aplicada — limitava as oportunidades educacionais e de emprego para a maioria da população africana. O casamento inter-racial era reprovado, embora muitos europeus frequentassem as casas da luz vermelha. Todas estas indignidades revelavam a verdadeira natureza do “luso-tropicalismo.”
A barreira baseada na cor — informal, mas vigorosamente aplicada — limitava as oportunidades educacionais e de emprego para a maioria da população africana. O casamento inter-racial era reprovado, embora muitos europeus frequentassem as casas da luz vermelha. Todas estas indignidades revelavam a verdadeira natureza do “luso-tropicalismo.”
É certo que um pequeno número de africanos conseguiu escapar às práticas coloniais mais degradantes. Encontrámos assimilados e burocratas africanos com padrinhos europeus (patronos), que tinham adquirido casas de alvenaria nas periferias das cidades dos brancos e podiam proporcionar aos filhos mais do que uma educação rudimentar. Os membros da família de Samora eram assimilados, tal como a sua viúva, Graça Machel, que tinha sido a única estudante africana na sua turma do liceu.
As modestas reformas económicas e sociais promulgadas nos anos de 1960 não protegeram os africanos dos caprichos dos colonos, embora nem todos os portugueses fossem considerados abusadores. Na privacidade das suas casas ou em cafés tranquilos, um punhado de portugueses sentia-se suficientemente à vontade para criticar a ditadura fascista do falecido António de Oliveira Salazar. Alguns até reconheceram ter simpatia pela FRELIMO.
Não podíamos ficar calados perante a exploração que, durante um ano, observámos em Moçambique. No nosso regresso aos Estados Unidos, em 1970, Allen manteve um encontro com Sharfudin Khan, representante da FRELIMO junto das Nações Unidas, para oferecer apoio, e juntou-se ao Comité para um Moçambique Livre. Quando o livro baseado na sua dissertação ganhou o Prémio Herskovits da Associação de Estudos Africanos (AEA) de 1974, o Allen doou parte do dinheiro do prémio à FRELIMO e, mais importante ainda, pressionou a AEA a condenar o regime colonial português em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé. Em Junho de 1975, Allen compareceu perante o Congresso dos EUA para condenar o apoio americano ao Governo de Lisboa, tendo posteriormente testemunhado nas audições da subcomissão do Congresso sobre a situação em Moçambique no período pós-independência.
A 25 de Junho de 1975, Moçambique, sob a liderança da Frelimo, conquistou a independência e Samora Machel tornou-se o seu primeiro presidente. Dois anos mais tarde, fomos convidados a leccionar na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), assim denominada em homenagem ao primeiro presidente da FRELIMO, assassinado pelos colonialistas portugueses. Os dezassete meses que lá vivemos foram tempos agitados, apesar da escassez de alimentos e das longas filas para comprar pão e carne. As crianças do nosso quarteirão rapidamente se tornaram amigos dos nossos dois filhos — em parte porque estes tinham a única bola de futebol do bairro — e nós, bem como outros cooperantes, éramos tratados como camaradas e progressistas. Barbara trabalhou para a Organização da Mulher Moçambicana (OMM), escreveu um livro sobre a situação jurídica da mulher em Moçambique como parte integrante da Década das Nações Unidas para as Mulheres, e ensinou direito do trabalho na Faculdade de Direito da UEM. Allen ajudou a formar a primeira geração de historiadores moçambicanos do período pós-independência. Estávamos animados e empenhados em participar na revolução. Acreditávamos que tudo era possível, mesmo que isso nos obrigasse, por vezes, a abdicar das nossas liberdades fundamentais.
Sob os auspícios do Gabinete do Presidente, realizámos vários projetos, incluindo o levantamento das condições de vida e de trabalho dos cooperantes ocidentais e o estabelecimento de laços com a Business International, uma organização ocidental que promove investimentos em todo o mundo. Allen e o seu colega Ian Christie realizaram uma entrevista de cinco horas com Samora, publicada em vários jornais e revistas ocidentais. Também nos reunimos periodicamente com o Presidente Machel e ficámos impressionados com a sua energia, intelecto e o profundo empenho que revelava para pôr fim à injustiça social.
Samora tinha um sentido de humor irónico, um grande ego e adorava fazer justiça. Numa ocasião, os cooperantes americanos residentes em Maputo fizeram uma doação para ajudar a reconstruir uma aldeia atacada por mercenários americanos que trabalhavam para o regime colonialista branco da vizinha Rodésia. Samora passou então por nós como a sua comitiva, quando esperávamos para entrar no evento, e apresentou Barbara como a “esposa de Allen Isaacman”, ao que Barbara respondeu: “Não, ele é meu marido”. Samora riu e acenou, aprovando com a cabeça para a comitiva que o acompanhava.
Mesmo depois de regressarmos ao nosso país em 1979, continuámos a apoiar Moçambique e o seu projeto socialista. Organizámos o Fundo Moçambicano para a Educação — que, para nossa surpresa, beneficiou de isenção de impostos por parte da Receita Federal — através do qual enviámos milhares de livros muito necessários para as escolas rurais criadas após a independência. Também trabalhámos de perto com Valeriano Ferrão, embaixador de Moçambique nos Estados Unidos, na mobilização da oposição para a crescente agressão da África do Sul e dos seus aliados dentro do território moçambicano.
Barbara regressou periodicamente a Moçambique e foi convidada para participar na conferência da OMM, em 1982. Na receção organizada pela Frelimo, o Presidente Machel saudou-a e perguntou onde estava Allen. Quando ela lhe disse que o marido estava, claro, em casa a cuidar dos filhos, ele riu-se e respondeu: “Estão a ver, nós temos algo a aprender convosco, americanos”. Por volta da mesma altura, o livro de Barbara, Women, the Law and Agrarian Change (Mulher, Lei e Mudança Agrária), escrito em co-autoria com June Stephens, foi traduzido para português e amplamente lido em todo o país.
Nos anos seguintes, Allen passou a maior parte dos verões em Moçambique a recolher testemunhos orais. No fim de cada visita, reunia-se com o Presidente Machel e outros funcionários do governo para discutir as condições nas zonas rurais e a política nos Estados Unidos. Se a crítica ao desprezo da Frelimo pela cultura e a história rurais caiu por vezes caído em saco roto — numa certa ocasião, um ideólogo do partido desvalorizou as suas críticas como sendo os pontos de vista idealistas de um “africanista” — Samora prestou sempre atenção aos relatos de Allen sobre os abusos de poder, a incompetência e a corrupção a que tinha assistido. Samora cometia muitos erros e enfurecia-se depressa, mas também demonstrava capacidade de ouvir, de desafiar as ortodoxias herdadas e de fazer a autocrítica.
Estamos a revelar da nossa ligação a Moçambique e à FRELIMO para sublinhar que fomos simultaneamente investigadores e testemunhas de um período importante da história deste país. Esperamos também mostrar como a nossa interpretação desta história é informada pelas nossas experiências pessoais, pela política e por temperamentos algo diferentes (Barbara foi sempre um pouco mais cética em relação às políticas da FRELIMO do que Allen). De certa forma, estamos a contar uma história de vida em que a relação entre autores e sujeitos é inseparável da história contada.
Militantes, somos também académicos que prezam o rigor intelectual e a análise criteriosa. Na qualidade de intelectuais empenhados, queremos desafiar as hierarquias sociais e as instituições opressivas, bem como os pressupostos racistas que as sustentam. Não contentes em criticar o status quo, à nossa modesta maneira, procurámos alterá-lo. Somos movidos por um compromisso intelectual e um compromisso político, que se reforçam mutuamente, e rejeitamos a noção de que existe uma história autêntica e singular. Porém, sabemos que a nossa lealdade simultânea ao rigor da investigação e ao ativismo constitui um sério desafio. Reconhecemos as relações problemáticas existentes entre biógrafo e biografado. Os compromissos apaixonados por causas concretas não devem enfraquecer a capacidade de questionar ou a vontade de criticar as ideias e os movimentos que apoiamos e os homens e mulheres que admiramos. Edward Said disse-o, sem rodeios, quando advertiu: “nunca a solidariedade antes da crítica.”
Nesta biografia social de Samora Machel, procurámos manter essa postura crítica e evitar a tendência de romantizar um homem que tínhamos em elevada consideração. Não foi fácil; alguns concluirão que não fomos bem-sucedidos. Embora não nos desculpemos pela nossa postura, os leitores reconhecerão que as nossas interpretações deste período crítico da história de Moçambique são necessariamente diferentes das daqueles que criticaram a agenda revolucionária da FRELIMO, ou a ela se opuseram energicamente.
Ao escrever esta biografia, consultámos publicações académicas assim como um corpo significativo de material primário não publicado. O Centro de Documentação Samora Machel, em Maputo, alberga uma rica coleção de documentos de Samora e outros relacionados com a sua família. Embora de um modo geral os arquivos da polícia secreta (PIDE), que se encontram no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa, retratem Samora como um joguete marxista da China ou da União Soviética, contêm material volumoso sobre a liderança da FRELIMO e a sua estratégia. Não conseguimos rever milhares de documentos dos tempos de guerra da FRELIMO que caíram borda fora no Oceano Índico, quando a FRELIMO transferiu o seu gabinete de Dar es Salaam para Maputo, nem a coleção muito substancial de documentos da luta armada depositada nos arquivos da FRELIMO, que ainda não estão abertos ao público e que teriam sustentado uma análise mais abrangente do papel de Samora.
Este estudo conta ainda com mais de vinte entrevistas a figuras que mantiveram um relacionamento próximo com Samora, recolhidas por investigadores aprovados pela FRELIMO após a sua morte, e agora depositadas nos arquivos do Centro de Documentação. Também recorremos às nossas entrevistas com membros da família mais direta e vários conselheiros próximos. Para tentar evitar julgamentos parciais, dada a nossa proximidade com Samora, falámos com antigos guerrilheiros, camponeses, colonos portugueses, um cantor de rap e um padre português; este constitui material de referência que recolhemos em Moçambique ao longo do último meio século; e consultámos o recém-publicado Conceiving Mozambique (“Conceber Moçambique”) de John Marcum, que contém relatos orais detalhados de antigos membros desencantados da FRELIMO que estudaram nos Estados Unidos. Pretendíamos complementar esta informação com entrevistas a destacados residentes da Beira que se opunham abertamente a Samora, mas dois dias antes do nosso voo, em Março de 2019, o Ciclone Idai devastou a cidade e os arredores, tornando essa missão impossível.
Os documentos orais e escritos consultados são textos sociais que muitas vezes contêm significados múltiplos ou contraditórios. A nostalgia, os limites da memória e a política do esquecimento complicam a sua construção. Lembramo-nos da célebre citação do antropólogo francês Marc Augé: “Diz-me o que esqueces e dir-te-ei quem és.”9 A interpretação destas complexidades informou a nossa análise dos textos, as diferentes perspetivas dos autores destes “textos sociais” e as suas versões dos acontecimentos.
Dois exemplos ilustram a dissonância da memória. Quando Samora e o pelotão que chefiava começaram a treinar na Argélia, houve intensas divergências entre os recrutas sobre se os brancos e os sul-asiáticos nascidos em Moçambique deveriam ser autorizados a participar. Por vezes, o debate precipitou o conflito entre Samora e um outro guerrilheiro que discordava veementemente da insistência de Samora em que não era necessário ser negro nem moçambicano para lutar com a FRELIMO. Raimundo Pachinuapa, aliado político de Samora, descreveu-o a subjugar fisicamente o seu rival. Jacob Jeremias Nyambir, que também estava presente, insistiu que um guerrilheiro mais velho, Lindoklindolo, interveio para impedir a briga. Eles não só contaram histórias diferentes, como discordaram sobre quando e onde ocorreu a altercação. Nyambir afirmou que isso aconteceu em Argel, pouco depois de os recrutas da FRELIMO terem chegado de Dar es Salaam; Pachinuapa recordava-se que a altercação tivera lugar um pouco mais tarde em Marniah, uma região remota perto da fronteira argelino-marroquina. O relato de Pachinuapa, recolhido após a morte do presidente, sublinhava a masculinidade e as proezas físicas de Samora — uma imagem que tanto Samora como a FRELIMO promoveram — e que, portanto, poderia ter sido afetada pela nostalgia. Nyambir partilhou connosco o seu relato em 2019. Embora demonstrasse algum apreço por Samora, não tinha motivos para embelezar a história — mas a sua memória, tantos anos depois, podia ter falhado.
O segundo exemplo é comum no Moçambique contemporâneo. Após anos de corrupção generalizada e de um rápido crescimento das desigualdades, muitos cidadãos olham retrospetivamente para o tempo em que Samora foi Presidente, quando a justiça social e económica eram os objetivos proclamados da revolução e a corrupção era severamente punida. Ao fazê-lo, muitas vezes romantizam a liderança de Samora, esquecendo as dificuldades da vida quotidiana.
Embora a maioria dos textos escritos sobre Samora se concentre nele como ator político e na sua personalidade pública, alargámos a nossa perspetiva, sempre que possível, de modo a incluir aspetos descurados da sua vida pessoal. Fazemo-lo não só para humanizar Samora, com todas as suas fraquezas, defeitos e paixões, mas também para desafiar construções da sua vida que separam o público do privado e o político do pessoal. Demasiadas vezes os biógrafos prestam pouca atenção à vida pessoal de líderes políticos do sexo masculino.10 Os agentes históricos não podem, no entanto, ser plenamente compreendidos sem referência à vida pessoal.
Ao longo da sua vida, Samora teve dificuldade em equilibrar os seus compromissos pessoais e políticos. A sua correspondência com a sua primeira mulher, Josina, a quem carinhosamente tratava por Jozy, está repleta de angústia e de remorsos pelo facto de as responsabilidades militares o terem mantido afastado dela e do seu bebé, Samito, durante largos períodos de tempo. Ele mostrava-se particularmente preocupado com a saúde frágil de Josina — e com razão. A 7 de Abril de 1971, menos de dois anos após o seu casamento, ela morreu. Embora Samora estivesse devastado, regressou ao campo de batalha quase imediatamente após o funeral, deixando o filho sob os cuidados da sua “família” substituta, a FRELIMO.
Devido aos profundos laços pessoais que mantinham, e pelo reconhecimento dos seus sacrifícios, Samora também se mostrou relutante em afastar de altos cargos “velhos camaradas” que se tinham tornado ineficazes ou corruptos. Esta tendência complicou e contrariou a sua personalidade pública de líder que não tolerava a incompetência nem a corrupção.
Como investigadores, temos a responsabilidade de refletir, analisar e aceder a representações contemporâneas do passado e de levantar novas questões sobre o legado de Samora. Oxalá possamos continuar a juntar-nos a outros estudiosos no aprofundamento das questões aqui levantadas. Samora Machel, e as muitas outras mulheres e homens menos visíveis que morreram em lutas pela liberdade, deixaram uma marca indelével no continente. As suas histórias, contadas sob várias perspetivas, não devem ser perdidas para a posteridade.
*
Breve conclusão
Samora foi um herói tragicamente imperfeito que trouxe a independência e a esperança a milhões de moçambicanos. Pela sua experiência pessoal e pelas leituras de Mao Tse Tung, Frantz Fanon, Kwame Nkrumah e Amílcar Cabral, passou a acreditar que colonialismo e capitalismo estavam intrinsecamente interligados. De formas diferentes, estes autores realizaram uma poderosa crítica ao imperialismo e à ordem colonial e facultaram modelos para combater as injustiças de classe e a colonização da mente. Não obstante, o socialismo de Samora esteve sempre enraizado na realidade moçambicana. Para ele, a revolução em Moçambique enfrentou desafios específicos; imitar simplesmente o que havia sido prosseguido por outras nações socialistas era inadequado.
Samora deixou uma marca indelével na jovem nação, como um líder carismático, que inspirava lealdade e espírito de sacrifício. Usou o poder do estado e os palcos onde impunha a sua autoridade para atacar o analfabetismo, a doença, a exploração das mulheres e outras formas de opressão. Introduziu políticas anticorrupção, recordando aos líderes e quadros da Frelimo que seriam responsabilizados se utilizassem os cargos para acumular riqueza ou influência. Defendeu igualmente a ideologia não racista da Frelimo e encorajou os residentes de origem portuguesa e asiática a tornarem-se cidadãos do novo Moçambique.
Mas Samora recorreu também a táticas duras e ao seu poder pessoal para levar a cabo as políticas da Frelimo. Quando o projeto socialista da Frelimo perdeu credibilidade e as forças armadas se revelaram incapazes de conter a RENAMO, a sua administração tornou-se cada vez mais autoritária, como foi demonstrado pelo uso da força na expansão do sistema das aldeias comunais e na limpeza urbana dos “socialmente marginalizados”. A reintrodução do castigo corporal, incluindo a aplicação de chicotadas, continua a ser uma mancha relevante no seu currículo. A história não esquecerá, e não deve esquecer, os assassinatos de Simango, Nkavandame e Simião. A recusa de Samora em afastar definitivamente Guebuza e outros dirigentes de cargos de liderança após terem cometido graves abusos de poder também maculou a sua presidência e criou problemas que persistem até hoje.
A desvalorização das crenças religiosas africanas por parte de Samora, consideradas obscurantistas, denuncia como percebeu mal o significado que tinham para muitas comunidades moçambicanas. O postulado de que a persuasão e o racionalismo científico iriam com facilidade fragilizar crenças indígenas e cristãs foi ingénuo, assim como a conviccão de que a Frelimo poderia construir uma nova ordem moral.
Na busca por justiça económica e social, Samora foi muitas vezes míope, convencido de que Moçambique podia saltar sobre a história. Apesar da escassez de especialistas em finanças, de agrónomos e de pessoal técnico, acreditava que uma economia centralmente dirigida poderia transformar o sistema económico de Moçambique, já de si subdesenvolvido e desequilibrado. Por mais louváveis que tivessem sido as tentativas para reestruturar os sectores da saúde e da educação, a falta de recursos impediu uma aplicação bem-sucedida.
Mas Samora foi também um realista. Quando o planeamento socialista não conseguiu satisfazer as necessidades do povo moçambicano, em vez de admitir a derrota, Samora procurou alternativas. A evolução de Moçambique rumo a uma economia mista, que Samora soube supervisionar, resultou destes reveses — tal como o reajustamento das suas relações com o mundo em geral.
A política externa de Samora visou proteger tanto a soberania moçambicana como o estatuto do país como não-alinhado. Isso nem sempre foi possível. Dado que a maioria dos governos ocidentais apoiou Portugal durante a luta armada, a FRELIMO não teve alternativa senão procurar assistência militar à União Soviética e aos seus aliados. Quando Samora percebeu como a sua jovem nação se tinha tornado excessivamente dependente de Moscovo, resistiu às pretensões soviéticas de instalar uma base naval em Moçambique, recusou envolver-se na discussão sino-soviética, aprofundou o envolvimento de Moçambique no Movimento dos Não-Alinhados, reforçou os laços com os países nórdicos e usou as negociações de Lancaster House, que resultaram na independência do Zimbabwe, para melhorar as relações com o Ocidente. Mesmo assim, não conseguiu convencer os aliados da NATO a cancelar o apoio ao regime do apartheid, que ameaçava seriamente a soberania moçambicana.
Talvez o maior erro de Samora em matéria de política externa tenha sido a retórica belicosa dirigida contra a África do Sul, que ofereceu a este país um pretexto para intensificar a sua campanha de desestabilização. A ambição de desmantelar o apartheid, corajosa e virtuosa, era igualmente muito irrealista, atendendo ao desequilíbrio militar entre as forças. Samora também calculou mal a persistência do compromisso de Pretória com a RENAMO, bem como a capacidade destrutiva deste movimento. Tanto ele como Moçambique pagaram um preço muito elevado.
Dois anos antes de morrer, Samora reafirmou que nunca esqueceria aqueles por quem lutava: “Continuo a ser um ‘guerrilheiro’, um combatente pelos interesses do meu país e do meu povo.”1 Hoje, intelectuais, ativistas e políticos moçambicanos de todos os quadrantes continuam a debater sobre como deve ele ser recordado. Samora está ainda extraordinariamente presente nas conversas, nos mexericos e nos debates de muitos cidadãos comuns, e na cultura popular moçambicana. Embora as memórias guardadas pelos moçambicanos do seu falecido líder não sejam fixas nem uniformes, mais de trinta anos após a sua morte, muitos ainda partilham a visão de uma sociedade justa que sempre defendeu.
Resta saber se a sociedade baseada na igualdade social e económica preconizada por Samora alguma vez será concretizada.
Samora Machel - Uma biografia, de Allen Isaacman e Barbara Isaacman, Outro Modo, 2022
Lançamento na Tigre de Papel com com José Aranda da Silva, Manuela Ribeiro Sanches e Nuno Domingos. Ver aqui.