Escritas Afrodescendentes, entrevista a Marta Lança 13.07.23
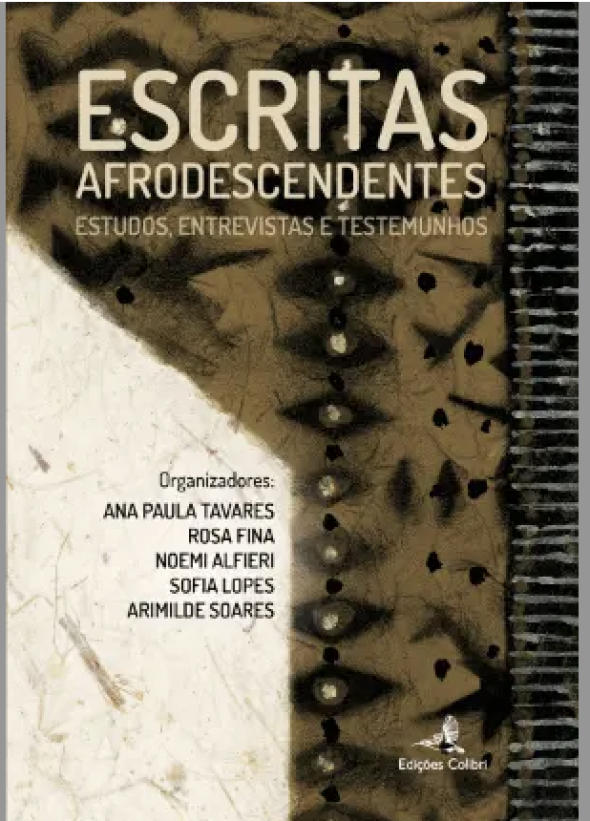
Ana Paula Tavares: Para começar fala-nos um pouco da tua ligação a Cabo Verde e a Angola, aquilo que foi importante para lançares a plataforma Buala.
Marta Lança: Agradeço muito o convite. A relação com países africanos onde também se fala português aconteceu espontaneamente. Não tinha relação, nem familiar, nem outra… É certo que todos acabamos por ter ligações. Essa história colonial atravessa-nos a todos mas, que eu saiba, ninguém da minha família, nem de um lado, nem de outro, ninguém esteve em África do ponto de vista da situação colonial. É claro que todas as pessoas brancas beneficiámos disso em geral. Isso é importante frisar. A verdade é que, na ausência desse património afetivo, sem ‘aprioris’ terá sido mais fácil entrosar-me porque não vinha com nenhuma sensação de pertença, ou «isto já foi outra coisa». A minha abordagem inicial era bastante “naive” e descomplexada… Começou com uma estadia de um ano no Mindelo, São Vicente, Cabo Verde, a fazer a revista cultural Dá Fala, com a “Founaná Projetos” do coreógrafo e agente cultural António Tavares. Saíram quatro números, sobre identidade, independência, a sexualidade (condição de género, do turismo sexual), as cidades. A revista era aberta a cabo-verdianos das ilhas e a cabo-verdianos da diáspora que são mais do que aqueles que estão nas ilhas. E também a pessoas não cabo-verdianas que estudam Cabo-Verde. A “crioulidade”, as questões de pertença ou não a África, à Macaronésia, essas questões identitárias são assuntos intermináveis que continua. Vozes que têm mudado nos últimos tempos. Quando lá estive, sobretudo na ilha de São Vicente, Cabo Verde a uma pensava-se numa ideia de exceção, de diferença do continente africano e do mundo Atlântico. Ilhas despovoadas, como se reivindica a sua africanidade e crioulidade.
A revista Dá Fala tinha um âmbito sociológico e cultural com cinema, literatura, desporto, várias áreas. O design era feito por um sueco-crioulo da ilha do Sal. Um dos números conteve a capa com a cara de Amílcar Cabral, mas totalmente “pixelizada”. Foi um projeto mesmo muito interessante para entrar num mundo sobre o qual não tinha quase referências, perceber como se trabalha num lugar com outras demandas, outros códigos culturais, a vida insular e sua vigilância social. Para mim foi uma aprendizagem, às vezes tive algumas frustrações e isso faz parte de crescer. Foi um momento importante num percurso que se abria. Venho de Estudos Portugueses na FCSH, fazia viagens pela Europa como qualquer jovem europeia crescida nos anos 1980 e 1990 sem ligação a África. De repente, ir para Cabo Verde era um novo capítulo de curiosidades e de estranheza: «mas isto afinal não chega a Portugal». A nossa ideia de Cabo Verde é muito redutora, talvez só ligada aos imigrantes, e à música. Quando cheguei lá achei incrível a riqueza cultural das ilhas e o desfasamento entre aquilo que se passa pelas ilhas e as “caboverdianidades” da diáspora. Há uma imagem da dureza da imigração, dos descendentes de caboverdianos e das condições sociais e económicas em que vivem. Essas duas imagens não são coincidentes nem interconhecidas. Ou porque as pessoas não vão lá muito, ou o imigrante narra outra coisa sobre a sua vida. São dimensões que não se conhecem bem. Os cabo-verdianos das ilhas parece que não se identificam tanto com as questões dos afrodescendentes e das lutas antirracistas. Não lhes diz muito em Cabo Verde. O mesmo com Angola. .não há uma pauta assim tão ativa como cá. As pautas do antirracismo têm mais fulgor na Europa do que nos países africanos, o que é óbvio tendo em conta a composição da população. Não é que não haja muito racismo, sendo essa uma outra aprendizagem de Cabo-Verde: é uma sociedade extremamente racista com as pessoas da Costa de África, ou com os senegaleses, ou com os guineenses… Chamam Mandjaco (que é uma etnia da Guiné Bissau) aos comerciantes, que são bastante maltratados às vezes. Têm grupo de Carnaval Mandinga (outra etnia da Guiné) que metia medo às pessoas. Acho que já existe uma certa compreensão e admiração mas, naquela altura em São Vicente havia uma demarcação classista com esses africanos, esses negros. Acho que na Praia é diferente…
Bom, o meu percurso começou com Cabo-Verde. Estava a voltar para Portugal quando soube de um concurso na Trienal de Luanda, com bolsas para duas pessoas portuguesas, entre trinta angolanos, para incorporar a equipa da Trienal de Luanda. Concorri e o Fernando Alvim gostou do meu percurso, precisamente pela revista em Cabo Verde e fui escolhida. Era uma coisa para dez meses, ligada à arte contemporânea angolana, à criação de espaços, de galerias, de reabilitação de edifícios, como por exemplo os Correios da Mutamba, a Cidade Alta, o Baiarte que fiquei a gerir uma galeria na Baixa. Nessa primeira Trienal que começou em 2005, havia cerca de 5 espaços na cidade de Luanda. Era uma coleção de arte de Sindika Dokolo, que morreu em 2020, tínhamos ali uma parte da exposição da coleção que ia mudando. Foi interessante também perceber a dimensão de pensamento e qualidade da arte africana contemporânea. Estamos a falar de 2005 Hoje, vinte anos depois, as pessoas já estão muito mais familiarizadas e até pode estar um pouco na moda, mas naquela altura, eram muito poucos os interessados. Então, adorei inteirar-me sobre os fotógrafos sul-africanos, nigerianos, os artistas com aquela garra das novas cidades que não trabalhavam sobre muitas coisas para lá das questões coloniais. Havia outras urgências e assuntos, e depois, no caso angolano, os jovens da minha geração ou mais novos, com quem convivi muito e inclusive partilhei apartamento, permitiram-me perceber o que foi ter crescido numa Luanda, numa Angola em guerra, que só termina em 2002 e o que foi ter perdido muita gente. Houve uma geração inteira que emigrou. Então, foi também um outro embate perceber que, em Portugal, pertencia a essa juventude com direito ao consumo e à boa vida, a estudar na tranquilidade e na paz, enquanto os meus amigos angolanos viveram realidades paralelas bem difíceis. Perceber que o mundo é muito maior do que a nossa zona de conforto. Creio que todas as pessoas deveriam passar por essas experiências. Tive o enorme privilégio de poder observar sem viver diretamente os dramas, simplesmente ir tomando consciência. Foi mesmo muito importante. Em termos profissionais, as experiências todas foram muito enriquecedoras para conhecer o país. a Trienal de Luanda, dar aulas na Universidade Agostinho Neto, trabalhar como jornalista… O jornalismo permite conhecer muita gente, para lá da política, e da bolha cultural. As pessoas que chegam ao meio cultural já terão tido outro tipo de acessos e, então, o jornalismo permitia-me conhecer uma realidade mais de rua. Também a Trienal. O Fernando Alvim era alguém com quem todas as pessoas acabam por ter conflitos e eu fui só mais uma da lista. Porém ele teve capacidade e ousadia de, naquela altura, propor uma Trienal tão incrível… Luanda parecia uma cidade de grande vibe cultural, sempre com vernissages. Iam lá visitar curadores estrangeiros, estava-se a criar público e a criar mercado, colecionadores, dinheiro… A arte implica muito dinheiro. Foi giro acompanhar isso e acho que apareceram uma série de nomes que depois deram um salto para a internacionalização. Foi fundamental começar por algum lado. Havia também o Elinga Teatro com um polo de artistas em torno de Mena Abrantes, os atores, a dança, lançamentos, os filmes, a noite, quase todos os dias havia atividades. A vida cultural dos anos passados em Luanda foi muito intensa. Voltei lá de vez em quando. No final de 2022 deu para perceber a desilusão pós-eleitoral, crise económica e social, as pessoas a quererem ir embora… Nada a ver com a época em que havia dinheiro (para alguns, claro), o otimismo do pós-guerra, toda a gente com vontade de fazer negócios. Aquela loucura toda. Agora sente-se o desânimo das promessas e a vida da maior parte das pessoas está pior. É como se recuássemos aos anos 1980. É triste, mas a parte cultural continua. Há mais livrarias, mais editoras, bibliotecas de bairro, há sempre gente a fazer peças de teatro, passar filmes. A cultura angolana resiste. Os jovens estão mais esclarecidos, pessoas com o acesso à informação… Ainda que haja aquele medo de falar, num país com pouca liberdade de expressão… os jovens fazem muita coisa por eles, não estão tão dependentes de intermediários, autopublicam, a palavra está acessível nas redes sociais. Temos novas vozes sem passar por certos circuitos convencionais.
Isto em Angola.
Em 2009, vou por um ano para Moçambique com a bolsa “InovArte”, trabalhar no Dockanema um festival de cinema, organizado por Pedro Pimenta, que mostrava o que melhor se fazia em África. Em 2010 integro a equipa da série da RTP2, “Eu sou África”, em que fomos (Maria João Guardão, Luísa Homem e eu) para os cinco países dos Palop filmar duas personagens que tivessem vivido a independência e então pude também conhecer a Guiné Bissau. Fui também à Bienal Internacional de São Tomé como jornalista. Passei a ser uma passageira frequente por este «espaço lusófono», para simplificar. Ainda fizemos a série Eu Sou África, sobre 10 figuras africanas que tinham vivido a independência, em todos os países (para a RTP 2, com Maria João Guardão e Luísa Homem). Foi nestas andanças que me fez sentido criar uma plataforma em que divulgasse e potenciasse essas vozes todas de criadores e de pensadores - já que tinha acesso ao «capital social» de tanta gente… Lancei o repto numa viagem à África do Sul, com o nosso querido amigo Ruy Duarte de Carvalho, uma viagem para o Ruy escrever o seu livro que ficou inacabado Paisagens Efémeras… Eu já tinha falado sobre isso em Moçambique, que queria fazer um site, mas não tinha um nome ou uma estrutura. Durante essa viagem, com a ajuda do Ruy, chegou-se à palavra “Buala”. Encontrámos o nome BUALA. Foneticamente forte, tem a ideia de comunidade, tem a ideia de periferia… «Lá na Buala”, não sabemos bem onde. É um nome suficientemente abstrato e ao mesmo tempo acolhedor, com a noção de comunidade, de aldeia e de bairro. Além do Kimbundo também se usa no Lingala.
APT: E noutras… Porque a raiz é de “casa” dos Bantu iniciais. Depois há aquelas peregrinações todas dos Bantu e as línguas mudam… A raiz da língua e da palavra que tem a ver com “casa” desses originais é, como diz o Vansina, casa enquanto essa primeira estrutura que edifica. Tens a casa que é o pai, a esposa, os filhos. Depois todas as alianças que vão dar origem à aldeia e é por isso que “Buala” também é a aldeia, também é sítio.
ML: Lindo! É um nome que encaixa mesmo bem no projeto. Por vezes os nomes vão definindo as coisas com o seu poder de fazer acontecer. Não sei explicar bem como é que aconteceu o fenómeno “Buala” daí para a frente. Mas dei e dou-lhe muitas horas da minha vida. Estava nesse impasse do que fazer, já tinha as secções, alguns colaboradores, alguns textos para arrancar, bati às capelinhas e, em Portugal, não houve muito interesse (mais tarde, tivemos um apoio da Gulbenkian). Na época havia os blogues, de cultura de determinado país, ou dos retornados, etc. Ninguém estava a perceber a importância de falar de “África de hoje em dia”. O Brasil foi a salvação, porque de facto eleva as nossas ideias. Se aqui nos mandam para baixo, o Brasil tem essa capacidade de ver potencial nas ideias. Então, com ajuda financeira da historiadora Daniela Moreau, da Casa das Áfricas de São Paulo, por indicação do Ruy Duarte de Carvalho, deu para arrancar o site. Fiquei no Rio de Janeiro uns meses a preparar os conteúdos para que, quando lançássemos a plataforma, já tivéssemos cerca de oitenta artigos. Fizemos a apresentação do site na Bienal de São Paulo de 2010. O Ruy Duarte de Carvalho acabara de falecer, fizemos a apresentação simultânea do “Buala” e o lançamento do seu livro Desmedida apresentado pela professora Rita Chaves (da USP). No Brasil, as Faculdades convidavam para divulgar, propunham coisas. Foi essencial ter passado pelo Brasil para se perceber as relações entre Europa, África, América Latina. Penar o Atlântico Negro no concreto…
O Buala foi crescendo desde 2010, faz-se do que as pessoas querem publicar. Tem sido persistente na tentativa de não ser somente académico, porque a informalidade proporciona mais variedade e é mais imediata. É o entusiasmo coletivo que faz o BUALA continuar. Em termos de qualidade, tem bons artigos e outros menos bons. Se tivesse as condições ideais de profissionalização, teria ainda mais qualidade. O facto de se ter mantido independente, não ser de um centro de investigação, de uma instituição formal, permitiu maior fluidez. As minhas estadias e continuação de projetos nos PALOP, tem-me atualizado sobre os novos artistas e investigadores.
Desde sempre cruzamos os «emergentes» com nomes mais firmados. Isso é muito importante para não negligenciar ninguém, nem os que andam há muitos anos a trabalhar sobre África e estudos pós-coloniais etc. Na realidade, é difícil definir a linha editorial. Costumo referir “Sul Global” por ser mais apropriado em termos de geografia e de resistência. Neste momento, temos muitas coisas sobre feminismos variados, questões ligadas à “colonialidade”, enquanto aquilo que fica nas relações de poder. Também há muitos textos sobre culturas populares, o Carnaval, as culturas afro-brasileiras, as religiões de matriz africana em vários espaços do mundo… Então o BUALA é bastante aberto, numa polifonia interdisciplinar e inter-geracional, tendo vários lugares de enunciação. A proveniência dos textos e das propostas são de lugares de fala diversificados.
APT: Sabemos das dificuldades que o “Buala” tem, exatamente porque ainda é uma zona de estranhamento na tua própria casa em Portugal e das dificuldades do ponto de vista dos apoios, porque ele ainda se constitui como alguma coisa de alternativo, fora da caixa… Mas penso que, lentamente, vai consolidando uma marca, eu diria. Queria que falasses um pouco sobre isso. Primeiro, a falta total de apoio de tudo quanto é institucional neste país, o que também pode dar a ideia do quanto este país pode estar afastado de certas realidades. Por outro lado, a forma como o “Buala” tem percorrido e se tem constituído como uma marca, reconhecível por gente que integra esses grupos dos “afrodescendentes” e encarados como tal mas que, saltando essas fronteiras todas, tem um significado em Angola, Moçambique, Cabo-Verde, no Brasil…
ML: Não me posso queixar da falta de apoio institucional porque temos, pontualmente, a Câmara Municipal de Lisboa e a DgArtes. Não é muito, mas o suficiente para poder pagar os artigos encomendados e propostos. Também há artigos que são republicações que já saíram em outros lados. Com a política de creative commons, que ajuda a ampliar coisas que saíram noutras plataformas, republicadas no BUALA já atinge outro tipo de leitor. Alguns autores de artigos em revistas científicas pedem para publicar no “Buala”, isso acresce imenso para não estarem só a falar uns para os mesmos, essa amplificação de vozes ajuda. Apoio da Câmara Municipal de Lisboa, já houve da Gulbenkian, e da DGArtes. Nesse caso tem de ser mais ligado às artes. É um híbrido enquanto plataforma, não entra totalmente no universo das artes então houve tentativas a que eu me candidatei, eles disseram que não se enquadra… Não respondem a literaturas… Cinema é o ICA … Teatro, também não estamos a fazer. É um porta digital. A DGArtes demorou algum tempo a entender outro tipo de edição, destas plataformas de produção de conhecimento. Há a secção de “cruzamentos disciplinares”, mas tem de se adaptar o discurso do concurso para a versão artística. Durante oito anos não tivemos apoio de ninguém… Há ajuda de estagiários que vão passando até aqui da FLUL, em Estudos Africanos e no ISCTE…
Creio que o que isto diz sobre Portugal sobre a dificuldade…
Como dizia, no Brasil perceberam logo que era um projeto importante e a atitude é logo a de querer participar, de colaborar com interesse, curiosidade… Em Portugal há mais desconfiança. Felizmente foram surgindo muitos lugares de debate ao longo dos anos. O “AfroLis”, a “Consciência Negra”, o «Afrolink», e, em geral, a luta antirracista feita por pessoas racializadas. Nada disto colide com o “Buala”, acho que nos complementamos. As pessoas percebem que tenho conhecimento e que é uma relação continuada com países africanos, não vou extorquir. Pelo contrário, estou mais interessada na constante devolução de conhecimento. Creio que é um respeito e relações que se criam no tempo, porque obviamente há muitos oportunistas na questão africana. Sempre houve os oportunistas, fazem muito parte da história africana. Pode-se apontar-me o dedo noutras coisas, não sei, podia ter usado essa energia e tempo para fazer algo diferente, então não é por aí.
Portugal é reactivo, não se interessa a fundo pelos estudos pós-coloniais talvez porque, no senso comum, haja grande dificuldade em aceitar o problemático que foi toda essa história colonial e as suas sequelas e consequências de hoje. Ainda não se conseguem ver alguns aspetos com a devida distância e a maior parte dos portugueses e os africanos parecem muito mal resolvidos nessa história. É uma faca de dois gumes.
É bom que haja contraditórios ideológicos. Quer dizer, há fronteiras e obviamente não vou publicar artigos contra ideias fundamentais. Há os mínimos de consenso. Além da parte de arquivo de publicações, queria que promovessemos mais debates ao vivo, mas para isso era preciso termos uma equipa estruturada, o meu sonho: que evoluísse para uma estrutura.
Assim, não me surpreende que tenha sido um percurso ardiloso, mas é o que a Ana Paula estava a dizer, aos poucos a «marca» existe, já tem quatorze anos, mais de oito mil artigos, cinquenta mil visitas por mês, vindas dos lugares mais incríveis do mundo inteiro. Até porque há também textos em inglês e em francês, que ajudam muito. Era um dos objetivos, o de tirar das margens a cultura dita “lusófona”, por exemplo os estudos em língua portuguesa ainda são muito marginais, em comparação aos anglo-saxónicos, ou aos francófonos. Portanto, traduzirmos coisas que dizem respeito a países de língua portuguesa para inglês ou francês, aumenta a visibilidade de muitos autores e de muitos temas que existem na língua portuguesa. É importante internacionalizá-los mais do que estarmos a traduzir para português o que é feito nos Estados Unidos ou na Alemanha. Há tantos investigadores interessantes, que acabam por circular só no Brasil ou em Portugal. Há muitos gente interessada. Há muitos especialistas sobre Angola que não falam português. Quero contribuir para que haja mais gente com o tal olhar de observador externo, digamos assim. A pouco e pouco, vai havendo conhecimento, solidez e, pronto, dura o que tiver de durar. Já foi um projeto bonito do qual tenho muito orgulho.
APT: E além disso, é impossível desligar o nome Marta Lança do “Buala”, da mesma maneira que é impossível desligar o teu nome das traduções que foram feitas numa determinada altura, e quão importante que essas coisas chegassem a Portugal. Lá fora já se fazia há muito tempo a discussão da “afrodescendência”, “afropeu”, ”afropeia”, mas havia toda uma panóplia de pensadores em livros que não estavam acessíveis em língua portuguesa, e isso é o resultado do teu trabalho de tradução, um caminho de complementaridade.
ML: Está tudo ligado! O “Buala” já fazia isso a nível de artigos, mas outra coisa são os livros. O [Boubacar] Boris Diop, pensador senegalês, quis colaborar logo num dos primeiros textos do “Buala” e traduzimos francês… Vários outros pensadores não-lusófonos foram traduzidos. Depois, em 2013, propus ao Luís Oliveira da “Antígona” traduzir a Crítica da Razão Negra do Achille Mbembe, que era, de facto, o primeiro livro dele em Portugal. Aliás, sai em português antes da tradução em inglês (ele escreve em francês). Foi fundamental termos acesso a estes autores da contemporaneidade. O Mbembe escreve sobre o mundo de hoje com a inscrição na história. Nesse primeiro livro, como se vão constituindo as categorias do negro, as representações de África, o regime de plantação na base da colonialidade, e tudo isso ligado à sociedade capitalista. As figuras da subalternidade e o devir negro do mundo. A categoria “negro” não só como questão étnico-racial, e diferentemente do «orgulho negro», mas sobre as pessoas cada vez mais destituídas. Esse tipo de reflexão vem de uma releitura dos historiadores e dos filósofos (como Kant da Crítica da Razão Pura). Depois as Políticas da inimizade, e este penúltimo Brutalismo. Entretanto, as editoras começaram a publicar muitos outros autores. Ainda falta traduzir tanta coisa, mas nestes últimos dez anos diria que se avançou bastante caminho, e aqui lembro-me das incontornáveis aulas da Professora Manuela Ribeiro Sanches que incentivou e publicou muita coisa por cá. Os textos de teoria pós-colonial eram todos dados em inglês, ou francês, ou espanhol, porque havia muito pouco. Os brasileiros traduziram muitos mais, mas a maior parte dos clássicos, como Spivak, não havia em português e agora…
APT: Alguns continuam a não haver, salvo no Brasil, que tem o costume da tradução.
ML: É como em Espanha que traduziu muito mais, até porque temos a América Latina, o mundo hispânico, em que traduzem tudo. O Brasil sempre traduziu mais, mas mesmo assim… Há um certo preconceito por parte da academia portuguesa em usar o português do Brasil, acho que isso ultimamente tem mudado um bocadinho.
APT: Acho que ainda há…
ML: E com tantos estudantes bons brasileiros cá… No doutoramento, frequentei aulas na UFF, em Niterói, e na USP, em São Paulo, e são universidades ótimas. O grau de politização dos alunos, dos professores e os debates são de grande nível. Enfim, é mesmo um mal entendido. E ignorância, porque há muita produção! O Brasil como produz muito, claro que também tem muita coisa má mas, qualquer assunto que a gente “google”, há sempre muitas teses de brasileiros. Trabalham sobre tudo! A curiosidade é enorme. Outro [autor] que traduzi foi o Felwine Sarr, Afrotopia. Tem sido importante para alguns leitores, mesmo simbolicamente, termos traduções em português desses grandes autores. Ando a ler a última tradução da bell hooks, Tudo sobre o Amor, escrito em 2000 e publicado agora pela Orfeu Negro. Estou a adorar. Também foi importante a tradução de Não Serei eu mulher?. Pensarmos a que mulheres nos referimos, e a que feminismo, elaborar melhor a importância da interseccionalidade e outros conceitos que ela nos trouxe. São autoras fundamentais para se compreender o nosso mundo. Tudo sobre o amor (o título parece livro de autoajuda) é um manual para entender e tentar pôr em prática uma ética amorosa. O amor como um verbo, como uma ação. Nada a ver com o amor romântico, nem com a família nuclear. A importância de conseguirmos, desde pequeninos, ter definições e instruções para podermos ser pessoas de amor, de comunidade e de empatia. Contrastado o livro super feminista com os exemplos políticos dos Estados Unidos… bell books descreve a partir de famílias afro-americanas pobres e disfuncionais, onde há violência doméstica, que sofreram com muita falta de amor, e como se consegue recuperar a integridade nesses meios.
Talvez em inglês iriam passar-me algumas coisas, a tradução é preciosa, aliás, uma política de tradução de autores negros que pensam o mundo (e não só a negritude) a partir do seu ponto de vista, como pessoas “racializadas”, são todas diferentes também. Como dizia a Djamila Ribeiro, no outro dia na Gulbenkian, “Eu não tenho de representar ninguém, nem ninguém me representa!” No sentido em que ninguém pede isso a uma mulher branca, que represente todo um povo, então porque é que se há-de pedir que toda a gente tem de concordar. Claro que há gerações anteriores, outras mulheres que nos são guias para entender a continuidade de sofrimentos e de superações. E sentirmos a ideia de coletivo, não interessa muito esse “eu” individual. Não representar ninguém, mas várias pessoas identificarem-se com as histórias daquelas mulheres e se tocar a muitas [mulheres] é porque o que ela diz… Várias autoras negras reverberam muitas experiências com as quais muita gente se identifica. A identificação passa por algo que precisavam de saber e conhecer ferramentas para se defender, ou para desconstruir os seus preconceitos. Outro autor também traduzido recentemente é Frantz Fanon á havia traduções dos anos 1970 mas difícil de encontrar.
APT: Sim, havia… Mas por exemplo, os escritos políticos só apareceram agora. “Escritos Políticos e Psiquiátricos”, de Frantz Fanon (BookBuilders, 2022). E com uma bela introdução da Manuela Ribeiro Sanches, que também traduz. A introdução é um ensaio e objeto de estudo para todos nós!
ML: Sem dúvida. Havia também Os Condenados da Terra também pela Letra Livre com prefácio feito da Inocência [Mata]…
APT: O prefácio de Ribeiro Sanches realmente deveria ser estudado, para as pessoas todas perceberem que quando eu cito Fanon… Eu não tenho essa legitimidade, a não ser que conheça profundamente o pensamento político e aquilo que ele representou, não só numa certa época, mas, como dizias sobre essas mulheres anteriores a nós, que deixaram legados e legados… Fanon também se reproduz numa série de pessoas que lhe sucederam no tempo e que o foram lendo e foram reproduzindo e adaptando ideias.
ML: Nos seus tempos!
APT: Não é possível ler Mário Pinto de Andrade sem pensar que, quer ele o tenha o não dito abertamente… Porque às vezes não é conveniente ter dito… Ele passou, teve de passar por ali! E é muito interessante.
ML: Exatamente… São caminhos que se vão pavimentando entre vários interlocutores, mas que têm reflexões que parecem boas e já tantos outros pensaram no mesmo, com outros códigos… Sim, e os autores da geração de independentistas, e até a anterior, a dos protonacionalistas têm tantas reflexões que podíamos ressignificar hoje em dia. Mário Pinto de Andrade foi um «guia» para os três autores do Tribuna Negra, fundamental para lerem o arquivo dele e no seu livro Origens do nacionalismo africano. Portanto, ele aborda uma série de coisas dos inícios do século XX e outras pessoas depois dão continuidade através de jornais e outros documentos que se vão agora descobrindo. Mário Pinto de Andrade pode ser lido a partir da literatura, dos ensaios… Como Amílcar Cabral, integra as fontes do seu conhecimento. E são autores que sempre se vão ativando. Fiquei feliz que o livro de Mário Lúcio, a partir da vida de Amílcar Cabral, vá entrar no Plano de Leitura Nacional. Ainda por cima é um romance, é uma ficção a partir da vida e da obra que pode suscitar mais conhecimento sobre Cabral. Amílcar Cabral é um pensador incrível já foi conotado até nessas listas como uma das cem figuras mais importantes do mundo, e que a maior parte dos portugueses não fazem ideia da dimensão e da importância que teve para Portugal! Uma das nossas reivindicações desta Declaração do Porto é que seja reconhecida a importância de Amílcar Cabral para o 25 de Abril, para a Democracia portuguesa… Ele e outros. [Amílcar Cabral] fez a tese cá sobre o Alentejo, trabalhou questões que importam hoje em dia, com as emergências climáticas e o planeta a rebentar… Tem imensa reflexão sobre a ecologia, como a monocultura estraga a biodiversidade, assuntos que se fala tanto. Depois, as questões políticas, a estratégia da guerra e da educação. Sempre sublinhando que não era contra Portugal, mas contra o regime colonialista! Quer dizer, isto é tão básico, mas que tanta gente ainda confunde… “Estava a lutar contra Portugal”… Havia muitos portugueses antifascistas e anticolonialistas… Não eram os portugueses, era um sistema de que também eram vítimas e, portanto, ele ter tido essa clarividência na altura em que estava tudo em alvoroço e saber distinguir o inimigo comum é incrível. Continua a ser uma questão que, à luz de hoje e também na nossa leitura do passado e dos conflitos atuais, ainda se põe… Que tipo de alianças se podem fazer… O que é que interessa? Para não andarmos aqui em trincheiras equivocadas. Amílcar Cabral também nesse aspeto pode ser um auxílio para se perceberem as lutas de hoje em dia! Todas as suas reflexões e experiências concretas das zonas libertadas, das escolas, do método pedagógico de Paulo Freire, de tanto que foi experimentado na Guiné [Bissau]… Felizmente já há mais gente a trabalhar a obra de Cabral. A questão é chegar ao cidadão comum! Isso é o nosso desafio aqui nas universidades e na produção de conhecimento, chegar a mais gente. A minha convicção de que as coisas só vão mudar por aí… furarmos o esquema da pobreza, o ciclo em que não há ascensão social… Por isso defendo que haja políticas de quotas e tudo mais, porque faz toda a diferença! O Brasil é a prova, bastou uma geração para muita gente mudar de posição, de estatuto.
APT: E bastaram cinco anos…
ML: Se houver políticas fortes que estão sedimentadas, venha o político que vier, talvez se consiga dar continuidade ao que está protocolado. Na dimensão de Portugal, não seria tão difícil de fazer mais políticas de descriminação positiva e essas pessoas, que têm problemas tão graves de acesso à habitação, de direito à saúde, à educação, se chegassem ao ensino superior começariam a ter outro tipo de trabalhos e talvez saíssemos da marcada reprodução de elites à portuguesa. Porque continuamos um país das famílias, ainda estamos nesse provincianismo. Portanto, faria sentido implementar um programa específico para a questão racial, pois é das principais fontes de desigualdades em Portugal. E enquanto não se apurarem os dados para se perceber, com factos reais, que a população com mais problemas tem uma matriz colonial, que existe uma linha a separar quem tem direito a usufruir e quem não tem direito sequer à cidadania… não se revolta. Parece evidente, qualquer pessoa que venha de fora a Lisboa percebe que é uma cidade segregada. Temos muitas dificuldades em entender isso como questão estrutural. A partir do entendimento, pode-se criar políticas públicas e as coisas avançam.
Retomando a ideia da proliferação do conhecimento, uns mais políticos e outros mais pela via da cultura, tudo isto se interliga na vontade de uma sociedade mais justa onde toda a gente se sinta representada. Temos ainda um longo caminho a fazer… e parece que esse entendimento cada vez está mais ameaçado… Portanto, voltemos a esses clássicos, ao ‘Mário Pinto de Andrade’, ao ‘Amílcar Cabral’ e tantos outros. Tenho muita curiosidade. O que é que a geração dos protonacionalistas angolanos estavam a fazer e porque não são estudados, se até deixaram tantos escritos…
APT: A historiadora Conceição Neto, que esteve como consultora do projeto “Independência”, quando estudaram, por exemplo, os campos de concentração, onde estiveram angolanos e os campos de concentração… Não foi o Tarrafal…
ML: São Nicolau…
APT: Exato! Peupeu, São Nicolau… Os pequenos e grandes campos de concentração no interior de Angola agregaram centenas de mulheres, porque iam os presos e as mulheres, ou ia um preso e acabava por constituir família num local e ela [Conceição Neto] trabalhou as mulheres, em Camissombo, por exemplo, trezentas mulheres estiveram no campo de concentração…
ML: A ajudar a luta, a ser agentes da luta…
APT: A ajudar a luta, a resistir, a trabalhar com os presos. Exatamente! A ter filhos, que de certa maneira já vinham com uma ideia de Angola que não era a mesma que os outros tinham, mas falta muito trabalho para se saber realmente quanto as mulheres fizeram durante todos aqueles anos.
ML: Estávamos a falar dos autores já minimamente canónicos… Que correspondem a um leque de referências do tempo colonial, digamos assim. E agora com o livro Tribuna Negra percebemos que os coletivos, cá em Lisboa, a diáspora negra mexeu-se muito para agilizar a luta. Havia poucas mulheres a escrever nos jornais, mas havia muitas a organizar os coletivos. A Alda Espírito Santo…
APT: A Noémia de Sousa…
ML: E Andreza do Espírito Santo que os recebia na rua Actor Vale [em Lisboa].
APT: E a Noémia que sabia muito bem inglês e traduziu livros do movimento negro norte-americano, traduziu Langston Hughes e outros para autores como Viriato da Cruz que não dominavam tão bem a língua inglesa…
ML: A Georgina Ribas, enfim outras feministas e ativistas daquela época. Mas eram poucas as que deixavam a sua marca nos textos escritos, principalmente nos anos cinquenta. A pergunta é, porque é que não escreveram tanto? Ou porque não eram publicadas? Elas sempre estiveram no debate, se calhar não de forma pública, mas fizeram sempre parte dessas tentativas e terão sido se calhar até muito ativas, mas o debate público é predominantemente masculino, nessas referências todas… E voltando à bell hooks de Não Serei eu mulher?, uma das críticas que ela faz às feministas brancas é que desconsideravam a questão racial e que os homens das lutas pelos direitos civis norte-americanos não queriam saber de feminismos. Muitos revolucionários têm tendência a ser machistas… Cá, nos Estados Unidos, em África. Então, custa-nos a admitir, por mais que admiremos esses homens revolucionários, mas por detrás desse ímpeto revolucionário, houve sempre mulheres que ficaram apagadas e a tentar dar força ao movimento. O apagamento de tantas e tantas mulheres que estiveram ali, no companheirismo, a arriscar a vida, a ter os filhos, a ajudar, a dar comida, a ir visitar os presos… Toda uma economia e esforço, de guerrilha e também no pensamento, embora fosse mais difícil ousar escrever, ousar dizer, tomar o discurso público. Foram sempre exceções as que ficaram para a história; é do campo da exceção. E isso é uma tristeza…
APT: Mesmo hoje ainda há uma certa dificuldade em pôr cá fora e assumir-se como um “eu”, o “self” e assinar o nome… Há muitas mais capacidades de trabalhar para o coletivo da parte das mulheres. Mesmo nos feminismos, nós vemos nas reuniões que há muito mais capacidade de trabalhar para o coletivo do que “eu ponho aqui a minha marca; eu sou boa”.
ML: Há um auto boicote que as mulheres fazem. E se têm protagonismo são mal vistas.
APT: Só na próxima geração talvez… E eu não gosto de falar na próxima geração em geral, porque há muitas próximas gerações… A próxima geração de certos sítios na Europa não será a mesma que a próxima geração de certos sítios no continente africano, porque as suas lutas não são as mesmas.
ML: Pois não. As pautas são outras.
APT: São pautas completamente distintas, mas talvez em alguns sítios na próxima geração a mulher já tenha uma outra visibilidade. Por enquanto, ainda não.
A “Buala”, ou o “Buala”… toda a gente a dizer o “Buala”…
ML: É por ser o “site”, mas o mais correto seria no feminino.
APT: Eu penso que o “Buala” se constituiu já como uma instância, como dizia há pouco, uma marca, uma instância de legitimação para a criação literária. Há escritores, autores e autoras que partilham as suas obras com a tua plataforma ainda antes de elas terem sido publicadas. Talvez fosse interessante falar dessa parte…
ML: Entre várias áreas há um pouco de literatura, ou crónicas. Mais do que escritores ou escritoras, o que se encontra ali é mais um registo da crónica. O Marinho de Pina, arquiteto e músico guineense tem uma série que é o «diário de um etnólogo guineense na Tuga» em que se dispõe a a analisar a «etnia tuga». Já que os portugueses falam de África e dos africanos como se fossem todos iguais, ele fala dos “tugas” como os europeus, mas depois “ah, agora vou falar só dos de Portugal”, como se fôssemos todos os europeus, uma coisa parecida, como eles fazem com África. Estava a pensar em vários autores que publicam no “Buala” que gostava de compilar os textos em livrinhos de reportagens, outros de crónicas… Por exemplo as crónicas do Pedro Cardoso, jornalista luso-angolano, que escreve a partir do México sobre a América do Sul…
Viveu muitos anos em Angola, as reportagens dele trazem sempre um ângulo diferente dos jornais generalistas, então acho que não perde a atualidade, são tão bem escritos que é prosa de não-ficção, digamos assim. Depois, de escritores conhecidos que têm pré-publicações no BUALA temos desde Mia Couto, ao Agualusa, à Djaimilia Pereira de Almeida, à Gisela Casimiro… Se fizesse um recorte só pelos autores podíamos ter mais noção… Foi acontecendo espontaneamente, ou a editora contacta o “Buala”, ou nós contactamos para fazer uma pré-publicação, ou um excerto, ou a introdução. Mesmo esses livros de teoria e de pensamento político podemos pedir para publicar a introdução. Agora publicámos a Judith Butler, a Spivak, assim em acordo tácito quando interessam, porque são coisas que ficam ali, documentando que determinado livro saiu em tal ano, a introdução, o prefácio, a conclusão de teses de doutoramento, uma série deles… Mas de literatura, de romances, vou estando atenta o Israel Campos, nova voz angolana.… De Moçambique, Eduardo Quive, Paulina Chiziane. Não é uma área fundamental do “Buala”, a literatura, mas tenho sempre atenção ao que vai saindo e m cheirinho do livro fica ali, recensões e análise literária e isso. Pessoas de estudos literários procuram o “Buala” para publicar, às vezes comparando literatura do feminino na Afro-diáspora, é um assunto que já junta vários autores. Há muita coisa que tematizam: o que a nova geração de escritoras afro-portuguesas estão a trabalhar, ou o que é que em Angola… Podia fazer um recorte por aí e encontrar imensa coisa só na área na literatura, direta ou indireta, crítica. Mais uma vez não fechamos fronteiras: escritores africanos, mas também Afro-diáspora do Brasil, em que há imensa coisa dos que são de lá. Gostava até que a literatura tivesse mais força, embora a forma como a literatura é mostrada nos jornais generalistas é muito limitada, recensões de livros de novidades. O “Buala” não se prende à atualidade, então não quero reproduzir aquilo que já se faz nos jornais. O “Buala” procura ensaios, investigação, artigos com tempo, assuntos que não percam a atualidade e que ali ficam, ou que são uma marca do seu tempo. Pode ser documental, no sentido em que vamos ler agora, mas agora já não se usam estes conceitos, o que não interessa, porque faz-se na mesma história do léxico, daquilo que se chamava o «lugar de enunciação», ou o «lugar de fala». Como estas designações vão mudando.
No Brasil, agora nos últimos dois anos diz-se menos “pessoas racializadas” e mais o «povo negro» «gente preta». Acompanhar essas mudanças é também fazer história dos debates, das urgências diversas, quer dizer, falarmos de reparações a partir de Portugal é muito diferente de falarmos de reparações a partir de Angola. Também temos de ter noção e de contextualizar o lugar e o autor e que tipo de reflexão ele elabora no seu contexto. Quando há tantas outras coisas primeiro para pensar e democracias por lutar. O mínimo de vida sustentável para tecidos sociais de países que estão tão depauperados de valores, com tantos problemas obviamente ali não vamos discutir o promenorzinho da reparação disto ou daquilo. É muito mais fundo…
Voltando à literatura, era importante fazer essa lista de autores que publicaram… (Se vocês depois quiserem para efeitos de artigo, dar assim uns vinte nomes daqueles que considero que passaram pelo “Buala”). Lá está, também pessoas sempre de novas gerações e outros que estavam a começar e ainda ninguém tinha ouvido falar [deles] publicaram no “Buala” e, mais tarde, ninguém se lembra, ou tem outro reconhecimento. Gosto muito de acompanhar esses processos, qualquer coisa que me chamou à atenção, ou de pessoas que me vão dizendo. O “Buala” não se faz sozinho! É uma rede gigante de pessoas. É mesmo de coletivo, embora infelizmente se centralize muito em mim e eu não gosto que assim seja, mas pronto, estou metida neste modus operandi do qual é difícil sair. Mas há muita gente envolvida, tem sido uma bola de neve de colaborações…
Ainda ontem recebi um livro sobre a história de Tavira (A Conquista de Tavira, de Pedro Silva Sena), de um autor português, com uma folhinha lá dentro a dizer “no capítulo tal fala do cemitério de escravos da Gafaria, Lagos”. E nós pensámos “pois, o Algarve tem uma história colonial incrível” e ele [autor] fez um estudo sobre isso e efabulou qualquer coisa… As pessoas mandam porque sabem que há qualquer coisa no livro que pode ter interesse para o “Buala”, e também porque a divulgação de jornais generalistas é muito inacessível, e tendem a falar sempre dos mesmos. Toda esta perversidade do meio cultural português, de quem tem influência, quem faz mais “marketing”, o primeiro romance de alguém com imenso consenso, depois uma data de pessoas a publicar sobre as quais não sai uma única nota. Portanto, procura-se estas plataformas como alternativas de visibilidade, nem que seja para dar conta que o livro saiu, a peça está em cena e, sobretudo, deixar registo. Vivemos num imenso consumismo cultural frenético, sobretudo a partir de Lisboa e Porto, e as coisas depois não deixam lastro.
Se antes nos queixávamos que não havia muita oferta cultural para debatermos estes assuntos, agora já não se passa isso. As pessoas só não se informam se não quiserem ou não puderem, porque não falta linhas de leitura, fornadas de histórias pessoais, contradições… Nos anos noventa havia o Teatro do Pau Preto com dirigido pelo Miguel Hurst (onde colaborou o investigador António Tomás), muito importante! Desde 2010 o Teatro Griot, tem tanta outra coisa…
APT: Hoje [14/07/2023] a Arimilde falava que eles [Teatro Griot] vão uma nova peça a partir da Paulina Chiziane, Ventos do Apocalipse, adaptada por Noé João.
ML: Pois, bem. Também é uma forma de trazer os autores. Peças que são adaptações de romances podem chegar a um público mais jovem que já não lê tanto e vê através do teatro… Cria uma dramaturgia… Já que estamos a falar de teatro, há dois anos que fiz apoio dramatúrgico à peça “Limbo” do Vítor de Oliveira, que é um ator de cinquenta e poucos anos que vive em Paris era a partir das suas memórias. Gosto muito do teatro documental, que vem das memórias biografias, eu gosto de histórias de vida e ele tinha várias ideias, mas depois organizar aquilo em blocos de texto para um solo. O lugar dele na história é o do limbo de mestiço, que sai de Moçambique na altura de Samora Machel, 1979. Os mulatos eram muito mal vistos e, portanto, há ali uma frustração grande. É um jogo geracional. O pai que acreditava que devia continuar na sua vida, trabalhava nos caminhos de ferro, sem querer chatices com os «terroristas, que estão a fazer guerra», longe de saber que ia haver independência. Uma geração que estava longe de acreditar que a independência fosse possível.
APT: Estava longe e queria estar.
ML: Sim. E estavam na sua vidinha e os filhos depois começaram a ganhar consciência política em casa. Depois vêm para Portugal como retornados… Sempre viveram em Moçambique e até vinham daquelas mestiçagens todas que há em Moçambique, com indianos e chineses. Ele recuava na peça três gerações para cima dele e era tudo lá do Índico… E de repente dá-se 1975, o pai ainda tentou ficar mais uns anos, mas aquilo corre mal para os mestiços e corriam algum perigo… A primeira memória dele é um carro a ser incendiado, que estava à frente do deles, naquelas colunas militares que dividiam as pessoas. O Victor e o irmão, um é mais clarinho e outro mais escuro, podiam ir para o lado do bem ou do mal, naquele momento da história em que era tudo um pouco aleatório… Vêm para Portugal, para um reformatório em São Pedro do Sul, com não sei quantas famílias de retornados durante dois anos, muito frio, viam o “Tarzan” e a “Escrava Isaura” na televisão. Tínhamos muitas referências da cultura popular na peça… Foi espancado por “skins” em Portugal… Se em Moçambique chamavam-no de branco, em Portugal chamavam-lhe de preto. Esse lugar de mestiço não tinha muita expressão no teatro, em termos de histórias de vida. Pronto, o ator conta as suas memórias e foi catártico, para ele e para as pessoas que assistiram. Algumas reconheceram a história, não totalmente mas viveram coisas parecidas. Isto foi só um exemplo de coisas… Adorei fazer esse trabalho, ajudar alguém a pôr as suas memórias em ordem e criar cenas não muito teatralizadas, era só praticamente texto e montagens visuais. A história pessoal do pai dele e a dele, complementam-se perfeitamente. E até chegar à geração do “Black Lives Matter” e do Bruno Candé. Ele vive há muitos anos em Paris e tem a luta antirracista em França. Então também é ele a tentar perceber o seu lugar em Portugal e a ficar surpreendido com a luta aqui. O teatro tem essa capacidade mais imediata de contar histórias, tal como a literatura, mas mais forte do que a academia. Nada anula as formas de linguagem, mas criar empatia através do teatro ou da literatura, as pessoas sentirem que estão ali a ver coisas que lhes dizem respeito, tem uma força. Eu via nessa peça só o tempo de representação que seria uns três dias no [Teatro do Bairro Alto], algumas pessoas sairam a chorar, porque viam a história da sua família ali e tantas mais estava por contar.
Precisamos largar a nostalgia colonial, já não estamos nesse lugar. Em muita literatura, a maior parte da literatura dos retornados, e arte produzidos nota-se a dificuldade de aceitar a história. São pessoas que não querem voltar, não querem ver, não querem perceber. Ficaram naquele país e vida, douram a pílula dos melhores anos da sua vida, não reconhecendo porque a violência que esconde essas memórias incríveis. Mas há cada vez mais vozes críticas. Para além das escritoras Dulce Maria Cardoso e Isabela Figueiredo, outros com menos visibilidade, é preciso fazer esses levantamentos. Nesse trabalho de textos de memória, direta ou indireta, e agora a pós-memória, creio que muita gente escreveu. As pessoas tiveram sempre a necessidade de falar e escreveram sobre colonialismo. Claro que o que se tornou um “corpus” literário e que valores os livros passavam. Nas nossas famílias, quem esteve na guerra não iram contar coisas a violência às criancinhas, mas foi havendo partilha dessas histórias. A nova geração tem outras coisas para contar. Viver nesses países hoje em dia não tem nada a ver com esses tempos. Embora, tudo o que se passou até 1974/75 influencie ainda momentos de hoje em dia. Está lá a prova do crime…
APT: Penso no meu país concretamente [Angola], o fenómeno está a acontecer. A geração mais nova de depois da guerra…
ML: Muitos que já depois de 2002.
APT: Depois da morte do Savimbi, em 2002. A agenda deles [novas gerações] é outra. É a sobrevivência, são os direitos, é sua inserção no mundo. Não tem a ver com a resistência ao colonialismo… É muito distante. Por culpa de muita gente, essa corrente não se fez, tem cortes e não sei que consequências terá.
ML: É distante.
APT: Não estiveste em Angola, em Cabo-Verde, nem no Brasil, nem em Moçambique, nem em sítio nenhum a fazer turismo, mas como pessoa empenhada. Então, nesses teus trânsitos, como é que vês, a questão dos afrodescendentes? O que sabes das maneiras como eles se veem a si próprios e se isso tem ou não um eco nos países?
ML: Não sei necessariamente como é que eles se veem lá, ou como é que isso reverbera nos países africanos. Desde esses tempos dos nacionalistas, houve gente a vir para as diásporas, nomeadamente para a Europa e sentiram mais capacidade de criar unidade, de se verem como negros, «diferentes» da norma europeia, seja lá o que isso for. Mesmo na faculdade os estudantes dos PALOP’s vindos para Portugal contam que percebem o que é ser negro só fora de África. Não se sente necessariamente lá. Então, isso cria uma complexidade nesse chavão do afro-europeu, mas também há que distinguir pessoas que só estão cá de passagem a tirar os seus cursos, que são africanos e não são afrodescendentes (quer dizer, literalmente também serão), vêm passar umas temporadas, mas depois voltam para os seus países e creio que não se reveem nessa definição. Podiam estar em Joanesburgo, que podiam estar em Londres, mas como há essa relação com a língua do país e com a história colonial e, vêm para Portugal que nem deve ser a primeira escolha. Na cultura europeia, a noção de afrodescendente até se desenvolveu mais agora na década dos afrodescendentes (2015-2024), mas dá-me a ideia que foi romantizada quase «luso-tropical. Aproveitou-se pouco dessa época para aquilo de que estávamos a falar, as políticas afirmativas, de diagnosticar os verdadeiros problemas, ao invés de discursos de retórica só de interculturalidade, que não adianta muito. É mesmo a questão do “onde é que estamos a falar como sociedade; quem é que são os principais prejudicados?”. A década dos Afrodescendentes poderia ter sido um bom comboio para fazer chegar à ONU, à UNESCO e a entidades da Comissão Europeia os problemas reais que Portugal tem em relação a essa população mais despossuída. O grosso da população afrodescendente já é nascida há mais de duas ou três gerações em Portugal. Se contarmos com essa baliza temporal desde 1974 quando chegou muita gente, para a frente já houve três ou quatro gerações e ainda há os outros todos para trás, porque a presença africana já tem três ou quatro séculos. Portanto, lá está, essa descontinuidade da história, da pós-abolição, como no Brasil está isso tudo interligado em Portugal parece que começa com os africanos que vêm em 1975. Não! Há uma história lá atrás, do século XVII, mas para estes afrodescendentes mais recentes…
Sobre os meus trânsitos, não sei… São importantes as questões que estão a ter cá, mas depois aqueles angolanos, ou cabo-verdianos, que também estão em trânsito e vêm cá, dão-me a noção de que as urgências são muito diferentes, claro! Estamos aqui a discutir o feminismo em termos lexicais e lá está-se a discutir a violência contra as zungueiras, ou as mamãs que não conseguem dar de comer a tantos filhos, ou como se vive no musseque e essas coisas todas. Não podemos também hierarquizar as lutas, porque a verdade é que também vemos quem é que trabalha nas limpezas e quem trabalha para sustentar e cuidar da cidade, e a que cor corresponde. Portanto, essa tal matriz colonial está muito presente nas nossas sociedades e já há muitos afrodescendentes mais esclarecidos no seu empoderamento e estão a ter cada vez mais capacidade de dialogar e de dizer “não, já basta”. Basta de opressão, basta de discriminação… Há muito mais tensão. Tensões necessárias e confrontacionais. Temos de aprender a lidar com isso, achamos que estamos a caminho de um grande entendimento, mas há muitas que não estou a entender, porque eu também me estou a desconstruir. Todas nós temos ainda laivos de machismo, racismos, temos de trabalhá-las, porque é na ação e na reação que as coisas vêm ao de cima, não nos discursos bonitinhos. Lá está, Fanon, o que é que interiorizámos? E o que tantos africanos, ou negros, interiorizaram do racismo e dessa perda de confiança de si, de perda de autoestima? E tem muitas questões psicanalítica tudo isto. É uma coisa que tem de ser trabalhada também… Uma das propostas que temos nesta Declaração do Porto é a “Literacia nos serviços públicos” em relação ao preconceito e ao racismo, porque as pessoas precisam de formação, não nascem a saber, sobretudo quem não teve oportunidade de contactar com certos livros, autores e pessoas que esclareceram… E depois também as pessoas negras estão cansadas de ter de fazer pedagogia. Então se houvesse forma generalizada de formação, a dizer nas entidades empregadoras, no ensino público, haver literacia em relação a isso. Explicar: «Há coisas que não se podem dizer… Mas porquê que não se podem dizer? Porque…» Explicar o básico! E recomendar leituras. Isso faria uma sociedade mais saudável, menos tóxica e não tinham de estar as pessoas que vivem esse preconceito a ter de ver todos os dias no racismo quotidiano a levar com desconfianças permanentes, porque isso de facto não melhorou muito.
APT: Medo…
ML: Medo. Afastarmo-nos do passeio. Não sentar ao lado… Amigas angolanas que vêm cá reservar uma noite de hotel e a rececionista “Tem a certeza que é para si?”, como se não pudesse dormir num hotel… Coisas assim. Constantemente, à partida, a desconfiança, um “a priori”, nas viagens, nos aeroportos, lojas do cidadão…
APT: Os pequenos locais de poder, os serviços públicos, nos hotéis, são pequeníssimos lugares de poder, que são exercidos com tamanha violência… Com uma enorme violência. Às vezes, são pessoas que devem ter uma vida infelicíssima. Todos os dias têm, em casa, violência doméstica, os salários são baixíssimos e portanto as pessoas vivem a contar tostões, não há… Chegam ali e exercem sobre o outro uma violência da qual elas próprias e eles são vítimas.
ML: De pisar aquele pequenino que está ali
APT: Exato! “Agora chegou a minha vez. Em casa, logo à noite, eu vou apanhar provavelmente, mas agora é a minha vez e, portanto, tu vais levar”. Eu acho que essa tua ideia de formação é…
ML: Desses pontos, acho que é o mais importante da Declaração do Porto. Para contextualizar, a “Oficina das Reparações” foi organizada pela Kitty Furtado e Inês Beleza Barreiros, e reuniu os contributos de Apolo de Carvalho, de Ellen Lima Wassu, investigadora indígena do Brasil; a Gessica [Correia] Borges, investigadora de São Paulo, que está no Porto; a cantora Aline Frazão de Luanda. Trata-se de uma Declaração dirigida ao Estado Português, talvez interesse mais às pessoas afrodescendentes que vivem em Portugal, mas obviamente são discussões que se estão a ter em muitos locais da Europa e há reivindicações concretas. Uma delas é reconhecer os crimes na pós-colonialidade… O Estado Português tem uma postura de reconhecimento e às vezes é de facto simbólico. Amortizar dívidas, essas questões financeiras, será difícil de contabilizar. Outra proposta é que estudantes da CPLP não paguem propinas; que se reconheça o Cabo-Verdiano como uma língua oficial em Portugal, tal como o Mirandês, porque estas línguas mais faladas pela população portuguesa de origem cabo-verdiana e não só, que fala crioulo. São imensas pessoas! Portanto, é uma língua que deveria ter mais dignidade e reconhecimento. E outra é o direito à formação. Isso e as tais políticas de quotas para o acesso ao ensino que por si facilitariam uma série de coisas. E a educação, a partir daí, encarregar-se-ia de uma série de coisas. As pessoas tornam-se mais exigentes, chegam mais longe e têm mais… Isso muda logo essa tal espiral de que falávamos. Na questão da literacia é ter de sujeitar as pessoas a todos os dias terem que se confrontar e a ter que estar a explicar o B-A,BA… Os seus corpos e a sua condição não têm que ser um problema e não têm de ser todos os dias lembradas de que são um outro… Quer dizer, na Europa, e daí para ligar com a vossa questão dos afrodescendentes, numa Europa que se que inter-cultural, etnicamente diversa, o mais possível. Temos baixa natalidade, quem está a trabalhar e a contribuir para segurança social são maioritariamente pessoas imigrantes. Muitos sulasiáticos, paquistaneses, nepaleses etc. Estão a fazer os trabalhos que mais ninguém quer fazer e ainda assim estão constantemente a ser barrados dos acessos aos direitos, quando eles estão a contribuir para a segurança social e para o PIB… Sairam ainda há pouco tempo para o Observatório das Migrações os factos concretos e se formos a ver, do ponto de vista meramente capitalista e oportunista, os emigrantes são um negócio, no sentido em que eles contribuem muito mais do que aquilo que recebem. São os imigrantes que estão a sustentar uma série de situações na Europa. Como é que podem continuar a ser vistos como ameaças, se são aqueles que mais contribuem para as taxas de natalidade, para que haja trabalho, para garantir tantas coisas que os europeus não querem fazer? Portanto, é uma injustiça e uma ingratidão muito grande em relação aos imigrantes. Sendo que esta perspetiva economicista das pessoas é detestável. Quanto aos afrodescendentes nascidos e criados aqui, é um direito terem todos os direitos da cidadania portuguesa que isso implica. Isto no caso português.
Como é que reverbera lá? Acho que só reverbera nesse sentido, quando há trânsitos que se encontram e quando há a necessidade de uma identificação comum. Essa é uma categoria entre outras, bem como afrodescendente. Há outras formas de criar esse “nós” dos “outros”, do “outro”, de uma norma qualquer que não deveria existir fronteira, porque dessa norma já fazem parte [os afrodescendentes] da composição demográfica em Portugal há muitas gerações e, portanto, nunca deveriam ser vistos como à parte do típico português. Ou que não se identificam com a portugalidade… Eu também não me identifico. É uma construção, a portugalidade, e toda ela baseada numa ideia mítica do passado que está muito obsoleta, não corresponde ao que é o Portugal das ruas e interior. Ainda têm muito essa postura colonial de olhar para as coisas. A colonialidade é a maneira como nós nos relacionamos com o poder. As relações de poder, se formos a ver, ainda tem tudo a ver, mesmo que agora possamos ligar aos problemas das vítimas do capitalismo selvagem e tudo isso, mas a fonte de facto é colonial. É uma réplica disso só que de outras maneiras.
****
Escritas Afrodescendentes: Estudos, entrevistas e testemunhos, organização de Ana Paula Tavares, Arimilde Soares, Noemi Alfieri, Sofia Afonso Lopes e Rosa Maria Fina, Edições Colibri, 2025.
O projeto AFROLAB - Instituição e consagração dentro e fora do Espaço de Língua Portuguesa (1960-2020) desenvolveu-se entre 2020 e 2024 e teve como um dos três principais eixos auscultar e entender as Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e Afrodescendentes hoje.
Pensado no sentido de se enquadrar no âmbito das atividades da Década Internacional de Afrodescendentes (2015-2024) proclamada pela ONU, o projeto pretendeu também contribuir para a visibilização e problematização desta temática no espaço académico e cívico.
Esta monografia surge, portanto, como um dos resultados de reflexão que esta matéria suscitou no decorrer da investigação.