O sal da terra
Em 1971, nas páginas da revista Notícia de Luanda, o poeta português Herberto Hélder escrevia que os extravagantes «são o sal da terra». A observação vinha a propósito de uma pequena exposição de batiques, improvisada nas arcadas do Banco de Angola, por uma jovem chamada Gui: «Eis que aparecem os extravagantes, os originais, os exóticos, os despassarados (…) Eles são o sal da terra. Aparecem entre os seus dissemelhantes, e rebenta o escândalo». O escândalo, na altura, foi uma rapariga branca fazer uma exposição de rua na capital colonial, pintando batiques com pessoas negras atrás de grades, o que lhe valeu ser detida pela PIDE.
Extravagância bem maior terá sido, para muitos, o facto de Margarida Paredes ter escolhido o outro lado da barricada, ter militado no MPLA e sonhado activamente com a independência de um país que não era o seu.

Passadas algumas décadas, a autora Margarida Paredes viria a confirmar mais uma vez o seu inconformismo criativo e político, com a publicação do romance O Tibete de África, reeditado em Angola pela editora Chá de Caxinde1. Editado numa década tão profundamente marcada pelo regresso de muitos escritores portugueses às memórias da “sua” África, O Tibete de África é muito diferente, pela multiplicidade de pontos de vista e pistas de leitura que oferece.
O romance encena os percursos de vida de três personagens, que através das relações amorosas, procuram ressignificar o seu passado e o seu presente, tal como os lugares e as culturas em que vivem. Assim, a relação amorosa aparece como uma interacção complexa de conflitos pessoais e culturais, marcados por circunstâncias históricas determinadas, e torna-se um lugar de reflexão íntima, cultural e política: um lugar ético.
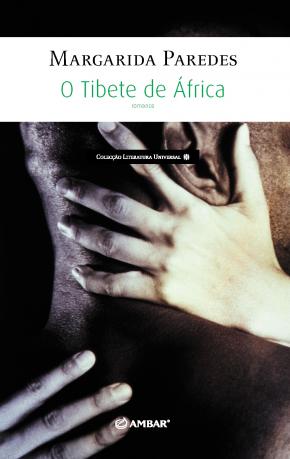 É graças ao encontro com o jovem engenheiro angolano (Justino) que a protagonista (Ana) questiona a identidade e a relação com a memória da sua infância em África: «Naquela cama, o passado e o presente reencontram-se numa realidade única e vital, a dela (…) Já não está zangada com o passado e sente um regozijo enorme em estar viva» (p. 91). Mas a relação com Justino é também um meio para Ana se libertar dos estereótipos e lugares comuns fabricados dentro da cultura portuguesa em relação aos africanos e ao colonialismo. Um dos diálogos mais intensos do texto constrói-se como espaço de confrontação de dois lugares de enunciação diferentes: Ana e Justino, juntos pelo amor no presente da narração, cresceram no mesmo lugar separados pela linha divisória da história. «Bons tempos…», diz Justino ao relembrar o ano da independência de Angola; «Bons?! Não para mim. Não para a minha família» responde Ana.
É graças ao encontro com o jovem engenheiro angolano (Justino) que a protagonista (Ana) questiona a identidade e a relação com a memória da sua infância em África: «Naquela cama, o passado e o presente reencontram-se numa realidade única e vital, a dela (…) Já não está zangada com o passado e sente um regozijo enorme em estar viva» (p. 91). Mas a relação com Justino é também um meio para Ana se libertar dos estereótipos e lugares comuns fabricados dentro da cultura portuguesa em relação aos africanos e ao colonialismo. Um dos diálogos mais intensos do texto constrói-se como espaço de confrontação de dois lugares de enunciação diferentes: Ana e Justino, juntos pelo amor no presente da narração, cresceram no mesmo lugar separados pela linha divisória da história. «Bons tempos…», diz Justino ao relembrar o ano da independência de Angola; «Bons?! Não para mim. Não para a minha família» responde Ana.
Desta linha divisória que foi o colonialismo português em Angola, a autora, mais uma vez contra a corrente habitual em Portugal de nostalgias e tentativas de desculpas, escolhe dar-nos apenas fotografias reveladoras que não deixam espaço para hipóteses “revisionistas”. Num bar de Lisboa, Justino depara-se com uma pequena exposição de fotografias de um ex-boletineiro de Luanda que captara, através da sua câmara, um espaço onde «duas sociedades (…) viviam juntas e de costas viradas uma para a outra» (p. 60). Se Justino se pergunta «que raio de império era este onde nem os trabalhos pobres e mal pagos eram destinados aos colonizados» (p. 59), o percurso de Ana e o de Amândio, o anti-herói português exilado na Bélgica durante a ditadura, representam uma resposta possível, irónica e amarga, no subsolo da ficção.
A subversão de pontos de vista dominantes é, sem dúvida, um dos fios condutores da narração. Se por um lado, ao ocupar um lugar de poder quer frente ao antigo namorado (Amândio), quer frente ao amante (Justino), a personagem feminina subverte as relações de poder entre géneros no plano profissional, por outro, aparece ainda prisioneira do seu passado ligado à vivência colonial em África. De certo modo “filha do Império”, Ana está ainda à procura de uma verdadeira libertação em relação à esquizofrenia gerada pela cultura e mentalidade coloniais.
Justino, pelo contrário, enfrenta o seu próprio “passado subalterno”, para usar uma expressão de Dipesh Chakrabarty, com um olhar carregado de futuro. Simultaneamente ligado à sua terra e virado para outros espaços de realização pessoal e profissional, Justino estabelece uma relação francamente saudáv
el quer com o seu país de origem, quer com as sociedades diferentes onde se movimenta, graças a uma atitude que Inocência Mata chamaria de “internalização do olhar”, ou seja, um olhar que não descura as novas relações de poder dentro do contexto africano e reequaciona constantemente o seu próprio papel nesse contexto. A representação deste olhar é, sem dúvida, um dos pontos de força do romance que, no meio de uma época em que a escrita consagra a identidade, acaba por ser um romance sobre as múltiplas alteridades que marcam o lugar dos indivíduos no mundo. Todas as personagens ocupam, de certo modo, o lugar do “outro” a níveis e em contextos distintos: Ana, enquanto mulher e menina “retornada”; Justino enquanto negro em Lisboa; Amândio, enquanto excluído do mercado de trabalho. Mas é a partir deste posicionamento “outro” que cada personagem reconstrói o seu próprio lugar e a sua oportunidade de actuar no presente.
Para além de ser um romance «de e/ou sobre guerras públicas e/ou privadas», como o define no posfácio Laura Cavalcante Padilha, O Tíbete de África é também um romance sobre “os outros”. «Eles são o sal da terra».
artigo originalmente publicado na revista Africa 21.
- 1. O romance foi publicado pela primeira em Portugal vez pela editora Âmbar, em 2006.