O Mato de Guilhermina de Azeredo: ambivalência colonial no feminino
Guilhermina de Azeredo (1894-1976), uma das mais prolíficas escritoras coloniais portuguesas durante o Estado Novo (1933-1974), iniciou o seu percurso literário na década de trinta. Publicou vários romances, contos e crónicas, que a discussão literária tem descurado. Pretendemos examinar o papel da mulher portuguesa na construção do Império Colonial Português através da análise da sua última obra, o romance O Mato (1972). Tendo em conta a centralidade e importância de uma das personagens femininas de O Mato - personagem esta que revela ambivalência em relação ao espaço colonial em que se move – é interessante abordar tópicos como o papel da mulher no espaço colonial e a relação entre mulheres brancas e africanos, bem como a alteração do papel tradicional da mulher no contexto colonial. Mais especificamente, o contexto colonial que nos interessa, o mato, pode ser considerado o espaço marginal do Império. Em última instância, queremos ampliar as perspectivas de se olhar o colonialismo português como um colonialismo predominantemente masculino e perceber a forma como a mulher foi instrumento fundamental na construção do projecto colonial.
Neste espaço, retrocedemos no tempo para verificar uma duplicidade no papel feminino em África e o modo como a aparente liberdade e poder femininos na colónia angolana se encontram subjugados pelo masculino. Em O Mato, analisamos como a mulher tem uma função colonizadora central ao ser colocada numa situação que a torna protectora das convenções sociais, do lar e da família, estabelecendo uma barreira racial entre colonizadores e colonizados.
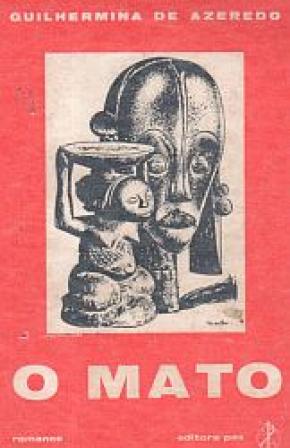 A participação da mulher na construção e fragmentação do Império colonial em África, tanto na sua função de participante activa no terreno, compactuando com a ideologia do Estado Novo ou colocando-a em causa, como na de disseminadora de imagens e mitos coloniais através do processo da escrita, é tema que tem sido descurado pelos que insistem em olhar para o colonialismo português como um colonialismo predominantemente masculino, principalmente durante a primeira década do século XX. No entanto, vários esforços têm vindo a ser feitos no sentido de eliminar o esquecimento em redor da escrita produzida por mulheres durante o longo período que foi o Estado Novo, ou seja, a literatura produzida na metrópole, que talvez possamos denominar de colonial feminina e que foi produzida vis-à-vis, ou pelo menos, em contiguidade, a uma literatura masculina. É a amnésia colectiva e histórica que impera em relação a um contributo feminino para a construção de um Império que se tentou também esquecer.
A participação da mulher na construção e fragmentação do Império colonial em África, tanto na sua função de participante activa no terreno, compactuando com a ideologia do Estado Novo ou colocando-a em causa, como na de disseminadora de imagens e mitos coloniais através do processo da escrita, é tema que tem sido descurado pelos que insistem em olhar para o colonialismo português como um colonialismo predominantemente masculino, principalmente durante a primeira década do século XX. No entanto, vários esforços têm vindo a ser feitos no sentido de eliminar o esquecimento em redor da escrita produzida por mulheres durante o longo período que foi o Estado Novo, ou seja, a literatura produzida na metrópole, que talvez possamos denominar de colonial feminina e que foi produzida vis-à-vis, ou pelo menos, em contiguidade, a uma literatura masculina. É a amnésia colectiva e histórica que impera em relação a um contributo feminino para a construção de um Império que se tentou também esquecer.
Ana Paula Ferreira afirma que, paradoxalmente, foi devido à tentativa por parte do Estado Novo de conter a mulher dentro da unidade familiar, tal como o seu programa autoritário-nacionalista estabelecia, que se criaram as condições que tornaram possível a emergência de um “facto literário” durante as décadas de 30 e 40 do século XX, ou seja, o aparecimento inaugural em Portugal de um corpus de narrativas escritas por mulheres e centradas na Mulher como foco de luta ideológica (134).
O Estado Novo no seu plano elaborado de reprodução da imagem institucional de uma “ordem nacionalista,” centrada no modelo da família, atribuiu à mulher uma missão educativa e económica responsável pelo bem-estar económico da família (nação) portuguesa e também pelo comportamento dos seus membros. Este modelo integrou a mulher e ao mesmo tempo excluiu-a da esfera social, ao associá-la a “naturalidade” através de uma política de “diferenças naturais.” Os romances e contos centrados na Mulher, publicados durante as décadas de 30 e 40, usam as ficções culturais de feminilidade historicamente relevantes que tentam fixar a mulher no modelo nacionalista de ‘anjo na casa [portuguesa]’; mas fazem-no com o interesse de um desafio socioeconómico, cultural e político mais vasto do pretenso poder “feminino” orquestrado pelo governo de Salazar. Pode-se, assim, dizer que a única “diferença feminina” que não foi prevista no plano salazarista, foi o facto de que as mulheres portuguesas, que foram criadas para serem as reprodutoras das ideias da ordem patriarcal e fascista, tinham desejos próprios, desejos insatisfeitos ou canalizados para as constrições a que estavam sujeitas.
Apesar de todos os esforços de Salazar para silenciar a voz feminina que se revela contrária à ordem nacionalista da família-nação, como é exemplo o encerramento, em 1947, do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, este tipo visão sobre o papel da mulher na sociedade antecede o espírito salazarista. De facto, a primeira onda de feministas do virar do século terá contribuído para o destino da mulher portuguesa das décadas posteriores, ao enfatizarem papel (maternal) consciente e racional da Mulher.” A aliança entre este tipo de feminismo e os interesses nacionalistas demonstra, segundo Ana Paula Ferreira, uma forma de terapia do sujeito nacional – masculino - na tentativa de reconquistar a sua “virilidade” histórica dissipada nas perdas reais e simbólicas do Império Português.
Se em O Mato existem traços de um pensamento eurocêntrico e racista, nele encontramos também uma visão crítica que discute vários problemas da política colonial, colocando uma personagem feminina no centro da narrativa. É neste último aspecto que nos concentramos, procurando demonstrar, na linha proposta por Anne McClintock, que “as mulheres brancas não foram as desafortunadas observadoras do império, mas foram ambiguamente cúmplices tanto como colonizadoras como colonizadas, privilegiadas e limitadas, objectos e sujeitos das acções sociais” (6), ou seja, que as dinâmicas de género foram fundamentais para a segurança e manutenção da máquina imperial. É, assim, necessário reverter o processo de se pensar no colonialismo português como sinónimo de masculino, cuja figura simbólica seria Salazar, o pai da extensa família portuguesa.
O romance O Mato (1972), reporta-se ao período que se segue à primeira Guerra Mundial. O livro abre com uma dedicatória a Ana de Castro Osório, nas palavras de Guilhermina, uma “alma profundamente humana, que me estendeu as mãos e me encorajou com vivo interesse” (s/p). Guilhermina coloca-se, assim, na esteira das primeiras escritoras feministas em Portugal que, segundo Ana Paula Ferreira, “têm dificuldade em rejeitar completamente as ideologias de género e nação veiculadas por uma tradição discursiva dedicada à dignificação sociocultural das mulheres (Nationalism 125-126). Tal significa que “a esposa-mãe virtuosa – porque dessexualizada e ilustrada – cumpre a função social de produzir, por assim dizer, a nação progressiva e “viril” (126). Em O Mato, como adiante veremos, os ideais femininos progressistas são alcançados apenas até certo ponto, ou seja, eles são usados em benefício da construção do Império e limitados pela acção masculina. A mulher é instrumento fundamental ao ser colocada numa posição estratégica para manter os homens “civilizados.”
Neste último romance publicado por Guilhermina Azeredo temos como personagem central Helena, filha do Dr. Brito, que se desloca de Benguela para ajudar na construção e administração de uma fazenda que o seu pai decide erigir no mato, mais especificamente, na Serra do Sumi. É acompanhada pela madrasta, D. Maria, perfazendo dois o número de mulheres colonas que se encontram no mato. O enredo, aparentemente simples, desenvolve-se à volta de episódios com os trabalhadores da fazenda, de discussões sobre a colonização portuguesa, de diferenças de opinião entre homens e mulheres sobre o papel do colonizador no mato, questões de raça e civilização, culminando numa história de amor e na subsequente ruína e abandono da fazenda.
Aquando da visita do Administrador à sua fazenda, por exemplo, o Dr. Brito tenta mostrar a necessidade de se auxiliarem iniciativas de desenvolvimento no mato como a sua, tanto de brancos como de pretos. O seu plano é formar uma colónia dentro da colónia, uma vez que, segundo ele, “por acaso colonizar não será a palavra apropriada para quem vai ocupar a terra de ninguém?” (102). Além de que colonizar “não é fundir duas civilizações numa só, disso resultando um todo homogéneo?” (103). Deste modo, colonizar seria criar em Angola um novo Brasil (103). No entanto, o Administrador mostra-se relutante, dando-lhe a entender que “a administração central era contrária aos contratos de pessoal” (103). Não fica totalmente claro na narrativa se a proibição dos contratos pela administração se refere à preferência de apenas usar o trabalho nativo através de alguma forma de trabalho forçado, ou de apenas não se fazer uso dele, uma vez que o Dr. Brito reclama apenas contra a impossibilidade de os portugueses não poderem contratar trabalhadores livres, legalizados e pagos” (104).
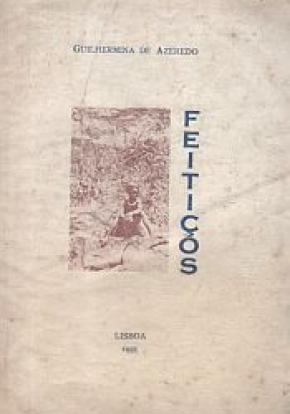 E os outros? - é a questão que fica em aberto. Ou não tão em aberto quando mais tarde na narrativa, Helena contesta os meios pelos quais a civilização é alcançada. Na sua perspectiva, “a civilização para atingir os seus fins não precisava de destruir tudo o que encontra no seu caminho. Tem os alicerces tingidos de sangue como as mãos dos pretos” (70). O seu pai, pelo contrário, lembra que “nada se faz neste mundo sem grandes sacrifícios de vidas e dinheiro” (70), esquecendo que são as vidas dos africanos as mais sacrificadas.
E os outros? - é a questão que fica em aberto. Ou não tão em aberto quando mais tarde na narrativa, Helena contesta os meios pelos quais a civilização é alcançada. Na sua perspectiva, “a civilização para atingir os seus fins não precisava de destruir tudo o que encontra no seu caminho. Tem os alicerces tingidos de sangue como as mãos dos pretos” (70). O seu pai, pelo contrário, lembra que “nada se faz neste mundo sem grandes sacrifícios de vidas e dinheiro” (70), esquecendo que são as vidas dos africanos as mais sacrificadas.
O Dr. Brito reconhece que os pretos “são os nossos melhores colaboradores” (75), no entanto, não admite que esta colaboração não é feita de livre vontade, mas subjugada. O seu encarregado, Constantino, por exemplo, faz uso da força e da violência sempre que necessário para obrigar os empregados a trabalharem, acreditando que “um homem, no Mato, só vale pela sua força” (85). Um aspecto importante há que ser tido em conta no caso de Constantino – a sua necessidade de se impor pela força está também ligada ao seu sentimento de inferioridade “perante tantos pretos que lêem e escrevem” (86). É tendo em conta este tipo de casos que Ann Stoler afirma que houve uma mudança na forma de perceber as elites coloniais como comunidades homogéneas, isto porque as comunidades coloniais europeias sempre foram “mais socialmente fracturadas e politicamente frágeis do que muitos dos seus membros admitiam” (43). Segundo a antropóloga e historiadora, “os traços da identidade europeia e o critério de pertença comunitária já não aparecem como fixos, mas emergem como um terreno mais obviamente fluído, permeável e historicamente contestado” (43). Deste modo, foi necessário construir uma política colonial de exclusão da qual emergissem novas categorias. Uma nova forma de controlo colonial “baseava-se na identificação de quem era ‘branco’ e quem era ‘nativo’ (…)” (43). A criação destas novas categorias também por parte do Estado colonial português foi estratégica na medida em que pessoas representadas na personagem de Constantino se pudessem separar pela cor de africanos com um nível educacional mais elevado.
Se tudo fosse como ditam as teorias do Dr. Brito, ou seja, se houvesse igualdade no trabalho, não haveria protestos por parte dos africanos. Formas de protesto encontram-se espalhadas pela narrativa em forma de canção e descritas como “grito de guerra” (37):
‘O branco está zangado!
Trabalha, trabalha, serviçal!
Anda como cágado e berra como o leão…
Trabalha, trabalha, serviçal!” (36)
Ou em forma de crítica:
- O branco, sim, é que come bem! – disse em quimbundo. Por isso dá tanto trabalho ao preto. Não é para brincadeiras…e é muito duro quando aperta o sol. (…)
- Depois, ele – disse do outro lado em frente de guias achinesadas, torna-se insuportável. Quer sempre mais terra, mais terra. P’ra quê? A barriga dele não é como a nossa? … Tem mas é grande ‘chipurulo.’1 Nem dorme a pensar no castigo do preto. (…)
- Que queres? – disse o outro – Agora a terra é deles…(80)
É quando os protestos se começam a intensificar que as leis de exclusão começam a ser impostas. Segundo Ann Stoler, estas “coincidem com as ameaças percebidas ao prestígio europeu, com o aumento do conflito racial, desafios encobertos às políticas colonias, expressões explícitas de resistência nacionalista, e desacordos internos entre os próprios brancos” (57). Vários destes factores aparecem em O Mato: as diferenças de opinião sobre a colonização entre o Dr. Brito e os seus amigos em Benguela, as diferenças entre este e a administração colonial e o seu encarregado, e o aumento de consciencialização política e social por parte dos trabalhadores africanos. É nesta altura, segundo Ann Stoler, que a mulher é usada estrategicamente para clarificar as fronteiras raciais.
Só a partir da década de trinta do século XX se começa a enfatizar a necessidade da mulher portuguesa emigrar para as colónias africanas. É apenas no início dos anos 50 que a África começa a atrair um número considerável de emigrantes portugueses que tinham como destinos anteriores o Brasil e outras partes da América Latina.2 Ao contrário do mundo africano ocupado pela presença inglesa, a emigração portuguesa era temporária e aquela que se via como permanente era originária das zonas rurais empobrecidas do centro e sul de Portugal. É nesta leva que um número mais considerável de mulheres emigra para as colónias africanas. E são incentivadas a acompanharem os homens, numa altura em que era necessário “evitar a fragmentação do corpo/família nacional” (Ribeiro, África 25) e, ao mesmo tempo, tentar preservar a supremacia nacional (branca).
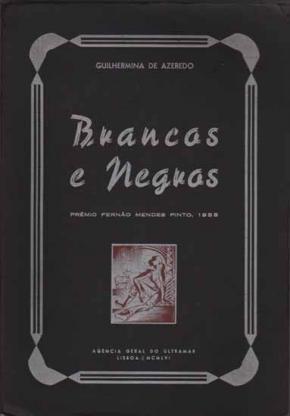 As decisões tomadas no império colonial português não se diferenciam drasticamente das de outros impérios. A análise de literatura colonial é ainda de extrema utilidade para se perceber o papel da mulher nas colónias e o modo como a mulher foi instrumento fundamental usado pelos agentes coloniais. De acordo com Ann Stoler, “as mulheres, caso contrário apoiantes no cenário colonial, são encarregues da tarefa de reformar a face da sociedade colonial, como no caso de África, e impor a sua vontade racial num mundo onde ‘a mistura social relativamente livre…tinha sido a norma’” (56). Ao que acrescenta que “as mulheres europeias foram posicionadas como as portadoras de uma moralidade colonial redefinida,” no entanto “sugerir que elas articularam este racismo do nada é não entender a cronologia política na qual novas intensidades de práticas racistas emergiram” (57).
As decisões tomadas no império colonial português não se diferenciam drasticamente das de outros impérios. A análise de literatura colonial é ainda de extrema utilidade para se perceber o papel da mulher nas colónias e o modo como a mulher foi instrumento fundamental usado pelos agentes coloniais. De acordo com Ann Stoler, “as mulheres, caso contrário apoiantes no cenário colonial, são encarregues da tarefa de reformar a face da sociedade colonial, como no caso de África, e impor a sua vontade racial num mundo onde ‘a mistura social relativamente livre…tinha sido a norma’” (56). Ao que acrescenta que “as mulheres europeias foram posicionadas como as portadoras de uma moralidade colonial redefinida,” no entanto “sugerir que elas articularam este racismo do nada é não entender a cronologia política na qual novas intensidades de práticas racistas emergiram” (57).
A partir do início da década de vinte, o Estado começa a implementar as chamadas “leis de excepção,” ou seja, a criação da categoria do indigenato e do assimilado, separando a população em termos raciais e culturais. O incentivo à ida da mulher branca para as colónias, coincide com o período em que é necessário preservar a homogeneidade cultural, social e racial europeia, limitando as relações sexuais com as mulheres nativas. A mulher branca funcionaria, assim, como um travão a relações que se considera levarem o homem europeu à degradação e à “cafrealização,” impondo o mesmo tipo de relações afectivas e conjuntura relacional presente na metrópole. Tal não significa que as mulheres europeias sejam mais racistas que os homens. Na verdade, se analisarmos os romances coloniais, elas demonstram o mesmo tipo de atitude e pensamento que os homens, contudo, continuam a ser-lhes atribuídos o mesmo tipo de funções que tinham “em casa,” ou seja, de guardiãs das normas culturais. Segundo Ann Stoler, “a competência professional não protegeu as mulheres europeias solteiras da marginalização” (61).
Em O Mato, Helena tem uma função preponderante. Além da sua madrasta, D. Maria, ela é a única mulher europeia que se encontra por aquelas paragens. Ao contrário de D. Maria que não se sente atraída pela ideia de viver desterrada num local onde há “unicamente paus e pretos” (26) e a quem pesa o isolamento e a vida primitiva (63), Helena sente-se entusiasmada com o projecto de uma nova vida, longe da cidade, onde se sentia inútil. Ao longo de praticamente todo o romance, vemos Helena tomar as rédeas da construção e exploração da fazenda. Ela adquire uma posição de força naquele meio e é respeitada pelos empregados: “Dava ordens; corrigia o que estava mal feito; mandava pôr tudo a postos. E respeitavam-na. Mal se aproximava, brancos e pretos desbarretavam-se, escutando-a com interesse e acatando as suas ideias” (78). A sua dedicação pela fazenda é tal que Helena não se importa de estragar as unhas a plantar (239), começando a sentir-se cafuza e a ter honra nessa sua nova posição (98).
Mas nem tudo é aquilo que aparenta ser. Helena passa por momentos de dúvida, ansiedade, tristeza e questionamento sobre a sua vida no mato: “E era então ali, naquele planalto silencioso, que os seus vinte e dois anos vinham sepultar-se?” (…) E para quê, para quê ter martirizado tanto a juventude numa ambição desmedida de saber e triunfo? Para quê? Alcançara, enfim, o ‘canudo,’ (…). De que lhe serviria?” (40-41). Esta é uma das questões centrais do romance. Embora iludida pelo facto de que tem um trabalho, uma função de importância naquele “cantinho humilde do sertão” (41), o seu destino não será melhor do que aquele por ela invocado de uma das suas amigas:
Ainda há pouco uma antiga colega lhe escrevera que tinha posto de parte os livros. Varria a casa, limpava o pó, esfregava o chão e cozinhava… (…) E era doutorada pela Academia de Friburgo em Alemão e Direito. Então, realmente, não valia a pena estudar? (…) Querida, querida amiga! Tão boa e tão inteligente! O seu drama anónimo atingia-a também a ela ali no Mato. (41)
O papel das mulheres na sociedade é, deste modo, colocado em causa pela personagem central. Embora a algumas fosse concedido o direito de estudar e trabalhar, a sua função continua a ser a de escravas do lar. Helena sente, ao fim de algum tempo, a necessidade de “tomar um banho de civilização” (109), uma vez que lidam “quase só com gente ignorante” (110).
Ao fim de algum tempo da sua “aventura” no mato, Helena apaixona-se por um amigo do irmão, Luís de Lemos, o que dá azo a um outro conflito interior: amar, o que a deixaria numa situação de aprisionamento, ou desprender-se? Aparentemente, a personagem não sente “medo de enfrentar a vida sozinha” nem “vergonha de trabalhar” (135), mas ficamos a saber que numa das suas tentativas de independência, ao querer montar um colégio no litoral, “lhe negaram ajuda,” matando o “espírito burguês … toda a iniciativa” (135). Acaba por ceder ao amor, querendo casar com Luís, o que lhe traz outros obstáculos. O maior, o pai, que a quer ver casada com um comerciante rico em vez de um pobre explorador de terras. Helena questiona-se: “E era seu pai, o seu querido pai, que a aconselhava a casar com o Sr. Macedo? A ela? Porque a mandara então instruir e ver o mundo? Porque não a deixara crescer na doce ignorância que torna as criaturas tranquilas e sem aspirações e para quem as vantagens do casamento rico estão acima dos voos da inteligência e da cultura? Não, não era justo, todo o seu ser se revoltava” (136).
Começamos, assim, a observar que a posição da mulher na colónia, embora aparentemente mais dotada de liberdade, se encontra submetida ao e controlada pelo poder masculino. Luís, por seu lado, afirma o oposto, que “jamais reprimiria a sua personalidade! (…) Lena seria senhora de si e teria opinião e vontade próprias” (216). Mas quando casa, Helena já não se sente livre e percebe que pertence a Luís (235).
Outra razão que nos leva a pensar em Helena na linha das mulheres estudadas por Stoler, em que estas são usadas para manter a moralidade colonial é o facto de a personagem ser contra a concubinagem, seja ela com mulheres bancas ou negras:
As mulheres negras deviam ter algum encanto especial para que os europeus trocassem muitas vezes a família branca pela família de cor. E ao lembrar-se de tantos casos, desses grandes dramas familiares suportados com heroísmo invulgar, levado até à indiferença, estremecia de horror. E se a ela acontecesse o mesmo casando em África? Que faria? (124)
Ao que em seguida responde resolutamente: “-Oh! Eu!…- falava alto, aflita – Preferia varrer as ruas, preferia que me matassem. Tamanha degradação? Nunca! Nunca! Mas não era por a amante ser preta que se indignava. Dava-se também o contrário – amantes brancas!” (125). Relacionamentos fora do casamento são, deste modo, vistos degradantes e a mulher está lá para evitar que tal aconteça, para manter o status quo dos relacionamentos europeus. De acordo com Ann Stoler,
Muitas mulheres europeias opuseram-se à concubinagem, mas nem sempre porque tinham ciúmes ou se sentiam ameaçadas pelas mulheres [africanas]. (…) Algumas mulheres holandesas defenderam a causa das ofendidas nyai, enquanto outras insistiram em uma maior protecção das mulheres nativas sem recursos e dos seus filhos. Apenas algumas foram tão longe como advogar a legitimação dessas uniões mistas em casamentos legais. O que as mulheres europeias tinham a dizer tinha pouca ressonância e pouco efeito até as suas objecções coincidirem com o realinhamento tanto na política de raça como na de classe na qual elas foram estratégicas. (57)
Quando Luís confessa a Helena que tem um filho de cor, esta decide que ele o deve perfilhar e trazê-lo para casa, preocupando-se ainda com a mãe da criança, afirmando que se ele tiver deveres de honra para com ela, deverá cumpri-los (224). Além disso, Helena reconhece que estando ela no lugar de Luís, o mesmo não aconteceria. A sua questão sugere as suas preocupações feministas que, no entanto, não são tidas em consideração pelo lado masculino: “Os homens e as mulheres têm perante o Criador as mesmas responsabilidades, mas, perante os homens, terão elas direitos iguais ao resgaste, e ao esquecimento?” (224).
Helena pode ser vista como o “homem da fazenda” (287), ter ideias humanitários e apresentar-se como respeitadora da igualdade entre africanos e europeus (125), no entanto, ela é colocada numa situação que a torna protectora das convenções sociais, do lar e da família, colocando uma barreira racial entre colonizadores e colonizados. Apesar de no romance ser afirmado que “há pequeninos nadas que só uma mulher pode ver” (315), estes pequeninos nadas em África resumem-se a um papel feminino que deve englobar a função do lar e uma vigilância que conduza à preservação das relações sociais, raciais e afectivas de modo a manter o poder imperial europeu: “-Em África, é assim mesmo! Tudo recai sobre nós, mulheres: as mais pequeninas coisas têm de ser vigiadas, desde a limpeza, aos cozinhados, doces e bebidas” (96).
Obras Citadas
Azeredo, Guilhermina. O Mato. Braga: Editora Pax, 1972.
Ferreira, Ana Paula. “The construct of femininity in the Estado Novo.” Portuguese Studies. Vol. 12 (1996): 133-144.
–. “Nationalism and Feminism at the turn of the Nineteenth Century: Constructing the “Other” (Woman) of Portugal.” Santa Barbara Portuguese Studies. Vol. 3 (1996): 123-142.
–. (Org.) A Urgência de Contar. Contos de Mulheres dos Anos 40. Lisboa: Caminho, 2000.
Macqueen, Norrie. The Decolonization of Portuguese Africa. London and New York: Longman, 1997.
Ribeiro, Margarida Calafate. África no Feminino. As Mulheres Portuguesas e a Guerra Colonial. Porto: Edições Afrontamento, 2007.
Stoler, Ann Laura. Carnal Knowledge and Imperial Power. Berkeley: University of California Press, 2002.
- 1. Na nota do romance, “chipurulo” significa “ambição.”
- 2. De acordo com Macquenn, “Between 1955 and 1968 the white population of Angola tripled from 100,000 to 300,000, while in the period from 1950 to 1968 that of Mozambique quadrupled from 50,000 to 200,00 out of a total populations of, respectively, 5⅟2 million and 8¼ million” (10).