O que vale uma estátua? Memória e descolonização mental em Moçambique.
Estive recentemente em Maputo (Moçambique), no quadro de dois congressos, onde apresentei comunicações: Congresso Internacional “Cultura e Turismo: desenvolvimento nacional, promoção da paz e aproximação entre nações”, realizado na Universidade A Politécnica, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018; e no XIII Congresso da Lusocom - Federação Lusófona de Ciências da Comunicação, na Universidade Eduardo Mondlane, nos dias 28 e 29 de novembro de 2018. Aproveitei para conhecer Maputo, deslocando-me na maior parte das vezes a pé na tentativa de olhar para a forma como o Estado moçambicano se relaciona com a memória, tendo por base o facto de eu integrar o projeto de investigação que decorre no quadro do CECS-Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho (em parceria com a Universidade Eduardo Mondlane), intitulado “Memories, cultures and identities: how the past weights on the present-day intercultural relations in Mozambique and Portugal?”, financiado pela FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia/Fundação Aga Khan.
Será que a mente está descolonizada em Moçambique (Mbembe, 2017)? É a pergunta que, com este ensaio, me proponho dar resposta.
De Mouzinho de Albuquerque a Samora Machel
Logo que cheguei a Maputo, decidi ir conhecer a capital de Moçambique a pé, percorrendo lugares que considerei chave para a minha análise em torno da problemática das memórias, culturas e identidades. Ou seja: de como o passado pesa, hoje, nas relações interculturais em Moçambique e em Portugal. Comecei, então, pela fortaleza da cidade, onde me deparei com a estátua de Mouzinho de Albuquerque (Simões de Almeida, 1940), contextualizada por uma pequena nota.
 estátua de Mouzinho de Albuquerque
estátua de Mouzinho de Albuquerque
Montado num cavalo, numa escala para além da realidade (4,90 metros de altura), Mouzinho não passa indiferente logo que se entra no espaço, que constitui um dos principais monumentos históricos da cidade. Foi para lá trasladado, depois de ter estado durante o período colonial no mesmo local onde, agora, toca o céu Samora Machel, num bronze acastanhado ao estilo ‘querido líder’ soviético.
 a praça Mouzinho de Albuquerque em Lourenço Marques, 1961 (sem autor)
a praça Mouzinho de Albuquerque em Lourenço Marques, 1961 (sem autor)
A estrutura foi construída na Coreia do Norte e colocada no largo da Praça da Independência, onde Samora tomou posse como primeiro Presidente moçambicano e dá início à avenida com o seu nome, na capital moçambicana. Já havia uma estátua em sua homenagem mas, em 2011, 25 anos após a sua morte, o Governo de Moçambique decidiu sublinhar a importância que o ex-presidente tem para o país enquanto referência da nação. A estátua tem 9 metros de altura e 4,8 toneladas, e está colocada numa base de betão de 2,7 metros, sendo uma das maiores da África Austral.
 estátua de Samora Machel A praça é ainda pontuada pela catedral, pelo edifício do município e pelo Jardim dos Casamentos, conhecido oficialmente por Jardim Botânico Tunduro, que já sofreu várias evoluções desde que foi inaugurado, em 1855. Na entrada do recinto, ergue-se um arco de alvenaria em estilo manuelino construído para comemorar o quarto centenário da morte de Vasco da Gama assinalado em 1924, data a partir da qual o jardim passou a ter o nome do navegador português, como reza a contextualização num mupi adjacente ao espaço.
estátua de Samora Machel A praça é ainda pontuada pela catedral, pelo edifício do município e pelo Jardim dos Casamentos, conhecido oficialmente por Jardim Botânico Tunduro, que já sofreu várias evoluções desde que foi inaugurado, em 1855. Na entrada do recinto, ergue-se um arco de alvenaria em estilo manuelino construído para comemorar o quarto centenário da morte de Vasco da Gama assinalado em 1924, data a partir da qual o jardim passou a ter o nome do navegador português, como reza a contextualização num mupi adjacente ao espaço.
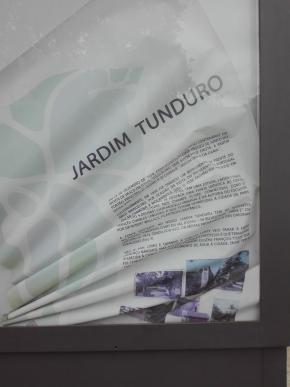 Num sábado de manhã, já a entrar pela tarde, com um calor de 36 graus mas muito agradável e respirável (característica de Maputo, já que a humidade, pelo que me disseram, não interfere na normal oxigenação, sendo quase todo o ano a temperatura amena), deparei-me com mais de uma dezena de casamentos no Jardim Botânico Tunduro, em cortejos independentes, com as danças dos corteses que os acompanhavam e, ao som de batuque, que dava vontade/convidava a abanar o corpo ao ritmo cadenciado que se podia ouvir. Seguiam todos em comitiva, vestidos a rigor, eles e elas, evidenciando uma imensa alegria. E com o fotógrafo a acompanhar, armado com objetivas que impressionavam, verdadeiras canhoeiras, a mostrar que a coisa era séria e muito profissional.
Num sábado de manhã, já a entrar pela tarde, com um calor de 36 graus mas muito agradável e respirável (característica de Maputo, já que a humidade, pelo que me disseram, não interfere na normal oxigenação, sendo quase todo o ano a temperatura amena), deparei-me com mais de uma dezena de casamentos no Jardim Botânico Tunduro, em cortejos independentes, com as danças dos corteses que os acompanhavam e, ao som de batuque, que dava vontade/convidava a abanar o corpo ao ritmo cadenciado que se podia ouvir. Seguiam todos em comitiva, vestidos a rigor, eles e elas, evidenciando uma imensa alegria. E com o fotógrafo a acompanhar, armado com objetivas que impressionavam, verdadeiras canhoeiras, a mostrar que a coisa era séria e muito profissional.
De facto, os casamentos populares em Moçambique constituem um ritual surpreendente, com momentos insólitos e divertidos. Para se casarem, muitos casais esperam mesmo muitos anos até conseguirem juntar os meios necessários para tal. Por vezes, o casamento ocorre já numa altura em que os noivos se fazem acompanhar dos filhos ou mesmo dos netos. Independentemente das circunstâncias em que ocorre, a cerimónia realiza-se sempre com uma grande solenidade, sendo um acontecimento de grande importância para a família e para os convidados. A fotografia continua a ser o grande testemunho do evento e um momento ao qual é dada grande relevância. Todas as poses tradicionais são preparadas com cuidado e ninguém deve ficar fora do retrato1. Fotos e mais fotos foram tiradas no Jardim Botânico, espaço que deixei, a pé, dirigindo-me para a baixa, em direção à Fortaleza de Maputo. Nas imediações do Jardim, podiam-se vislumbrar vários chapas (transporte semicolectivo mais em conta do que o transporte público oficial) e veículos 4X4 de caixa aberta repletos de gente, vestida a rigor, ou chegando para o desfile, ou partindo para a boda, ou para sessões fotográficas, num colorido imponente e com recortes totalmente informais, apesar das indumentárias indiciarem o contrário. Os txopelas (denominados em Portugal de Tuk-Tuk), apesar de por lá pairarem, não eram muito utilizados, já que só levam duas pessoas de cada vez, o que não dava nem para as encomendas.
Preservar os vestígios coloniais
Chegado à fortaleza, deparei-me com a estátua de Mouzinho de Albuquerque, colocada no interior do recinto, ao fundo, em frente à única entrada, e que pontua todo o espaço. Ela estava edificada inicialmente na Praça com o nome do militar português, que foi Comissário Régio de Moçambique entre 1896 e 18982.
 fotografia de Ricardo Rangel
fotografia de Ricardo Rangel
O monumento foi retirado do local no primeiro semestre de 19753, na sequência da independência de Moçambique. Não sei desde quando se encontra no forte de Maputo, para onde foi trasladado mas, pelo que vi ainda hoje é muito popular, já que serve de cenário para as fotografias de casamentos.


O mesmo aconteceu com duas madrinhas de guerra com quem me cruzara minutos antes na exposição fotográfica dedicada exatamente a elas e intitulada Madrinhas e guerra, da autoria de Amilton Neves, numa mostra que constitui um projeto que conta a história das mulheres moçambicanas que participaram no Movimento Nacional Feminino (MNF) entre 1961 e 1974. Estas mulheres foram financiadas pelo Governo português para fornecer apoio moral aos soldados que lutavam nas linhas da frente durante a guerra colonial/Independência de Moçambique. Muitas delas foram recompensadas com posições influentes na sociedade e nas classes mais altas e algumas receberam mesmo casas do Governo português. Em 1974, quando a guerra da terminou, o MNF também deixou de existir. Assim, estas mulheres foram condenadas ao ostracismo da sociedade pelo seu papel no apoio às forças coloniais portuguesas.
O projeto Madrinhas de Guerra reflete esse período da história de Moçambique, visitando as casas das Madrinhas de Guerra que ainda hoje vivem em Maputo e personificam o passado durante o apoio do governo português e a subsequente marginalização sentida após a independência. As duas madrinhas de guerra com quem me cruzei pediram-me que lhes tirasse uma foto com a estátua do Mouzinho de Albuquerque a servir de fundo, representando o homem que levou Ngungunhane como troféu para Portugal, ele que está, de resto, sepultado na fortaleza, depois de os seus restos mortais terem sido transladados da Ilha Terceira (Açores), em 1985.
No intervalo de um congresso em que participei, durante uma pausa para almoço, mostrei a fotografia de Mouzinho a servir de cenário aos noivos recém-casados a quem me acompanhava na mesa: a cantora Elvira Viegas, um elemento ligado ao teatro e um responsável governamental pelo património/estatuária. A cantora foi pronta na reação: Isso só mostra que temos a mente descolonizada! Os outros dois elementos anuíram. O responsável governamental aproveitou para discorrer sobre a política do executivo em relação à estatuária, contando-me que, depois da independência, a ordem era para destruir todos os vestígios da colonização. Depois, houve uma fase em que foi determinada a sua conservação, para preservar a memória e lembrar como tinha sido a vida de Moçambique durante o período colonial. Disse-me mesmo que foram recuperadas algumas estátuas que tinham entretanto sido danificadas, muito embora não tivesse referido quais, nem eu as tivesse vislumbrado.
 A Fortaleza de Maputo está, assim, descolonizada, seguindo as determinações superiores. De resto, os monumentos são tutelados pela Universidade Eduardo Mondlane (o mesmo acontece com o Museu de História Natural e com o Museu Nacional de Arte), podendo vislumbrar-se vários vestígios da luta contra o colonizador português.
A Fortaleza de Maputo está, assim, descolonizada, seguindo as determinações superiores. De resto, os monumentos são tutelados pela Universidade Eduardo Mondlane (o mesmo acontece com o Museu de História Natural e com o Museu Nacional de Arte), podendo vislumbrar-se vários vestígios da luta contra o colonizador português.
Algo parecido com o que acontece em Lisboa em relação ao edifício do Padrão dos Descobrimentos, que foi construído para a Exposição do Mundo Português de 1940, ao serviço da propaganda do Estado Novo e, hoje, acolhe, por exemplo, exposições sobre racismo.
Mas tudo isto constitui um processo, não se pense que a descolonização mental tem facilidade em ver-se livre do lusotropicalismo. Sobre Mouzinho de Albuquerque, por exemplo, o atual Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, no seu discurso de tomada de posse4, sem nunca falar nele, elevou-o a herói nacional, revelando o seu framework ideológico, mesmo diante do representante moçambicano… – Escreveu um Herói Português do Séc. XIX que ‘este Reino é obra de soldados’. Assim foi, na verdade, desde a fundação de Portugal, atestada em Zamora e reconhecida urbi et orbi pela Bula ‘Manifestis Probatum est’.
Mas não se pense que as fotografias dos casamentos se ficam por aqui. A estação de caminhos- de-ferro de Maputo, localizada na Praça dos Trabalhadores, também serve de cenário aos enlaces, nomeadamente as locomotivas que lá estão, que foram recuperadas e integradas na musealização operada no espaço, que foi inaugurado em junho de 2015.

 .
.
A estação de caminho-de-ferro é considerada como uma das mais belas do mundo, erguendo-se num edifício de 19105. Na mesma praça, há um monumento de pedra que homenageia os combatentes africanos e europeus da primeira guerra mundial (1914/1918).
 É da autoria do escultor Ruy Roque Gameiro em colaboração com o arquiteto Veloso Reis e foi inaugurado em 1935 e representa uma mulher de cabeça com uma cobra aos seus pés, tendo na base referências a batalhas que tiveram lugar em Moçambique (Mecula, Quivambo, Nevala e Quionga), em que os guerreiros têm armas nas mãos e os símbolos da bandeira portuguesa. No entanto, a lenda local conta outra história, a da senhora da cobra, como me confidenciou o taxista Neves (que me transportou algumas vezes e que é um homem com uma consciência política acima da média), que sublinhou tratar-se da única estátua do regime colonial que está de pé.
É da autoria do escultor Ruy Roque Gameiro em colaboração com o arquiteto Veloso Reis e foi inaugurado em 1935 e representa uma mulher de cabeça com uma cobra aos seus pés, tendo na base referências a batalhas que tiveram lugar em Moçambique (Mecula, Quivambo, Nevala e Quionga), em que os guerreiros têm armas nas mãos e os símbolos da bandeira portuguesa. No entanto, a lenda local conta outra história, a da senhora da cobra, como me confidenciou o taxista Neves (que me transportou algumas vezes e que é um homem com uma consciência política acima da média), que sublinhou tratar-se da única estátua do regime colonial que está de pé.
A história é esta: Havia na região uma cobra em cima de uma árvore que atacava quem por ali passasse. No caminho entre a casa e o rio mulheres e crianças eram atacadas pela cobra e morriam. Até que uma mulher decidiu pôr um fim à situação, cozinhando uma papa e colocando o seu caldeirão na cabeça, equilibrando-o numa capulana. Com a papa ainda quente, pôs-se a andar em direção à árvore onde se escondia a cobra. A cobra ao atacar a mulher entrou no caldeirão da papa, morrendo. A mulher regressou à sua comunidade certa da sua vitória e todos celebraram a sua coragem. A estátua, cuja envolvente está em péssimo estado de conservação faz, por isso, parte do imaginário dos moçambicanos, que valorizam mais a homenagem à mulher salvadora do que os que morreram na Primeira Guerra Mundial.
 fotografia de Paulo Pires TeixeiraDe referir, por último, a escultura de Salazar que está virada para uma parede da Biblioteca Nacional de Moçambique, que antes era a antiga Biblioteca Municipal, em frente ao Hotel Tivoli, na baixa de Maputo e, antes da independência de Moçambique, ocupava um lugar de destaque na cidade de Maputo. É como se os moçambicanos pusessem o ex-ditador português de castigo, numa atitude que configura um humor refinado e que tem sido divulgada nos média e nas redes sociais. Ao contrário da estátua de Mouzinho de Albuquerque, não foi trasladada para a Fortaleza de Maputo. A escultura de bronze, de grandes dimensões, da autoria de Francisco Franco, mostra Salazar de toga e de olhar frontal mas enfrenta, há vários anos, a parede do edifício da Biblioteca Nacional, na Avenida 25 de Setembro.
fotografia de Paulo Pires TeixeiraDe referir, por último, a escultura de Salazar que está virada para uma parede da Biblioteca Nacional de Moçambique, que antes era a antiga Biblioteca Municipal, em frente ao Hotel Tivoli, na baixa de Maputo e, antes da independência de Moçambique, ocupava um lugar de destaque na cidade de Maputo. É como se os moçambicanos pusessem o ex-ditador português de castigo, numa atitude que configura um humor refinado e que tem sido divulgada nos média e nas redes sociais. Ao contrário da estátua de Mouzinho de Albuquerque, não foi trasladada para a Fortaleza de Maputo. A escultura de bronze, de grandes dimensões, da autoria de Francisco Franco, mostra Salazar de toga e de olhar frontal mas enfrenta, há vários anos, a parede do edifício da Biblioteca Nacional, na Avenida 25 de Setembro.
Joaquim Chissano, ex-chefe de Estado de Moçambique, explica que o facto de a estátua do ex- ditador português estar de castigo não foi por acaso que aconteceu. Pretende-se, segundo o mesmo responsável, salientar que a história não deve ser esquecida: “Existiu Salazar, sim senhor. Ele até fez algumas coisas boas é preciso lembrar - mas ele estando de cara para a frente ou virada para parede para nós é igual porque nós lembramo-nos de tudo o que ele fez de mal, sobretudo ao nosso país, mas também em relação ao povo português”. Joaquim Chissano acrescentou que o passado recente de Portugal e das antigas colónias, os movimentos de libertação e a luta armada devem continuar a ser estudados e investigados pelos historiadores, assim como devem ser registados os relatos dos simples soldados portugueses que participaram no conflito que se prolongou entre 1961 e 19746.
A memória, a história e a descolonização mental
A memória transformou-se do ponto de vista cultural e político num terreno fértil onde se trava um combate duro pela construção de uma narrativa hegemónica, com cada uma das fações intervenientes a reivindicar a sua própria verdade. Ainda se olha para a história como se ela fosse construída entre bons e maus e ela é muito mais complexa do que isso. Para Diogo Ramada Curto (2018), trata-se de um desvio de uma questão que é urgente colocar e que se prende com a situação da pesquisa histórica, nos dias de hoje, permitindo a libertação do passado através do cruzamento com as ciências sociais e estribada em fontes, desenvolvendo uma prática analítica que impeça uma prática moralista; que impeça também o presentismo e possibilite compreender melhor quais as grandes estruturas que, com a força da inércia, se continuam a impor no presente, dificultando a modernização de sociedades como a portuguesa. António Hespanha (2018) diz existir um recorte totalitário nessa discussão que desqualifica quem a segue, mais não sendo do que uma história de Portugal da ‘portugalidade’, assente numa interculturalidade invertida (Stoer & Cortesão, 1999).
Moisés de Lemos Martins (2018) considera que a expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI foi um processo que se abriu à alteridade, à diversidade e ao conhecimento do outro, mas que fracassou ao assimilar e destruir toda a diferença, produzindo o colonialismo. É nesse sentido que deixar de considerar as diferenças entre histórias coloniais e processos de colonização pode levar a impor sobre um povo a narrativa pós-colonial de um outro tornando assim esse povo ainda mais invisível, como assinala Ana Paula Ferreira (2007). O que significa que o colonialismo, quando menos se espera, pode estar a falar em nome de um pós-colonialismo crítico, descentrado e não-hegemónico, numa apropriação de uma metalinguagem crítica e historicamente descontextualizada, mesmo quando feita com a melhor das intenções, que acarreta riscos teóricos consideráveis, nomeadamente o de voluntariamente perpetuar a um outro nível a relação colonial que se pretende abolir (Pereira, 2017). Como refere José Neves (2016), o conhecimento histórico depende tanto de elementos empíricos de um dado passado como da utilização de novas ferramentas teórico-conceptuais que se apurem no presente, sendo que, em história, nenhum assunto pode ser dado por encerrado. São bem observáveis, por exemplo, as consequências das práticas desenvolvidas no século XX relativas a todos os tipos de particularismo, em que a exclusão do outro tem moldado uma história catastrófica que hoje se enfrenta (Lorenz, 2010). E, tendo por base a ideia de que a segunda metade do século XX viu algum movimento no sentido pós-nacionalista, a globalização questiona o sentido das narrativas puramente nacionais, muito embora os mesmos processos também causem uma reação defensiva para muitas pessoas que se apegam às ‘suas’ narrativas nacionais, na esperança de combaterem os efeitos de tais tendências (Berger, 2006). A historiografia é global, sendo necessário algum tipo de arcaboiço teórico que identifique os principais conceitos, temas e termos que podem ser encontrados em várias historiografias (Woolf, 2006). O caminho para uma histórica crítica e inclusiva não passará pelo apagamento ou negação de partes da história, menos ainda pela substituição de uns rótulos por outros (Cunha, 2018). Marc Ferro (2009), refere-se à existência de uma reciprocidade dos ressentimentos, observando que o ressentimento não é apanágio, apenas, daqueles que no início eram identificados como vítimas (escravos, classes oprimidas, povos vencidos, etc.). A investigação descobre que, simultânea ou alternadamente, o ressentimento pode afetar, inibir não apenas uma das partes em causa, mas as duas. O caso da reação que se segue a uma revolução é óbvio, mas os percursos deste tipo são múltiplos e variados.
Nesta crise de paradigmas, o plano identitário integra um processo mais amplo de mudança que, segundo Stuart Hall (1992), abala os quadros de referência que antes pareciam dar aos indivíduos uma certa estabilidade. Hommi Bhabha (1998) fala mesmo de espaços interculturais híbridos. Identidade e diferença são, assim, faces da mesma moeda, como assinala Guilherme d’Oliveira Martins (2007), para quem a memória deve ser preservada de forma equilibrada, a fim de evitar que a amnésia e a indiferença não se tornem perigosos ingredientes de uma qualquer barbárie e para que o ressentimento não ocupe o lugar da humanidade. Já Paul Ricoeur (2000) confirmara a inseparabilidade entre memória e esquecimento, sendo que, como assinala Sanjay Subrahmanyam (Meireles, 2016), a principal função do historiador não é lembrar, já que o trabalho se desenvolve em sentido contrário à dinâmica de acreditar na memória, indo mesmo contra ela, uma vez que esta se revela falsa. No entender de Tzvetan Todorov (2002), a memória, é uma espécie de consciência seletiva do tempo, não se opondo ao esquecimento. A memória é uma interação entre a supressão e a conservação, sendo que restituição integral do passado é impossível uma vez que memória implica sempre uma seleção. O historiador Fernando Bouza cita mesmo um ditado africano que sintetiza o que foi referido sobre o modus operandi da memória: “A memória vai ao bosque e trás de lá a lenha que quer” (Canelas, 2014).
Estará a mente descolonizada (Mbembe, 2017)? Fotografias de casamentos com Mouzinho de Albuquerque a fazer de cenário, configurará ignorância? Ou será que se trata apenas do facto de, numa cidade como Maputo, cavalos e comboios serem atrativos para tirar fotografias? Por outro lado, fazer retratos com o edifício do Banco Nacional de Moçambique (Tomás Taveira) como pano de fundo, não será muito consentâneo com o plano do fotógrafo, devido à envergadura do prédio e à dificuldade de enquadramento, apesar da modernidade do imóvel e do seu revestimento espelhado. O mesmo se passará com a estátua de Samora Machel (2011), que não faz parte das rotas fotográficas dos casamentos. Pelo que vislumbramos, apesar da proximidade do Jardim Botânico e da catedral de Maputo (onde a maioria dos casamentos teve a sua cerimónia), ninguém tirou lá fotos. É certo que tudo isto vale o que vale, mas dará certamente que pensar. O que vale, então, uma estátua, pode perguntar-se. Se a aposta na memória faz parte da política moçambicana, terá que ser acompanhada por uma componente educativa, para que se interpretem os símbolos e se perceba a porção visível da história do país evidenciada, nomeadamente através da estatuária. Caso contrário, tirar fotos com Mouzinho de Albuquerque em fundo, mesmo que este esteja contextualizado, não terá que ver com nenhuma descolonização mental, mas com outra coisa, não obstante a liberdade que cada um tem. Acresce a tudo isto o facto de o Presidente da República de Moçambique apelar, como aconteceu numa cerimónia que presenciei, ligada a um dos congressos em que participei, à moçambicanidade, fazendo-o perante uma plateia em que estavam pessoas de várias nacionalidades, o que não deixa de ser sintomático, embora se perceba, já que o país é recente e precisa de cola identitária.
O que não é exclusivo de Moçambique, acontecendo também em Portugal, com a ‘portugalidade’ a ser convocada a par e passo nomeadamente pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não obstante o país ter fronteiras estáveis há muitos anos e não tenha conflitos com ninguém. O que pode ser explicado à luz de uma lógica psicologizante por Eduardo Lourenço, para quem os portugueses padecem de hiperidentidade, que decorre de um déficit de identidade real que tentam compensar no plano imaginário (Silva & Jorge, 1993, p. 39).
Faz, assim, todo o sentido o projeto que decorre no quadro do CECS-Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho (em parceria com a Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique), intitulado “Memories, cultures and identities: how the past weights on the present-day intercultural relations in Mozambique and Portugal?”, financiado pela FCT- Fundação para a Ciência e Tecnologia/Fundação Aga Khan. Este projeto visa enriquecer a compreensão da história cultural e económica e das representações sociais em Moçambique e em Portugal, recolhendo e analisando as narrativas transmitidas pelas coleções de museus, livros de história e cinema. Também pretende dar voz aos jovens do ensino médio, envolvendo- os em atividades de reflexão, reinterpretação e recriação de narrativas sobre as relações interculturais passadas e atuais. Este projeto centrou-se em duas esferas principais da sociedade moçambicana e portuguesa: sistema educativo, cultura e artes (coleções de museus, cinema), explorando representações plurais e dando origem à difusão de narrativas que expressam diversidade cultural e novas visões do passado, presentes e futuro. Visões críticas e reflexões em torno dessas narrativas melhorariam o diálogo intercultural, a redução de conflitos, uma melhor compreensão do cotidiano das populações migrantes e sua integração na sociedade. Ao recolher, preservar e analisar narrativas culturais, históricas e educacionais, pretende-se fomentar o conhecimento mútuo, (des)construir representações hegemónicas e disseminar visões plurais sobre o passado que estimulem o diálogo intercultural e a paz.
Como defende Maria Paula Meneses, urge abrir as narrativas históricas, “apostando em histórias interligadas, local e regionalmente, desafiando as heranças das representações coloniais”. Dessa forma, a descolonização deve assumir-se “como um ato de controlo da consciência, um ato de libertação da opressão do conhecimento enquanto monocultura”. É nesse contexto que a entrada no século XXI requer “uma cartografia em rede, dialógica, mais complexa e cuidada da diversidade, que torne visíveis alternativas epistémicas e ontológicas, para além das fraturas abissais” (Meneses, 2018, 133).
Bibliografia
Berger, S. (2006). National Historiographies in Transnational Perspective: Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Storia della Storiograia, 50, 3-26.
Bhabha, H. K. (1998 [1994]). O local da cultura. Minas Gerais: Ed. UFMG
Canelas, L. (2014, 14 de dezembro). Entrevista a Fernando Bouza: O Portugal dos Filipes é uma criação portuguesa. Público. Retirado daqui.
Curto, D. R. (2018, 7 de maio). Atraso da História. Blogue (jornal Expresso).
Ferreira, A. P. (2007). Specificity without Exceptionalism: Towards a Critical Lusophone Postcoloniality. In P. de Medeiros (Ed.), Lusophones Literatures and Postcolonialism (pp. 21-40). Utrecht: University of Utrecht, Portuguese Studies Center.
Ferro, M. (2009). O ressentimento na história. Lisboa: Teorema.
Hall, S. (2000 [1992]). A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A. Hespanha, A. (2018, 8 de maio). Um museu sobre Portugal à escala do mundo de hoje, Jornal de Letras nº1242, pp. 27-30.
Lorenz, C. (2010). Unstuck in Time: the Sudden Presence of the Past. In K. Tilmans, F. Vree & J. Winter (Eds.), Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern Europe (pp. 67-105). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Meneses, M. P. (2018). Colonialismo como violência: a “missão civilizadora” de Portugal em Moçambique. Revista Crítica de Ciências Sociais, Número especial | 2018, pp. 115-140.
Pereira, P. S. (2017, 25 de agosto). A Lusofonia, a ambivalência e as grelhas do ministro. Público online.
Martins, G. O. (2007). Portugal – Identidade e Diferença. Aventuras da Memória. Lisboa: Gradiva.
Martins, M. L. (2018, 6 de abril). Descobertas / Descobrimentos e Expansão. Viagem e Travessia. Portugalidade e Lusofonia. Correio do Minho.
Mbembe, A. (2017). Crítica da razão Negra (Tradução de Marta Lança). Lisboa: Antígona Meireles, L. (2016, 20 de agosto). Entrevista Sanjay Subrahmanyam O império português era um império em rede. Expresso, pp. 50-58.
Neves, J. (2016). Os sujeitos da História. In Neves, J. (Org.). Quem faz a História? Ensaios sobre o Portugal contemporâneo. (pp. 9-16). Lisboa: Tinta da China.
Ricœur, P. (2000). La Memóire, l’Histoire, l’Oubli. Paris: Éditions du Seuil.
Silva, A. S. & Jorge, V. O. (Orgs.) (1993). Existe uma Cultura Portuguesa? Porto: Afrontamento. Stoer, S. R. & Cortesão, L. (1999). Levantando a Pedra – Da Pedagogia Inter/Multicultural às Políticas Educativas numa Época de Transnacionalização. Porto: Afrontamento.
Todorov, T. (2002). Memória do Mal, Tentação do Bem. Uma Análise do Século XX. Porto: Edições Asa.
Woolf, D. (2006). Of Nations, Nationalism, and National Identity: Reflections on the Historiographic Organization of the Past. In Q. Edward Wang & Franz Fillafer (Eds.), The Many Faces of Clio Cross-cultural Approaches to Historiography (pp. 71-103). Nova Iorque: Berghahn Books.
Outras referências
Cunha, L. (2018, 25 de junho). Fechem-se os museus, porra! Post no Facebook. Retirado daqui.
- 1. http://www.e-cultura.sapo.pt/evento/9361
- 2. https://delagoabayworld.wordpress.com/2018/09/21/a-praca-mouzinho-de-alb...
- 3. https://delagoabayworld.wordpress.com/2012/02/27/o-monumento-a-mouzinho-...
- 4. http://www.presidencia.pt/?idc=22&idi=103410
- 5. https://www.viajecomigo.com/2017/02/06/estacao-do-caminho-de-ferro-de-ma...
- 6. https://tvi24.iol.pt/internacional/estatua/salazar-virado-para-a-parede-...