Revolta!!! Prefácio a "política Selvagem", de Jean Tible
“Quantos mais vão precisar morrer para que esta guerra acabe?”, pergunta a vereadora Marielle Franco no Twitter, dois dias antes de ser assassinada, ao lado de seu motorista, Anderson Gomes, no centro da cidade do Rio de Janeiro, no dia 14 de março de 2018. Quando exclama “Parem de matar nossos jovens”, na mesma mensagem, ela indica uma brecha no centro de uma das mais importantes instituições liberais, a Câmara dos Vereadores, onde pessoas eleitas exercem a função mais importante da democracia, quero dizer, representam a vontade pública.
Exatamente essa brecha, de fato constitutiva de todas as instituições liberais existentes, registra o lapso fundante da concepção da política hegemônica, explorado em política selvagem. Ao pensar a política na rua, na praça, na estrada e na mata, Jean Tible apresenta uma teoria da democracia que a encontra lá onde a polícia e a milícia matam sem medo de consequências jurídicas; lá onde foi assassinada a representante preta e lésbica da favela, do Complexo da Maré; lá onde pessoas pretas e/ou pobres diariamente confrontam a brutalidade policial e a precariedade econômica.
Ao fazê-lo, política selvagem nos oferece um ponto de partida para recompor o arsenal disponível para a crítica da arquitetura política liberal, em particular de sua composição mais recente, o Estado-Nação. Essa recomposição pode ser indicada a partir de quatro movimentos, que vejo atuados e sugeridos no livro: focar na revolta como atualização da democracia; ver os comuns como materialização da revolta; adotar subalternos da matriz colonial, racial, cis-heteropatriarcal como figura política central; e a consequente recomposição do Estado-Nação, na qual a repressão aparece como a quarta de suas funções fundantes, ao lado de proteção, preservação e representação.
Ler política selvagem, aceitando o convite que Jean Tible nos faz, o de emancipar o pensar, explorar para além daquilo que é considerado apropriado nas considerações da política, é apenas, evidentemente – o vejo dizer – uma de suas oferendas. A principal, evidentemente, é aquilo que este inspira.
I.
Basta! A demanda explícita na pergunta feita por Marielle Franco também nos lembra como (para o bem e para o mal, como dizem) o Twitter e outras plataformas têm sido utilizadas de forma semelhante a como a rua e a praça vêm sendo utilizadas por séculos. Revoltadas, milhares de pessoas ocuparam ruas, praças, Twitter e Facebook, no Brasil e em outras partes do planeta, nos dias que se seguiram ao assassinato de Marielle.
Manifestações como essa ecoam as irrupções sobre as quais comenta e a partir das quais teoriza a democracia. Desde a Comuna de Paris e Stonewall, passando pelas várias erupções de 1968, as quais recompuseram a política ela mesma, até a revolta Zapatista, o movimento Black Lives Matter, a resistência indígena à construção de Belo Monte e os protestos de 2013, Jean Tible mapeia uma abordagem da política que descentraliza a sala liberal – o lugar onde se dão as negociações (econômicas) e as decisões (jurídicas), quero dizer, onde se faz negócio e se faz julgamento/justiça.
Ao ler essa análise, é impossível não perguntar se na verdade todas as irrupções que se seguiram à Comuna de Paris – desde as das pessoas e populações exploradas economicamente, as das que tiveram suas terras e trabalho expropriados, as subjugadas racialmente e as dominadas pelo cis-heteropatriarcado – não fariam nada mais nem fazem nada mais do que encená-la, do que atualizar a Comuna ali na rua. Por um momento, algumas, horas, minutos, dias ou meses – como foram as revoltas da Primavera Árabe e o movimento Ocuppy –, os comuns se corporificam nas ruas, ao receber do Estado-Nação a única resposta que este poderia dar. Repressão!!
Desde a rua e a praça – como das montanhas do sudoeste do México, de onde os Zapatistas declaram guerra ao capital global –, nos diz Jean Tible, a democracia como prática põe em evidência dimensões da arquitetura política liberal que só são visíveis desde as margens. Lá, nas margens demarcadas pelas necessidades do capital, isto é, força de trabalho e matéria-prima, a gente só lida com a face violenta e indiferente do Estado. Ou seja, a análise aqui chama atenção para como a extração, expropriação e reprodução produzem sujeitos políticos, os quais não são tratados como tal pelas teorias da política, mas são compreendidos por conceitos científicos sociais (sociológicos e antropológicos) como racialidade, gênero e sexualidade.
Ao fazê-lo, política selvagem oferece uma outra versão da figura central das teorias da política, principalmente nos últimos cem anos: o Estado-Nação. Lá fora, nas ruas, praças, florestas, no alto-mar, revoltadas – pessoas e populações escravizadas ou quase, imigrantes, trans, lésbicas, sem-terra, trabalhadoras terceirizadas – não encontram a face protetora do Estado, aquele que tem o papel de defendê-las de ataques externos e proteger seus cidadãos e cidadãs de abusos e ataques internos. Lá, na rua, este não exerce sua função protetora; lá este não opera como o faz na sala de negócios e dos tribunais. Lá, na rua e na praça, este aparece com sua armadura preservadora, e revela seu papel mais crucial para o capital: reprimir as revoltas que corporificam a democracia n/das ruas.
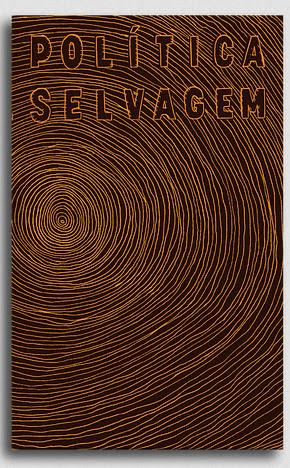
II.
“Quem policia a polícia?” A pergunta da Frente 3 de Fevereiro reverbera naquele final de outono de 2020, em que todo mundo, todo o mundo ressoava a resposta à pergunta que não precisa ser feita: … “tá lá um corpo estendido no chão/em vez de prece”, a bandeira do MST, ocupação e incêndio de ônibus, pneus em chama fechando as entradas da comunidade, do complexo do… da… aaaaaahhh! As mulheres da Teia de Solidariedade da Zona Oeste ressoam: Basta! No jogo da política da polícia, toda pessoa preta e/ou favelada da quebrada – vereadora ou deputada, acadêmica ou poeta consagrada –, a “quebrada inteira” (Grita a Periferia Segue Sangrando!).
Quando a análise da política considera o Estado e seu papel de polícia, nos ensina política selvagem, esta produz uma outra imagem da arquitetura política liberal. A sala de negociação e de decisão, onde sujeitos racionais decidem sacrificar sua liberdade e criar as leis que vão regular sua existência num coletivo sob a proteção do Estado, não exaure a apresentação jurídica do político. Nesta, desde sua formulação, não há lugar para aquelas pessoas e populações cujas terras e corpos têm sido fator sine qua non para a existência do capital. Os princípios, que regem e organizam aquela sala e informam as opiniões e decisões daqueles sentados em volta daquela mesa, não contemplam, ou querem reconciliar, modalidades de existência coletiva que os precederam, nas Américas, na África, nas ilhas do Pacífico e no continente asiático. A crítica desse espaço nos permite perceber que todas as três tarefas clássicas do Estado – proteção, preservação e representação – falham diante daquelas pessoas e populações cuja expropriação produz as condições de existência do sujeito político ao qual esses princípios contemplam.
Talvez essa seja a tarefa mais difícil que Jean Tible nos relembra quando retorna à teorização da democracia às ruas: como figurar esse lugar, o do que é público – rua, praça, estrada, floresta, esquina, rio, mar, encruzilhada –, sem torná-lo um tema da coisa pública. A res publica é a forma de autogoverno coletivo que se tornou sinônimo de democracia. Nesta, as bases da legitimidade das estruturas governantes resultam de seu papel representativo. Essas estruturas são ocupadas por pessoas escolhidas em um processo que se desenrola naquela outra versão da sala liberal – na qual cada pessoa entra e expressa sua vontade (individual ou corporativa) de cada vez.
Também questionada nessa re/de/composição da política está a ideia de que ela só apresenta uma dimensão crítica relevante – a exploração capitalista da classe trabalhadora – quando questiona a atualização da forma democrática pela arquitetura política liberal. A revisão clássica marxista da body politic expande a descrição desta ao incluir uma outra versão da sala – o chão da fábrica –, onde trabalhador/a/es deixam carne e suor, onde estes se re/de/compõem e, ao fazê-lo, produzem aquilo que nutre o capital, o valor de troca. No entanto, ao fazê-lo, tanto a versão clássica quanto as que se seguiram não puderam – ou fizeram revisões profundas do marxismo quando tentaram – integrar aquelas pessoas e populações cujas terras expropriadas garantiram, naquelas cujo trabalho espoliado foi usado no cultivo e extração daquilo a ser transformado nas fábricas e aquelas cujos corpos produziram ambos os tipos de trabalhadores, os assalariados e escravos.
Ao retornar o pensar a política para a rua, a praça, a estrada, a mata, a fazenda e a escola, onde, revoltadas, pessoas e populações enfrentam a tarefa aparentemente impossível, política selvagem nos oferece uma imagem da democracia como uma forma – a forma – de autogoverno. Essa imagem não remete a um lugar, mas a uma maneira de existir coletivamente. Não se trata de uma res publica, uma entidade separada compartilhada por uma coletiva, mas de um locus comunis – em que a rua, a praça, a fazenda, a estrada e a escola ocupada se transformam durante as irrupções. Trata-se da reflexão sobre as manifestações de um existir democrático.
III.
Em 4 de abril de 1968, cinquenta anos antes da execução pública de Marielle Franco, Martin Luther King foi assassinado com um tiro na sacada de seu quarto no Hotel Lorraine, em Memphis, Tennesse. Várias linhas atravessam esses dois eventos raciais. Todas, eu aposto, capturam – e aposto porque nenhum deles foi submetido a exercícios analíticos ou especulativos, os quais poderiam flexioná-los e experimentá-los, quero dizer, que nos permitiriam conjugar – os possíveis (prováveis e impossíveis) desdobramentos desses eventos. De uma coisa sabemos, e essa é a matéria da política selvagem – pelo menos me parece. Que as revoltas negras das quais Marielle e King fizeram parte, e das quais se tornaram líderes, foram ambas as coisas ao mesmo tempo: ativações de uma outra maneira de existir coletivamente, as quais, ao serem deparadas com a face policial do Estado, também expuseram um locus comunis na arquitetura política liberal, aquele no qual o Estado apenas apresenta sua face repressora e preservadora.
Quais seriam então as linhas mais evidentes? Outra vez, eu creio que seriam muitas. Entre elas, duas precisam ser mencionadas. A primeira seria aquela que manifesta como o fato de King, naquele momento, estar acentuando a expropriação econômica em sua análise da situação da população negra dos Estados Unidos; uma reorientação que marcava os limites das demandas por direitos civis, como demandas por uma inclusão jurídica. A segunda linha tem a ver com o fato de que naquele momento King estava mais ativo em sua crítica à guerra no Vietnã. Uma mudança que potencialmente poderia levar a um posicionamento anticolonial e anticapitalista, focado no papel da violência no gerenciamento das populações negras, mas também as indígenas, economicamente despossuídas, e LGBTQI+ – semelhante talvez ao tomado por Malcolm X, pouco anos antes.
Diante dessa co-incidência, é difícil não pensar que só um grande esforço tenha impedido a formulação de teorias da política que focassem ali onde as violências racial, colonial e cis-heteropatriarcal (perpetrada ou permitida pelo Estado) co-operam para atender às necessidades e interesses do capital. Foram muitas, como Jean Tible narra, foram muitas as ocasiões nas quais se observou uma reorganização na maneira como o Estado lida com as revoltas e as revoltadas. Desde a criação de mecanismos jurídicos e administrativos designados para a tarefa de promover inclusão social e eliminar barreiras até práticas e instrumentos limitantes de ambos com a tarefa de controlar ou conter os potenciais revoltados. Como exemplo do primeiro caso, temos o Ato de Direitos Civis de meados da década de 1960 nos Estados Unidos, e as políticas de ação afirmativa, de inclusão social e combate à pobreza e igualdade de gênero, no Brasil do começo do século 21. Notórios exemplos do segundo tipo foram, como ele narra, as ações do Cointelpro nos Estados Unidos, na década de 1970, a resposta da administração de Dilma Rousseff aos protestos indígenas contra Belo Monte e as ocupações e ações que visam fazer o Estado brasileiro realizar suas políticas de demarcação de terras indígenas e quilombolas.
Talvez o aspecto mais importante dessa encruzilhada, ali, na rua, entre as ruas, se torna explícito e nos ajuda a notar as correspondências e continuidades entre os contextos globais que se deram os assassinatos de Martin Luther King e Marielle Franco. Em verdade, é o fato crucial de que as revoltas das quais 1968 virou um símbolo foram manifestações coletivas políticas, quero dizer, posicionadas e endereçadas ao Estado-Nação, a figura central da arquitetura política liberal. No entanto, como já foi por demais notado, quando os encontramos nos finais dos anos 1970 e 1980, já após a repressão intensa que se seguiu às revoltas, suas agendas incluem autodescrições que enfatizam demandas por reconhecimento cultural – os quais incluíam normas éticas e critérios intelectuais distintos, emergidos de trajetórias de subjugação racial, cis-heteropatriarcal, origem nacional etc. Para nós, a minha geração no Brasil, que estávamos entrando na universidade ou começando a atuar no movimento contra a ditadura militar e por eleições diretas, ao mesmo tempo em que o Partido dos Trabalhadores emergia como opção política de esquerda, os chamados movimentos sociais daquele momento pareciam ser quase desdobramentos naturais. O que não sabíamos é que o fato de chamar aquelas agendas de “expressões culturais”, aliado ao desprezo que a esquerda tradicional tinha por nós como figuras políticas (as quais chamavam de divisionistas), nos tirou a oportunidade de nos dar conta de que não representávamos algo novo, tanto em termos das situações de subjugação que descrevíamos como de mobilização política em torno destas. Tanto o feminismo da primeira onda quanto o da segunda e talvez até mesmo o da terceira se dirigiram ao Estado e apontaram para como o Estado-Nação não só não limitava, mas na verdade protegia o patriarcado. Enfim, a minha intenção não é diminuir ou negar a importância do cultural e das reinvindicações e avanços que aquela ênfase fez possível. Somente quero dizer que as revoltas – negras, indígenas, de mulheres, LGBTQ – daquele momento, como mostra política selvagem, não só seguiram outras anteriores mas, na medida em que foram mais radicais, esta virada está, como se diz em inglês, a long time coming.
Quero enfatizar, enfim, que, ao mapear as irrupções e as respostas repressivas que se seguiram, as quais tomaram várias formas, inclusive reorganizações maiores ou menores dos mecanismos de governo – como a promoção de políticas de bem-estar social ou de promoção da igualdade de direitos e de oportunidade –, Jean Tible propõe um pensar a política que ilumina aquilo que sustenta, aquelas dimensões cuja ausência da análise dá coerência tanto à descrição liberal clássica quanto à crítica marxista da arquitetura política liberal – eu chamo essa dimensão de matriz colonial, racial, cis-heteropatriarcal do sujeito político.
Ao fazê-lo, sua teorização da democracia é também uma teoria da política, que convida a uma descrição do Estado-Nação que posicione as revoltas no centro de sua formação.
IV.
Mesmo sem familiaridade, sem ter me dedicado ao estudo extenso e profundo do Estado, quero dizer, ainda intuitivamente, é possível chegar à figuração que predominou no período pós-iluminista: a do Estado-Nação, a autoridade política cujas funções são a proteção e a preservação da body politic. Funções exercidas por causa do, porque legitimadas pelo, voto. O voto, que é nada mais do que uma ação formal que expressa a decisão de uma pessoa, a escolha de uma outra para representá-lo juridicamente, isto é, nas decisões sobre criação e aplicação das leis. Contudo o coletivo sobre a proteção da autoridade política não resulta de uma decisão, mas de uma condição, a nacionalidade e tudo o que se relaciona com essa figuração do cultural. Esse tipo de pertencimento, que combina o territorial e o temporal, resulta de processos, eventos e outros determinantes que tratam de manifestações de uma força transcendente – uma razão final – a qual as ações individuais contribuem, mas as pessoas não decidem. Este é o Estado protetor dos membros (cujas vidas protege e cujas vontades representa), da body politic (a qual tem a obrigação de preservar, de defender de ataques externos); este Estado, desde o final do século XIX, também protege e representa a coletividade da qual seus protegidos e representados pertencem.
Exatamente contra essa autoridade que protege a propriedade e a nacionalidade, a figuração da autoridade política que emerge no momento de consolidação do capital industrial é o alvo das revoltas, principalmente as do século XX. Ao descrever essas revoltas, conectando umas com as outras da mesma época e com outras do passado, política selvagem traça dois movimentos teóricos cruciais. De um lado, a maneira consistente como o Estado-Nação responde a essas revoltas com repressão física ou ideológica indica que estas não se dão em condições excepcionais, nas quais as situações geralmente ficam fora do registro político – como o que ocorre em casa, no privado, que as feministas da segunda onda gritaram que o público e a decisão da suprema corte americana de tornar aborto ilegal reforçou. Não, essas condições e situações que levam trabalhadores, mulheres, militantes LGBTQ, pessoas pretas e povos indígenas à revolta são inerentes ao funcionamento e à vida do capital. São orgânicas, nos lembra Jean Tible. E, ao fazê-lo, este levanta a pergunta que persegue as teorias da democracia em um século durante o qual esta tem sido atacada, a começar por suas fundações jurídicas (aqui tenho em mente a estrutura legal que a administração de George W. Bush pôs a funcionar depois do 09/11): qual seria exatamente a relação entre o autoritarismo e a democracia, quando vemos que as democracias mais estabilizadas tão simplesmente mobilizam seus mecanismos repressivos e antidemocráticos para lidar com essas revoltas? Lendo esses eventos, principalmente os dois últimos, 120 anos, com Jean Tible, torna muito difícil não ver a repressão como uma atividade vital que o Estado faz para proteger o capital. De outro lado, essa leitura da política traz, como tenho indicado neste texto, um convite ainda mais radical. Se a repressão tem como alvo as revoltas contra o capital e sua matriz colonial, racial, cis-heteropatriarcal, quer dizer, se as funções do Estado são quatro (as três usualmente mencionadas (proteção, preservação, representação mais a repressão, a que Jean descreve operando) e se as forças da repressão sempre são mobilizadas mais efetivamente e imediatamente contra as revoltas negras e indígenas, certamente a colonialidade (enquanto modalidade de governo que usa a violência total e letal) continua operativa dentro do/no/como Estado-Nação, tanto nas ex-colônias quanto nas ex-metrópoles. Ao mesmo tempo, sua análise também sugere que a repressão às revoltas contra o cis-heteropatriarcado indica o papel crucial que a maternidade – a reprodução de trabalhadores, ao não se limitar aos que geram mas aos que criam – cumpre para o capital.
Pensada assim, focando nas revoltas das pessoas e populações indígenas, negras, trabalhadoras mulheres e LGBTQI+, explorados, expropriados, política selvagem devolve a democracia ao loci comunis, às ruas, praças, estradas, fazendas, matas e ao alto-mar onde esta pode e só faz proliferar!
Prefácio do livro de Jean Tible, política selvagem, lançado em dezembro de 2022 pela GLAC edições e pela n-1 edições