E o céu mudou de cor - excerto
IV
– Marley, tive um sonho meio estranho. Preciso te contar. Hoje às 15 horas no mesmo local de sempre. Não partilhes isto com mais ninguém, por favor! – enviei a partir do telefone do Mateus, e apaguei imediatamente para não deixar vestígios.
Quando cheguei, já lá estava ele. Nefelibata, a ouvir qualquer coisa. Não sei se continuava a ouvir aquele tal de Sa’Med ou se já tinha apanhado um outro ritmo qualquer. É que ele tinha mesmo esse gosto de se maguelar por vários estilos de música e de os jantar a todos até dizer chega.
Uma vez me mostrou um tal de kilapanga dum artista de uma Vila vizinha que tinha um nome di!cil: Ndaka Yo Wiñi. Até gostei um pouco daquele ritmo. Era animado e tal, me fazia querer dançar, mesmo sem saber que toque dar. Só que não entendia nada daquela língua que ele cantava. Acho que o Marley também não, o que mesmo assim não o impedia de ouvir. Era gulero nas músicas.
Transbordavam uma de cada vez, como orquestra bem afinada. Esses pingos de suor que denunciavam a minha preocupação de estar ali. Eram eles, por razão que desconheço, o motivo das gargalhadas do Marley. E isso me irritava um bocadinho.
– Então, o que nos traz a grande caixa de surpresas de hoje? – ironizou em minha direcção, sem parar de rir.
Aquele tom dele assim meio sarcástico meio a brincar me irrita mesmo. Era como se sugerisse que eu estava prestes a inventar qualquer coisa. Ou desvalorizasse o que tinha para dizer. Mas eu já conhecia bem aquele miúdo. Ele era mesmo assim irritante. Mas um bom ouvinte, por outro lado. E era dessa forma que eu preferia olhar para ele naquele momento. A tia, naquele hábito dela de dar sempre conselhos, mesmo que não lhe pedissem, costumava dizer que as pessoas nunca são uma coisa só, elas são várias coisas ao mesmo tempo. Somos nós quem determinamos que parte delas queremos relevar em cada momento.
Contei-lhe sobre o sonho. Quis primeiro ocultar alguns detalhes por receio de ser desacreditado mas acabei traído pela pureza da minha própria fala. Ele pareceu-me meio confuso, enquanto eu explicava os detalhes sobre a participação dos pássaros, mas não me disse nada. Ficou mesmo só assim, parado a olhar para o nada, sem olhar para mim. Segui-lhe o ritmo. Eu sabia que era só um sonho mas não me parecia um sonho qualquer.
– Epá… Eu não acredito muito nessas coisas de sonhos… – lançou, abertamente constrangido depois de alguns minutos. – Ainda assim… – continuava – o meu avô Balomoloteke, pai do meu pai, dizia sempre que os sonhos com pássaros tinham um significado assim diferente…
– Como assim? – questionei, intrigado.
– Ya!… O velho dizia qualquer coisa como canjila uandinenelã ondaka… – disse aquelas últimas palavras com uma pronúncia muito mas muito estranha, apesar de confiante.
– Hã?… – retorqui, mais intrigado ainda – Isso é mais o quê? – completei a pergunta, sempre com a cara semi-amarga.
– Isso quer dizer que os pássaros trazem sempre consigo boas-novas… – respondeu, tranquilamente.
– Que língua mais é essa? E desde quando é que você também fala essa língua dos mais velhos?
– É Umbundu. Você não sabe que o meu avô não falava bem português?! Quando ele veio viver connosco, antes de morrer, nós tivemos que aprender a falar Umbundo para podermos falar com ele.
– Tu é que és uma verdadeira caixa de surpresas!… – retribuí o sarcasmo do início.
– Pois, pois… – franziu os olhos – Acho que devemos começar a juntar os pontos entre esse teu sonho e o significado da carta que não conseguimos perceber. Se os pássaros são assim tão sábios, tal como sugere essa treta da sabedoria do tempo do meu avô, talvez esse do sonho te tivesse a dar respostas para algumas das nossas interrogações… – começou a unir os pontos e a organizar o pensamento. Ele era muito bom nisso.
– Mas castelo? Que castelo? – interroguei.
– Quantos castelos conheces?
Pus-me às voltas a tentar pensar, quando dei por mim em alto e bom som:
– Um! Só conheço um. O castelo da Cidade-Baixa…
– Então talvez esteja aí uma das respostas… – levantou-se. A lógica daquele pensamento do Marley chocou-me. Ele
sempre teve um raciocínio mais acelerado do que o meu, mesmo na escola. Era quase sempre o primeiro a responder às perguntas da tabuada nas aulas de matemática. Só de pensar que ainda ontem imaginei como seria o castelo da Cidade-Baixa e, mesmo assim, fui incapaz de ligar uma coisa à outra, fez com que me sentisse um pouco boelo. Mas não lhe confessei. Pelo contrário, lancei, estupefacto:
– Será que o castelo a que o Mateus se refere aqui é mesmo o castelo-castelo?
– Talvez sim… – supôs Marley – mas precisamos de mais da- dos para termos mesmo a certeza.
– E como é que explicas a “opressão é opressão” que o pássaro me disse no sonho, se o professor Marco sempre disse que nós, o nosso país e as nossas terras somos “independentes da entidade colonial há quase 50 anos - e para sempre”?
– Aí já fica um bocado mais di!cil de se compreen- der, meu caro. Sou inteligente, não mágico! – gabou-se.
O Marley sugeriu que eu procurasse, entre as coisas do meu primo, por mais cartas como aquela, pois, segundo a sua teoria, elas poderiam nos ajudar a compreender os outros significados.
Eu tinha medo de que o Mateus descobrisse que eu andava a mexer nas coisas dele. Mas, mesmo assim, não recusei o desafio.
Despedimo-nos e fomos cada um para o seu caminho.
A caminho de casa, dei por mim, mais do que uma vez, a pensar naquela ligação que o Marley tinha feito. Estava dividido. Parte de mim estava desmoralizada com a ideia de que o castelo do texto “As Belezas da Cidade-Baixa” podia não ser aquilo que eu imaginava. E a outra parte preferia acreditar que o castelo descrito na carta não era o mesmo castelo da Cidade-Baixa.
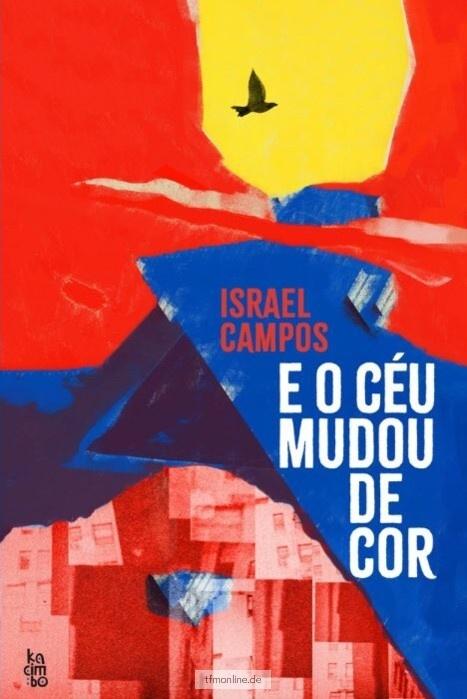
Esta última, defendia que não se tratava de nada mais do que a fértil e sempre conspiradora imaginação do meu primo a armar mais uma das suas.
Já na minha rua, curvei-me para amarrar os atadores e deparei-me com o Didi. Ergui a cabeça. Cheirava a cigarro, cerveja e não dizia coisa com coisa.
– Tens aí cem kwanza? – chutou, enquanto andava num passo descoordenado.
– Hoje estou fraco, meu kota! – respondi.
– Você tá sempre fraco, mô ndengue!!! – retribuiu, visivelmente frustrado e afastou-se.
O Didi era das pessoas mais instáveis que eu conhecia. Um dia podia estar bem-disposto e pronto para trabalhar e servir a todos e a mais alguns. No dia a seguir, lá estava ele, afogado nas gotas alcoólicas como se não existisse um amanhã. Nestes dias, era só ele e o silêncio.
Ninguém queria saber dele. Nem aqueles que mais se beneficiavam dos seus préstimos em dias de “maior produtividade”.
E era esta, talvez, a grande ironia da vida dele.