O impossível demora mais - PRÉ-PUBLICAÇÃO
Praia do Futuro, Fortaleza, Brasil. Estamos na barraca de Laerte, o homem que só trabalha durante o tempo que precisa para passar o restante a ler. À sombra, numa mesa grande, estão nove jovens mulheres do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, fundado em 1984, que organiza quem trabalha nos campos pela reforma agrária. Duas destas mulheres trazem os seus bebés, Bernardo e Laura, que circulam entre todas enquanto falamos. No MST, as crianças são cuidadas por toda a gente, não necessariamente pelos progenitores, num entendimento de que estão na sociedade mal chegam ao mundo, como se pratica em numerosos grupos originários desta América. Está connosco Adelaide Gonçalves, professora da Universidade Federal do Ceará. Com Lourdes Vicente, professora do IFCE e dirigente do MST, ajudou a preparar este encontro. Conheci familiares de várias destas mulheres em 2017 e 2019, sobretudo matriarcas do MST no Ceará, aquelas que ousaram cortar as correntes do latifúndio, exigir a reforma agrária e construir uma vida. Peço que falem da sua experiência de militância numa geração mais jovem, quando alguma terra para cultivar já foi conquistada, desde o ano de fundação do movimento. Todas viveram ou vivem em assentamentos, tiveram a possibilidade de estudar e desempenham funções complementares e imprescindíveis da atividade agrícola. Em resultado da ação coletiva, os seus trajetos e os percursos familiares demonstram a passagem da subjetivação como sujeição à subjetivação como capacidade emancipatória (Williams, 2023).
(…)
Estamos em frente ao belo mar do Ceará, o dia está quente e desta conversa emergem palavras novas da luta pela reforma agrária no Brasil: acampamento, ocupação, assentamento, agrotóxicos, semente orgânica e crioula, CEB, Via Campesina, Escolas do Campo, Sem-Terrinha… Ouvirei mais tarde e várias vezes estas gravações que me encaminham para momentos novos, inaugurais, em instantes oportunos, que visam uma sociedade além do capitalismo. A partir de uma realidade de Grã-Crise (Bartra, 2016), que constitui o enquadramento geral dos dias que vivemos, ensaio uma crítica aos princípios ordenadores do tempo que fizeram entrar em colapso a relação entre passado e futuro, aquele por incapacidade de conversão em espaço da experiência, e este entendido como um risco de catástrofe iminente. Quando a história e a política parecem ter sido ultrapassadas, e só a tecnologia parece tornar inteligível e governável a sociedade (Allier Montaño, Vilchis Ortega e Vicente Ovalle, 2020: 14), parto de um inventário do irremediável para recuperar o fio da história contra o final dos tempos. Como nota Raúl Contreras, a partir de Maria Popova, “o pensamento crítico sem esperança é cinismo. A esperança sem espírito crítico é ingenuidade” (Contreras, 2021: 237). Em etnografias provenientes de um trabalho de terreno no Ceará, feito entre 2017 e 2023, encontro gente que não se conformou e que partiu em busca da transformação da vida. Por portas travessas, invoco passagens com Walter Benjamin, sobretudo num ensaio sobre técnicas de despertar, quando o impossível penetra entre o horizonte de possibilidades, os desejos têm a levedura necessária para que os sonhos cresçam, e se deixa a janela aberta para vislumbrar o que ainda parece nebuloso, estreito, nem sempre evidente. Essas passagens incompletas são convocadas enquanto se trilham vitórias de curto e médio prazo, num tempo em que as aspirações são desmanteladas, subordinadas ou diluídas.
Este livro começou nos fios deixados por rematar em dois outros. O futuro é para sempre. Experiência, expectativa e práticas possíveis foi publicado em Portugal e na Galiza em 2017, com uma reflexão sobre três práticas possíveis de resposta a crises, a partir de terrenos calcorreados e vividos em momentos diversos. Por iniciativa dos meus editores da Letra Livre, conheci Adelaide Gonçalves, da Universidade Federal do Ceará, que me convidou para um conjunto de conferências no Brasil. Durante uma estadia em outubro de 2017, além do programa académico tomei contacto com acampamentos, assentamentos, ocupações, Escolas do Campo. Regressei a Lisboa com bibliografia sobre a reforma agrária no Brasil, o MST, o Ceará – e com espanto, curiosidade, encantamento. Retornei para um trabalho de terreno em 2019, em que percorri assentamentos, ouvindo sobretudo mulheres fundadoras dos assentamentos de reforma agrária, de que nasceu uma obra comum intitulada Entre o impossível e o necessário. Esperança e rebeldia nos trajetos de mulheres sem-terra do Ceará, publicado em 2020 em São Paulo, dita pelas mulheres ouvidas “nosso livro”. Superados os confinamentos pandémicos, regressei em estadias de menor duração em 2022 e 2023, sobretudo para conhecer os modos de ação coletiva para ganhar o futuro, num tempo que em termos globais parece remeter unicamente para pequenos reajustamentos e realismos modestos.
Este livro é uma proposta sobre o tempo, em que a memória pode ser um terraço para outra coisa ainda, com futuros presentes em vez de passados presentes (Soutelo, 2014. O porvir, idealizado, antecipado, ambicionado ou temido, com formatos diferenciados, em momentos e contextos distintos, abre-se ao “ainda não”, princípio da esperança (Bloch, 1976, 1982, 1991). Entre disputas pelo futuro, encontro possibilidades de construção de sociedades ancoradas em genealogias de resistência, porque as pessoas vivem noutras pessoas, com outras pessoas e por outras pessoas (Sahlins apud Danowski e Viveiros de Castro, 2023: 203). Se o farei a partir da etnografia de lugares precisos e de pessoas concretas, recorro a subjetivações libertadoras de quem não se inclina para seguir a proposta de falhar melhor e convoca formatos de ação coletiva que edificam uma cultura comum. Numa alusão a um texto fundador da antropologia do futuro, invoca-se o possível, ao invés do provável, como uma força material que desencadeia ação coletiva e permite abrir novos campos (Appadurai, 2015). A possibilidade contraria o habitus, procura brechas na incompletude dos modos hegemónicos, implica processos paralelos e mobiliza passados resgatados para futuros desejados. Está entre o que existe e o que pode existir, porque, em paráfrase de Raymond Williams, não existe só o mal, mas quem luta contra o mal; não só a crise, mas a energia que liberta, o espírito que nela se aprende (Alvarado, Parejo e Alderson, em Williams, 2023: 37). O possível contém o impossível, quando o inaudito se torna uma opção – e é difícil reverter o tempo.
Os regimes de tempo são, em simultâneo, competitivos, conflituosos, cooperativos, instáveis e até anárquicos. A persistência na busca de futuros latentes no coração das práticas radica na incompletude das hegemonias. Os futuros não se anulam, são antes disputados entre formas de pensar e de fazer, entre vários níveis de conflito de regimes temporais paralelos, coetâneos e até antagónicos (Godinho e Contreras, 2024), pois a história é um conjunto polirrítmico, na linha de Ernst Bloch (Valencia, 2020: 83).
Em Problems of Dostoevsky’s Poetics, numa remissão para a análise literária, Mikhail Bakhtin (1984) propõe uma junção do espaço e do tempo, ou de um limiar. Na literatura, o cronótopo está pautado pela variedade de discursos entre o que ocorreu e a pluralidade de linguagens através das quais um evento é contado, em múltiplas vozes. Assim, a cronotopia remete para o tempo-espaço de encontro entre o que é próprio e o que não é, que se transformam entre si. Convoco uma leitura que dilata a proposta bakhtiniana de cronotopia, numa invocação do espaço e tempo que marca o que sucedeu, mas igualmente o que pode suceder, em polifonia. Nesta cronotopia inconclusa, além das probabilidades, busca-se o que delineia sendas do possível e do impossível, em futuros que competem entre si. Afinal, nenhum passado garante ou condena a nenhum futuro. Alinham-se algumas ideias para adiar o fim do mundo, na linha de Ailton Krenak (2019): “Não como uma experiência onírica, mas como uma disciplina relacionada à formação, à cosmovisão, à tradição de diferentes povos que têm no Sonho um caminho de aprendizado, de autoconhecimento sobre a vida, e a aplicação desse conhecimento na sua interação com o mundo e com as outras pessoas.”
A etnografia é uma ferramenta, utilizada através de uma antropologia comprometida com futuros imaginados que se expressam em ações concretas ou em práticas possíveis que as pessoas desdobram no presente, em virtude da continuidade da vida, da sua transformação e do porvir no seu sentido mais lato (Godinho 2017). Esses futuros não têm um sentido único, cujo diagnóstico seria imobilizador. A antropologia do futuro visa documentar possibilidades, horizontes, sonhos e práticas, e ganhar tempo para sonhar e construir outros mundos (Godinho e Contreras, 2024). Uma primeira utilidade do presente etnográfico está nas sementes de porvir que contém, entre o estado de ser e o processo de vir a ser (Bryant e Knight, 2019). Uma segunda aponta para as formas frágeis e vacilantes mobilizadas para se projetarem no futuro e no passado, como futuro recordado (Vallejo, 2024).
Ponderar a aceleração da história e a construção de uma nova temporalidade é uma experiência a contrario. Resgata uma corrente quente do pensamento crítico num tempo em que há razões de sobra para que o pessimismo grasse, sem monções históricas benfazejas em perspetiva. Conquanto se descortine o lugar da corrente fria da crítica, que se atém ao real, renova-se o desafio de Ernst Bloch para um otimismo furioso, no encontro com a corrente quente da esperança. A possibilidade é o que pode ser, mas também o que pode ser de outro modo (Bloch, 1976), porque a humanidade não está condenada a viver no mundo como ele se apresenta. A etnografia renova essa confiança no porvir, embora se confronte com um tempo de retrotopia, em que o anjo da história benjaminiano se inebria com os ganhos do passado e teme o futuro (Bauman, 2017). Afinal, dragar o pântano da memória é uma proteção em relação à desolação pelas perdas.
Nem sempre o essencial é palpável, conquanto exista: “o braço que falta ao mendigo é o que o sustenta”, escreve o poeta português Manuel António Pina. O exercício da etnografia crítica faz-se entre evidências que recolhemos no nosso caderno de campo e noutros modos de registo, e com uma reflexão acerca de ausências, o que não é do domínio do visível, embora possa ser basilar. Como conjeturou o físico Edme Mariotte, no século XVII, e viria a ser demonstrado empiricamente mais tarde, há um ponto cego nos nossos olhos, um lugar que é difícil de localizar, que não tem detetores de luz e através do qual nada se vê. Não o notamos, porque temos dois olhos e o sistema visual enche o vazio do ponto cego (Cercas, 2013). Passa-se o mesmo com uma parte da prática da antropologia e de outras ciências sociais: ocupamos o vazio do ponto cego, daquilo que sabemos que não está no domínio do que podemos ver, de que não temos informação disponível, mas que se desvela e intui. Esboçar uma teoria afirmativa do futuro é um prolongamento desse exercício.
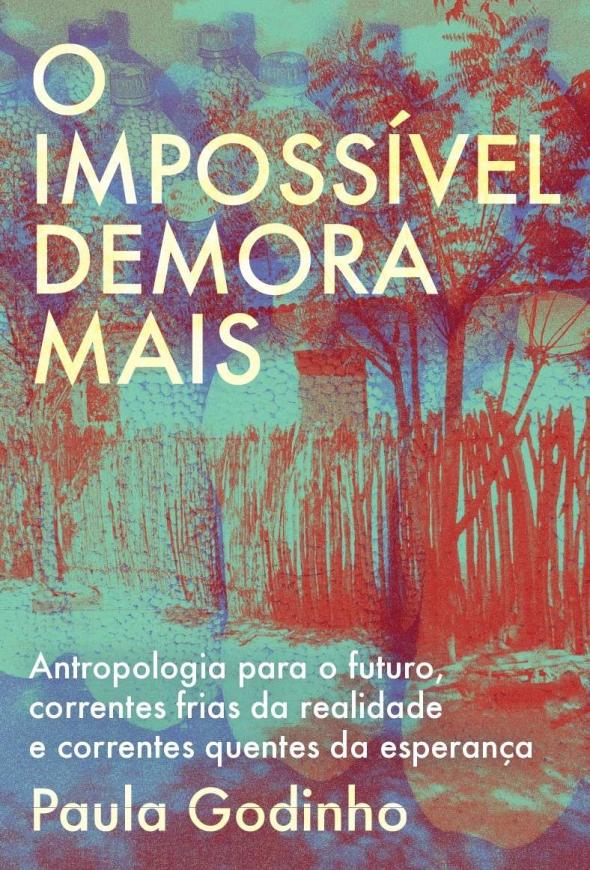
Neste livro em três partes, a primeira é dedicada aos tempos obscuros da Grã-Crise, cuja incerteza cresceu no início de 2025. Convém recordar que o fim do mundo começou para múltiplos povos com a rutura da continuidade entre passado e futuro na história, bem antes do tempo geológico designado como Antropoceno. Se assistimos ao massacre de gente em Gaza perante a indiferença de muitos, numa reiterada situação, o genocídio dos ameríndios e a escravatura foram também fins do mundo. Esse genocídio alimentou os primórdios da modernidade para a Europa: sem o saque das Américas e o tráfico humano a partir de África não haveria capitalismo, revolução industrial ou Antropoceno (Danowski e Viveiros de Castro, 2023: 206-207). A ameaça da destruição transforma o futuro noutra coisa, com o referido Antropoceno a geologizar a moral e a exigir a desaparição humana para surgir (Danowski e Viveiros de Castro, 2023: 46). A América, onde se situa a etnografia aqui mobilizada, já passou por vários fins do mundo, que mataram os habitantes originários ou os reduziram a camponeses sem terra, pobres e oprimidos, com o respetivo território retalhado entre vários Estados nacionais. O processo de desfuturização em curso, no que há décadas se apelidou “fim da história”, é aqui contraposto ao fio da história, com as disputas pelo porvir. Os olhares ad pessimum, que se atêm às correntes frias da realidade, são também desafiados pelas correntes quentes da esperança, em que nos banharemos de seguida.
Numa segunda parte do livro esmiúça-se uma etnografia por via do alargamento do campo dos possíveis num assentamento rural no sertão do Ceará. Na disputa do futuro num local concreto, reflete-se igualmente sobre o passado. Procura-se uma leitura localizada de um movimento social mais vasto, o MST – Movimento de Trabalhadores Rurais Sem-Terra, do Brasil, federado na Via Campesina, entre o decálogo da Grã-Crise e a pequenina luz bruxuleante da esperança, invocando Armando Bartra e Ernst Bloch. Depois de uma remissão contextual e de uma alusão ao feminismo camponês popular, reporta-se a apontamentos acerca de mulheres do Movimento Sem Terra, matriarcas das lutas pela reforma agrária no Ceará, cujos trajetos de vida foram publicados noutra obra (Godinho, Gonçalves e Vicente, 2020). Esses registos conferem passado às cintilações possíveis nas trajetórias da geração das suas filhas e netas, com quem se inaugurou este livro. A seguir, numa subjetivação da luta pela terra, adentramo-nos na vida de uma mulher do Assentamento Santana, a quem dedico um outro capítulo. Depois, interrogo o processo de construção do mais antigo assentamento de sem-terra no Ceará, localizado no sertão, através das pessoas que o constituem, num tempo longo, bem como ao papel da colaboração, num trabalho coletivo que lida com as diferenças e com histórias de encontros. Não se trata só do acesso igualitário aos recursos materiais (o solo, as calorias, os meios de produção), mas da capacidade humana para contribuir de modo igualitário para decidir como viver em conjunto, como resultado de uma criação coletiva de criaturas inteligentes, imaginativas, lúdicas, que merecem ser vistas desse modo (Graeber e Wengrow, 2021). Conquanto se parta de um pequeno assentamento, não há nenhuma razão para que só grupos menores sejam igualitários (Graeber e Wengrow, 2021).
Pensei neste livro como uma corda de funâmbulo que permite passar de um edifício para outro, entre tempos, espaços, vivências. As estadias de terreno são experiências nuas, que nos retiram do nosso mundo e nos levam para um outro. Implicam transições, com a lentidão adequada, que abrem para iluminações, ou para a obscuridade, saindo da meia-luz das nossas próprias vidas (Bartra, 2018). Por vezes, provimos de mundos em que aparentemente muito é possível, mas pouco acontece, sobretudo além do previsto. Durante as estadias de campo que se distanciam do nosso local habitual, há um desprendimento de nós que nos torna mais aptas à experiência marcante, em que tropeçamos num real que nos era desconhecido ou invisível, numa revelação. Isso significa presenciar ou ouvir relatos acerca do contingente, inesperado, irrepetível, como algo que rompe a continuidade e faz o tempo pular. Significa igualmente usar os sentidos, detetar os quotidianos e as repetições, estar atenta, em encontros etnográficos fugazes, intensos, por vezes vertiginosos. Os percursos do movimento coletivo podem não reportar um caminho real já com destino, mas contêm a aventura, a imaginação e a fantasia que constroem outras vidas, numa via para o sublime. Podem significar conceber o impensável e realizar o impossível, e isso move-nos.
Em movimento, deixa-se em terceiro lugar um conjunto de seis notas, esquissos de trajetos por fazer, que resultam de clarões que encandearam e que poderão servir de tocha para esmiuçar incertezas e uma teoria afirmativa do futuro, como fios pendentes, depois do remate de uma tapeçaria. Uma delas remete para qualidades do tempo, com a desfaçatez de um deus menor, Kairos, que interrompe a duração paulatina entre alfa e ómega, com tiros nos relógios e várias latitudes convocadas. Outra reenvia para rastos que são também rastilhos, entre momentos do passado e outros por ocorrer, com apontamentos de uma etnografia no Caldeirão de Santa Cruz, e num assentamento do MST, no Sul do Ceará. Uma terceira traz da ficção três rumos para os movimentos sociais, que não os esgotam. Numa quarta nota, a esperança é verbo e construção, prática e concretização; serve de resposta ao inverno de tantas vidas e ao impacto de tempos que nos devastam. A seguir, o escapismo do jogo e da brincadeira, como invenção de mundos por vir. Finalmente, a pressa que se põe em conclusões acerca do impossível, mas que é necessário.
**
Paula Godinho O IMPOSSÍVEL DEMORA MAIS - Antropologia para o futuro entre correntes frias da realidade e correntes quentes da esperança, Lisboa, Tigre de Papel, 2025.