Já dizia Jacques Rigaut: "pensar é uma ocupação de pobres"
UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO TEATRAL EM MAPUTO
Chego eu, toda flausina, à cidade do arame farpado e das belas acácias que incham em flor, encharcadas no mijo pontual do proletariado. Toda cheia de intenções, recém abortada da realidade pan-lógica europeia, com o sangue a fervilhar na gravidade do que esguicha a cada paisagem.
Aos primeiros esgares sob o mercado cultural maputense, entrevê-se um método organizacional muito à moda feudal. As ONG’s a encabeçarem o monumento neo-colonialista, com a dentadura muitíssimo bem limada pelas balelas do neo-liberalismo. As elites locais, insufladas de artifícios diplomáticos, a manducar as doutrinas internacionalistas, e as massas (ui! as massas!), como em todo o lado, clamam BIS à realidade. A realidade agradece engolindo de novo a plateia num bocejo, num rebatimento de maxilar escandaloso, para recomeçar o seu rito necrófago.

Sob este emaranhado mercantilista, é-me proposto pelo director do Grupo de Teatro do Oprimido (onde me encontrava como estagiária ao abrigo do programa Inov-art), fazer uma oficina teatral diária com vista à elaboração de uma peça.
De início, eu discorria inflamadamente acerca da crueza de Artaud, das cerimónias omofágicas filmadas por Jean Rouch no Gana, do corpo cénico entesado num desiquilíbrio de luxo Barbeano e outros afins, referências que ali se dissipam, desterritorializadas, enquanto o diabo esfrega um olho. Eles, com aqueles olhares embaciados pelas dioptrias do amadorismo, aguardavam pacientemente que eu enrijecesse a pose, num lapso belicoso. O sistema ossificou-se na pele de quem se habituou ao despotismo, que quando exportado do Ocidente, já se sabe!… serve-se morninho e convenientemente adornado pelo engodo da tolerância e do multiculturalismo. Sentia que a comunicação existia, mas apenas como clonagem do imutável. No lugar próprio às cabeças estão, então, outras cabeças, bem aparafusadas, mas ao contrário. O resultado é um género de dialéctica interna grotesca que legitima a crueldade antes do enamoramento. Era-me necessário aprender a falar com tudo o que é mais profundo do que a boca. Assumir uma pretensão. Expôr a minha estrutura à osteoporose, assim, ZÁS! O destronar da ideocracia.
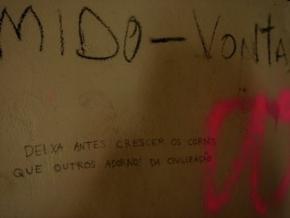
Durante o processo de ensaios impôs-se a urgência de construir mecanismos colectivistas de criação e desenlaçar, tropeço a tropeço, os espartilhos do ego social.
Nas minhas pesquisas de literatura moçambicana, interrompo-me na descoberta de “Ualalapi”, um romance acerca da queda de Ngungunhane, o último imperador das terras de Gaza. Decidimos, depois, partir desta imagética sanguinária e escatológica do escritor Ungulani Ba Ka Khosa, e entrelaçá-la com um excerto da “Missão” de Heiner Muller, e com o texto “A Decapitação dos Chefes” de Italo Calvino.
A proposta consistia precisamente numa reflexão sobre os mecanismos de autoridade e a gestão tentacular dos mesmos, o que em nada agradou ao director Alvim Cossa, cujas intenções passavam por temáticas politicamente higiénicas. Dei então primazia a uma metodologia de trabalho que incidisse sobre a questão da corporalidade, e de um processo de descoberta palpável dessas estruturas de opressão. O bricabraque de tornar o gesto no teatro (contra o teatro) musculado, ofegante. Acurar uma tensão do corpo que se assemelhe à do boxeur na dimensão iminentemente fatal de cada movimento, e na conquista a pele e punho da imprevisibilidade. Por conseguinte, desenvolveu-se uma apologia da irrupção subjectiva e individual do desejo no âmbito atómico, e não burocrático.
Após dois meses e meio de ensaios, idealizações cenográficas, percalços técnicos, discussões ideológicas, noites de libertinagem e vertigens existencialistas, a peça foi apresentada no Centro Cultural Franco-Moçambicano, dia 27 de Agosto de 2009.

A prática teatral condena-nos a um infinito de sensibilidades, e o mais sublime de tudo, fragiliza-nos. Considero que foi precisamente com essa enfatuada debilidade com que este grupo se propôs a engraxar corações e a escolher melhor os sapatos adequados para os pisar. A hora agora é a de detonar um novo Big Bang do norte ao sul da dimensão que nos apreende, mas de mansinho. Passarão meses, anos, ou talvez séculos e milénios até as cinzas se tornarem húmus, o húmus se tornar pedra, e a pedra se desfazer em petróleo. Quando isso acontecer já não serão cinzas nem haverá caras que custem a recordar, serão finalmente alicerces de um mundo discrepante, orfão de outras perguntas e respostas. Neste tempo de Ubus, aproveitemos enquanto o sangue ainda for inflamável; desperdicemo-lo no teatro. É tudo.