Escritas e imagens para uma epistemologia nómada. ruy duarte de carvalho e james c. scott entre resistências subalternas, oralidades e cinema não etnográfico
Há outras ondas de escrita… E pode muito bem haver maneira de dizer, noutra onda […].
Ruy Duarte de Carvalho, Actas da Maianga
Este artigo propõe fazer uma leitura do trabalho de Ruy Duarte de Carvalho cruzando-o com alguns textos do politólogo e antropólogo James C. Scott. O objetivo é mostrar em Ruy Duarte de Carvalho a elaboração de uma epistemologia nómada como meio de aferição de uma construção não dominadora do saber. Essa elaboração, para a qual concorrem as suas três linguagens – antropologia, literatura e cinema – releva de uma atenção aos saberes locais, a sul do centro, que a nação angolana deveria incluir na sua construção. A tarefa de registar para o futuro esses saberes, coloca a Ruy Duarte várias questões que têm em comum debruçarem-se sobre as práticas de resistência e os processos de emancipação das populações.
Ora introduzir aqui certas considerações do politólogo e antropólogo James C. Scott pode revelar-se interessante. Embora procurando respostas para problemáticas de base diferentes – não há neste caso relações de identidade com os territórios que trabalha, nem um pensamento em função de uma construção nacional em curso – Scott partilha com Ruy Duarte de Carvalho um interesse pela compreensão de resistências associadas a populações nómadas e pela crítica de discursos e políticas desenvolvimentalistas. Políticas e discursos a que também ambos opõem uma visão ecológica. Em The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland Southeast Asia (2009) e Seeing like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (1998), Scott analisa as dinâmicas que essas populações (não) estabelecem com o Estado; e fá-lo através de conceitos como “alto modernismo/high modernism”, “colonialismo interno”, “mètis” ou através da abordagem à relação entre oralidade e escrita. No entanto, Scott elabora uma crítica dos pressupostos teóricos dentro do quadro disciplinar da antropologia, da sociologia do desenvolvimento e da ciência política, enquanto que Ruy Duarte alarga-a a outras linguagens, dando-lhes uma importante dimensão de experimentação estética e uma forte reflexão epistemológica.
Ruy Duarte de Carvalho coloca de facto um conjunto amplo de questões que resultam de um posicionamento de vigilância e verificação conceptual: como transcrever “fielmente” esta oralidade, como guardar o nomadismo que a sustenta, como evitar o paternalismo, a “grande explicação” de que nos fala Rancière (1987), como construir a nação angolana a partir das “localidades” e da diversidade dos comuns, como “atar” tudo isso a partir desses “suis” e desses “nois”, como escreve em A Terceira Metade (2009), terceiro volume da trilogia Os Filhos de Próspero? Ou ainda como resgatar da fixidez da escrita a dimensão limiar da literatura? Ou como conseguir filmar em imagens “de fronteira… ao contrário” essas populações, os seus saberes e as suas práticas quotidianas que são também práticas de resistência e de subjetivação? Como fazer tudo isto de forma descolonizada?
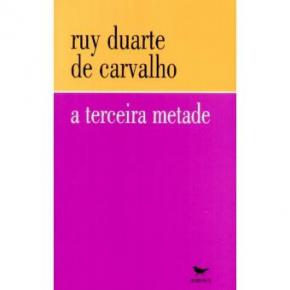 O trabalho de Ruy Duarte de Carvalho denota por isso uma intensa preocupação quer com a mediação da observação antropológica pela escrita e pela imagem, quer com os modos de fixar os dizeres, os fazeres, os pensares e os sentires não hegemónicos e fluidos das populações pastoris que “visita”. Caracteriza-se ainda por uma autorreflexividade a que se junta uma intertextualidade interna que desfaz as repartições genéricas canónicas e nos remete para uma obra complexa e singular.
O trabalho de Ruy Duarte de Carvalho denota por isso uma intensa preocupação quer com a mediação da observação antropológica pela escrita e pela imagem, quer com os modos de fixar os dizeres, os fazeres, os pensares e os sentires não hegemónicos e fluidos das populações pastoris que “visita”. Caracteriza-se ainda por uma autorreflexividade a que se junta uma intertextualidade interna que desfaz as repartições genéricas canónicas e nos remete para uma obra complexa e singular.
Embora recorrendo, sempre que necessário, à sua produção global, analisarei de modo mais específico neste artigo os seguintes textos de Ruy Duarte de Carvalho: Vou lá visitar pastores. exploração epistolar de um angolano em território Kuvale (1992-1997) (2015 [1999]), actas da maianga. …dizer das guerras de Angola (2003a), a câmara, a escrita e a coisa dita… fitas, textos e palestras (2008) e a terceira metade (2009). Serão igualmente objeto de estudo as suas reflexões sobre o filme Nelisita (1982) e os documentários Presente angolano, Tempo mumuíla (1977-79) e de uma forma geral o que é dito sobre a relação entre as imagens em movimento que gravam e as dinâmicas (fluidas) “tradicionais”. Quanto a James C. Scott, para além dos trabalhos já mencionados, recorrerei também a A Dominação e a Arte da Resistência. Discursos Ocultos (2013 [1990]).
Três eixos de análise estruturam este artigo: “Nação angolana e resistências subalternas”; “Descolonização dos saberes e epistemologia nómada”; e “Por uma estética de fronteira… ao contrário”.
Nação angolana e resistências subalternas
cada um com a sua gente mas com gente sua entre toda a gente
Ruy Duarte de Carvalho, a terceira metade.
…………por isso só mesmo uma grande volta…….Nambalisita, herói ecológico e de alma comum……… […] também podemos ter, portanto, heróis dos nossos para exportar………… […] não dará mesmo para levar mais longe?…….. não daria para extrair mais nada? não terá mais nada nas culturas animistas daqui e em outras do resto do mundo para inscrever no programa que passou a ser global, a partir do modelo ocidental?
Fala do Trindade em a terceira metade
Discutirei neste tópico vários conceitos que sustentam a obra transdisciplinar de Ruy Duarte – pragmatismo, “paisagem/geografia”, oralidade – que cruzarei com outros vindos de Scott – “alto modernismo”, “colonialismo interno”, “mètis” –, tendo em vista uma reflexão comum sobre resistências subalternas. Em ambos será também questão de geografias nómadas de resistência.
Uma das preocupações centrais – se não mesmo a central – de Ruy Duarte é o modo como o estado angolano gere as diferenças culturais na construção do país independente e, mais urgente para Ruy Duarte, como elas se incluem ou se excluem na construção da “nação nova”. Pergunta por isso nas suas “actas” da maianga:
De quantos ‘outros’ se constitui, então, um ‘nós’ cá dentro assim? E de quantos pontos de vista, lógicas e razões se há-de urdir o confronto com que teremos de saber lidar e de que, ao fim e ao cabo, há-de resultar a nossa hipótese como nação?” (2003a, 221)
Ruy Duarte criticará veementemente, ao longo dos seus escritos e das suas imagens, a reprodução, pelas elites pós-independência, de esquemas coloniais que hierarquizaram os saberes e folclorizaram as práticas de vida das populações locais excluindo-as por vezes de modo violento num passado ainda relativamente recente, como no caso dos Kuvale.
Ao longo de dezenas de anos, Ruy Duarte “visitou” no sul de Angola as populações nómadas constituídas pelos pastores Kuvales. Essa convivência é, em muitos sentidos, uma intimidade, uma troca sensível. Acompanhou reis, viveu nas ongandas. Esse trabalho antropológico, ao qual se junta de forma muito central a realização de documentários para a televisão angolana logo a seguir à independência (reunidos sob o sugestivo nome-binómio crono-geográfico, Presente Angolano. Tempo Mumuíla) e também o filme Nelisita (1982), já nos anos 80, serve-lhe de exemplo para interrogar a visão desenvolvimentalista do Estado e a reprodução de modelos coloniais-ocidentais de dominação na construção da nova cidadania. Do ponto de vista das elites, os grupos nómadas precisavam de aprender a ser “civilizados”, necessitavam de abandonar as suas práticas animistas “atrasadas” em desacordo com o mundo moderno da supremacia tecnológica e da mercadoria. Essas populações tinham de ser trazidas a uma ordem sedentária e a uma certa ordem da escrita (pois só ambas permitiam o controlo). E sempre que necessário inventar-se-iam saberes endógenos que fossem concordantes com uma nação moderna. Duas passagens de Ruy Duarte de Carvalho exemplificam-no claramente:
Que referências extraídas de um quadro tradicional, endógeno, de saberes, de memória, são chamadas a intervir e a interactuar? São referências “tradicionais” e “endógenas”, de facto, ou são referências propostas como tal mas produzidas de facto […]. De que forma, assim, o que é proposto não é afinal um produto marcado sobretudo pelo processo ocidental ou ocidentalizado que o propõe e, mais ou menos conscientemente, mais ou menos intencionalmente, por estratégias aferidas a rentabilidades que se inscrevem numa lógica ocidental mesmo quando desenvolvidas em nome de uma africanidade? (2003a, 235-236)
[…] e se a primeira determinação nesta ordem de tarefas terá sempre tendência a apontar para a demolição ou pelo menos para a desmontagem dos mitos forjados pela ideologia colonial, cedo haverá de constatar-se, e essa é mais uma das fatalidades que nos envolve, que também de uma maneira muito geral as nossas elites culturais ou intelectuais conjugam a cultura africana segundo conceitos trabalhados e implantados como património universal por todas as ideologias de expansão e dominação […], pelo que estaremos ainda perante um sistema de conceptualização que acaba por ser a reprodução de um etnocentrismo europeu, ocidental, perante uma situação de facto que afinal acaba por revelar-se não só como o efeito dessa incidência e desse império mas também como a sua versão adaptada aos termos de um domínio que se perpetua, ao mesmo tempo que os desenvolvimentos em curso, as “implementações” se propõem autoritária e arbitrariamente como uma perspectiva inovadora e redentora, e é isso que mais aflige. Muda-se o nome e guarda-se a coisa. (2003a, 230-231)
“Muda-se o nome, guarda-se a coisa”. A questão que repetidamente se coloca às elites e que atravessa a sua obra e alimenta de forma persistente o “romance” a terceira metade, é assim a do perigo da reprodução desse modelo capitalista, desenvolvimentalista, mercantilista da expansão dominadora, provando a persistência das formas de colonialidade do saber e do poder do império, da subjugação dos seres humanos e da natureza, ou como diria Ann Laura Stoler (2013), do efeito de “ruinação” que não acaba com a descolonização trazida pelas independências.
No romance citado, Trindade, a voz e a fonte principal de Ruy Duarte, coloca muito claramente esse não reconhecimento desse saber dos “‘nóis’, os pretos, à nossa maneira” e sugere, como solução, “a grande volta paradigmática” que ele define assim:
será admitir, e reconhecer, que alguém, pensando de outra maneira (‘nóis’, os pretos, à nossa maneira), possa conseguir ver certas coisas e certos fenómenos de uma maneira melhor e mais adequada para o conjunto da humanidade e da criação, e que os brancos, nesse caso, é que teriam a aprender com os pretos e outros não-brancos, e que isso acabaria por convir a todos. (2009, 398)
Trindade alerta para os obstáculos à admissão dessa “grande volta” por ser “coisa de pretos” ou de “gentios atrasados”, enumerando as dificuldades
que o poder encontra para lidar com gente que faz o que pode para sobreviver sem que disponha para isso, nem de ferramentas, nem dos materiais, nem das lógicas, nem das instituições, nem das gramáticas, nem das falácias que são as da ocidentalidade de quem manda, domina e dispõe…….. mas parece bastar a todos a explicação de que são coisas de pretos, para uns, e para outros de gentios atrasados de que o que continua a ser preciso é acabar de vez, outra vez e da cada vez com essa gente…… (2009, 45-46)
Os conceitos de “alto modernismo/high modernity” e de “colonialismo interno” utilizados por Scott são pertinentes, neste cruzar de ideias com Ruy Duarte, na denúncia por parte das elites da vontade de, em nome do progresso, como diz o Trindade, “acabar de vez, outra vez e de cada vez com essa gente” – os grupos nómadas – e com seu modo de vida. A ideia de desenvolvimento nos estados pós-coloniais é particularmente destacada no livro de Scott, Seeing like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition have failed (1998). Nesta obra Scott focaliza especificamente a sua investigação nas fortes similitudes entre estados coloniais e estados autoritários pós-coloniais. Para Scott, a ação desses estados é caracterizada pelo “alto modernismo” que ele define como “uma engenharia abrangente e racional de todos os aspectos da vida social de forma a melhorar a condição humana” (1998, 88) e pelo “uso sem restrição do poder do Estado moderno enquanto instrumento de realização desses esquemas” (1998, 89). Scott observa que o alto modernismo foi favorecido pelos regimes revolucionários que obtiveram um elevado grau de poder, autoritário, que veio a refletir-se na vontade de remodelar a sociedade a partir de projetos tecnológicos e científicos que visam o progresso: desconetados das particularidades dos saberes e geografias locais, sobrepondo-lhe um mapa em branco e fazendo assim tabula rasa do passado, o alto modernismo de Scott, impôs uma sociedade nova homogénea de “homens novos”, e uma sociedade civil fraca. A combinação destes três elementos – autoridade, apagamento e debilidade da sociedade civil – é, para Scott, a receita para uma tragédia. No entanto, a sua visão dinâmica das relações poder-resistência/estado-populações permite compreender que elas têm a capacidade de resistir à invisibilidade etática das diferenças e das memórias. Contrariamente a esta visão do Estado alto modernista, o saber local resulta da combinação circunstancial entre a necessidade prática e o conhecimento (Geertz 1983). Ele é por isso associado em Ruy Duarte, de modo epistémico e também por isso inovador, à geografia, à “paisagem”. Scott faz uso do seu conceito de mètis, trazido dos gregos a partir do trabalho dos franceses Marcel Detienne e Jean-Pierre Vernant, definido como “um largo conjunto de habilidades práticas e de inteligência adquirida em resposta a um ambiente natural e humano em constante mudança” (2009, 313). É uma sabedoria baseada na experiência prática, nesse “pragmatismo” que o Trindade propõe a Ruy Duarte em a terceira metade. À homogeneidade da tecnologia modernista (a technè platónica), opõe o Trindade a riqueza singular da invenção local. É justamente a ignorância dessa mètis detida pelas populações periféricas e das condições sociais e ecológicas a elas associadas que constitui uma explicação – como o subtítulo do livro de Scott indica – das razões que levaram a que os grandes esquemas de modernização se tornassem um fracasso. Um fracasso com consequências nefastas para essas populações e globalmente para a efetivação de uma construção nacional inclusiva.
O pragmatismo endógeno defendido por Ruy Duarte de Carvalho protege uma prática ecológica e defende experiências e saberes vernaculares. É uma atitude que poderíamos muito bem comparar à que levou António Quadros/Grabato Dias a criar em Moçambique, dentro da universidade, no imediato pós-independência, um centro de aprendizagem das práticas locais de defesa dos ecossistemas, o TBARN (Técnicas Básicas de Aproveitamento dos Recursos Naturais). Recorria Grabato às soluções e experiências locais para organizar um arquivo de saberes endógenos a utilizar na dinâmica económica do novo país (Basto 2007, 194). Não conseguiu, no entanto, vencer, para usar um termo de Ruy Duarte, a “chamada”, o apelo da modernização científica que seduzia as elites e lhes garantia a etiqueta “civilizados”. Razões que levavam Ruy Duarte a escrever em actas da maianga, defendendo contra “programas alheios” o pragmatismo emancipador das “fórmulas arcaicas”:
Uma questão, talvez, de olhar para dentro também em vez de tentar apenas adaptar interesses hegemónicos de grupo e pessoais ao jogo dos poderes de fora e de ensaiar ver […] se do potencial de fórmulas políticas ‘endógenas’ tidas simplesmente por ‘arcaicas’, por exemplo, não seria possível extrair alguma modalidade que assegurasse representatividades efectivas, por um lado, ou figurinos de rotação, articulação e composição de poderes, pelo outro, admitindo-nos, e aos Africanos de uma maneira geral, a possibilidade e a capacidade de também sermos capazes de inventar qualquer coisa dentro dos horizontes de uma modernidade, de uma dinâmica de mudança acelerada e valorizada, que nos redima em lugar de nos condenar a uma perpétua sujeição, como consta, precisamente dos programas alheios que adoptamos como referência monolítica e como modelo. Uma questão de pragmatismo. (2003a, 143)
Um “pragmatismo” que Ruy Duarte opõe ao “autismo” das elites, “encapsuladas” (2003a, 159) em Luanda, “ocidentalizadas” e, enquanto agentes “desesperados da ocidentalização” (2003a, 159), unânimes em relação a
um fundamentalismo desenvolvimentalista que é o do senso comum do ocidentalizado. Políticos, activistas, voluntaristas, peritos, analistas, agentes implicados nas rentabilidades económicas e cívicas e em todos os campos da formulação e da intervenção, todos militam na cruzada da acção ‘moderna’ [incluindo alunos, ONGs, ecologistas locais etc.]. (2003a, 160)
Uma ação e um equívoco de efeitos demolidores por ele constatados no terreno e denunciados já em Aviso à navegação (1997), dois anos antes de vou lá visitar pastores. Um aviso às falácias da “ajuda, das militâncias e das operações desenvolvimentalistas tal como elas são acionadas e impostas” (2003a, 167) que colidem não só com as pessoas e os grupos “mas sobretudo, daí os efeitos que produzem, com modelos locais de aproveitamento dos recursos locais que são e continuarão a ser os mais adequados e pertinentes nos seus contextos” (2003a, 167). Os “possíveis equilíbrios locais, nomeadamente ecológicos, milagrosamente mantidos, quase, face às condições envolventes por certas populações” (2003a, 169), foram precisamente, o que permitiu que essas populações conseguissem “aguentar durante a crise [a guerra civil]” (2003a, 169). Sem esse pragmatismo, essas populações estão condenadas a ir “engrossar os contingentes dos mais desgraçados, dos condenados a viver de ajudas”. E por isso Ruy Duarte apela a encarar a hipótese de tentar “domesticar essa investida tal como a ideologia do progresso ocidentalizante tenta domesticar-nos a todos nós e alguns de nós tentam domesticar os mais ‘atrasados’ de entre nós” (2003a, 171).
E afirma, mais cáustico, que na própria Europa há já vozes discordantes que põem em causa a ação expansionista ocidental e que também já não admitem mais
aquilo que alguns de nós nunca terão admitido e que alguns outros de nós nunca terão deixado de admitir e pôr em prática: que de um lado estariam os do ‘Norte’ [os ‘evoluídos’], progressivos e dinâmicos, e do outro os do Sul [os ‘atrasados’], passivos, inertes e carentes de vocação civilizacional. (2003a, 165)
Em Ruy Duarte, como em Scott, pensar essas experiências vernaculares é também chamar à atenção para as resistências que limitam ou alteram os efeitos das ações estatais. Este tipo de reflexão, constante na obra de Scott, está particularmente presente no seu livro A Dominação e a Arte da Resistência. Discursos Ocultos (2013 [1990]). O objetivo é dar visibilidade a práticas que o olhar do Estado apagou e construir uma teoria da resistência que integre o poder estruturante dos dominantes sem perder de vista a autonomia política daqueles que resistem. Está assim em jogo a relação entre um “discurso público” e um “discurso oculto”. Segundo Scott,
[s]e consideramos, em termos esquemáticos, que o discurso público compreende um domínio de apropriação material (por exemplo, de trabalho, de cereais e de impostos), uma esfera de dominação e de subordinação pública (por exemplo, rituais de afirmação hierárquica, de deferência, de expressão linguística, de punição e de humilhação) e, finalmente, um domínio de justificação ideológica das desigualdades […], então, poderíamos talvez considerar que o discurso oculto pode compreender todas as reações e réplicas a esse discurso público que tem lugar fora da arena pública. (2013 [1990], 163)
Esta resistência subterrânea e oculta implica “um sem-número de estratagemas pragmáticos e discretos destinados a minimizar a apropriação material [exercida pelos que dominam]” (2013 [1990], 259). Scott dá, como exemplo, práticas como o roubo, a ignorância fingida, a falta de empenho no trabalho, a produção e a venda clandestina, mas também a sabotagem. Apoia-se, como facilmente percebemos, nos trabalhos de Edward P. Thompson (1975) que concernem a caça furtiva nas zonas rurais inglesas dos séculos XVIII e XIX, estratégias que oferecem, segundo o historiador, uma demonstração da maneira como as práticas e os discursos da resistência se engendram mutuamente.
Da mesma maneira que Scott, Ruy Duarte procura compreender e analisar essas formas de dominação e de resistência recorrendo a uma história na média e longa duração. No caso dos Kuvale, recua por exemplo até à primeira metade do século XIX quando mostra como “durante cem anos, de 1840 a 1940, as populações que hoje se entendem como Kuvale viveram sob uma pressão contínua, que incidia directamente sobre a sua forma de subsistência, a sua prática de vida, a sua relação com o meio” (2015, 52).
Todo esse processo “implicou sempre a intervenção de outros povos, a agir por conta própria ou mobilizados pelos portugueses, ou deles aliados” (2015, 52).
Assim, a região do extremo sul de Angola foi marcada por uma sucessão de “guerras” que também envolviam incursões de combatentes vindos do Sul, do que é hoje a Namíbia, abrangendo quer povos indígenas, quer “brancos” (alemães, boers, ingleses). O cerne desses confrontos é o gado. Os Kuvale são, a partir das primeiras explorações dos Portugueses, integrados num conjunto de povos que estes apelidavam Mucubais. Nos relatórios coloniais são descritos como “rebeldes a qualquer trabalho” (2015: 46) e sobretudo grandes especialistas no roubo de gado. Ruy Duarte observa aqui um desencontro fundamental entre a lógica pastoril e a lógica sedentária do Estado:
O seu gado desaparecido, se não for recuperado, tenderá sempre a ser substituído por outro. Na cabeça de um pastor, assim culturalmente modelado, esta circulação de animais corresponde a uma razão, a uma racionalidade, a uma lógica que não a situa tanto como uma articulação de roubos quanto como uma dinâmica de equilíbrio, ou até de reciprocidade, se quiseres; É isto, sobretudo, esta lógica pastoril, que os sedentarizados temem, porque a lei institucional em que se amparam e a que recorrem não é afinal nem cultural nem factualmente aceite, respeitada e digerida pelos pastores, e se vêem com frequência em desvantagem perante os seus móveis vizinhos que tanto podem estar aqui agora como a muitas léguas de distância amanhã […]. E é a consciência e o temor disso que inquieta as polícias e as administrações. (2015, 27)
O roubo foi assim entendido como ato de insubmissão e de rebelião que justificava e legitimava a organização de campanhas militares punitivas; e isso apesar de os moradores e fazendeiros portugueses e os seus aliados estarem eles próprios envolvidos na extorsão do gado. O último desses confrontos, a “guerra dos Mucubais” de 1941, ilustra esta situação. A origem do confronto foi o roubo de gado aos aliados dos portugueses (2015, 79) por Tyindukutu, líder de um grupo de homens especializados nesse tipo de operações.
Em consequência dessa guerra, foram deportadas para Luanda e depois para São Tomé e Príncipe 3500 pessoas de uma população estimada em 5000. Para além do gado, que foi partilhado entre os auxiliares indígenas dos portugueses, essa campanha teve sobretudo objetivos políticos e ideológicos: a imposição do pagamento de impostos àqueles que sempre tinham fugido ao recenseamento, e o “abrir[-lhes] a dignificante perspectiva de adquirirem bons hábitos de trabalho” (2015, 94). Como explica Ruy Duarte de Carvalho em a terceira metade,
[…] todos à volta já eram povos submetidos à lei do imposto…. mas os mucubais eram uma gente com muitos bois e bois melhores que os dos povos de cima da serra e, sobretudo, que não tinha nem queria ter agricultura nenhuma e organizava a vida conforme as necessidades do gado e não as do milho, e andavam portanto sempre em movimento, e não obedeciam nem a reis nem a sobas que os brancos dominassem e pudessem usar como agentes para controlar-lhes, e portanto conseguiam escapar de pagar imposto e de fornecer homens para o sistema de trabalho que os brancos tinham montado […] as autoridades não sabiam nunca onde é que eles paravam, para poder lhes controlar. (2009, 40)
Mas os Kuvale conseguiram resistir, regressando mais tarde do exílio e retomando o seu modo de vida transumante. Para Ruy Duarte a inteligência social (a mètis de Scott) em conjunto com a capacidade ecológica de se adaptarem ao meio ambiente, mantendo-o em equilíbrio mesmo em condições difíceis, é um verdadeiro “modelo”, apropriado recentemente por outros grupos que vieram viver na região. É isso que leva o autor a concluir que “[p]oderíamos desta forma insinuar e arriscar que a ‘modernidade’, para alguns e afinal, pode passar pela adopção de modelos milenares!” (2015, 264).
Se sobreviveram às campanhas coloniais de “pacificação”, a pressão sobre os Kuvale manteve-se depois da independência: por um lado enquanto aliados do MPLA contra as etnias inimigas que tinham ajudado os portugueses no período colonial; por outro, enquanto atores do comércio transfronteiriço clandestino com a Namíbia, tentando ao mesmo tempo escapar à predação por parte das forças que lutavam pela independência da Namíbia e dos seus adversários sul-africanos. Depois do fim destas guerras, a pressão não se estancou: segundo Ruy Duarte, a “antinomia mobilidade/sedentarização” que se “exerce sobre as consciências do comum” (2015, 118) continuou a alimentar as tentativas contemporâneas de sedentarização em nome do desenvolvimento. Podemos por isso dizer que o “alto modernismo” e o “colonialismo interno” são precisamente as estruturas a que uma “epistemologia nómada” resiste.
Perante estas continuidades entre os períodos coloniais e os pós-coloniais que marcam a história dos Kuvale, percebemos porque articula Scott no seu livro The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland Southeast Asia (2009), o conceito de alto modernismo com o de “colonialismo interno”. Tal como em Ruy Duarte, para Scott a compreensão do presente necessita de leituras que integrem a espessura histórica de uma distensão temporal lata. Scott reforça a ideia de uma interação na longa duração entre resistências locais e poderes centralizados numa lógica muito abrangente que aponta para o modo como os povos descentrados foram cercados por todos os Estados pré-coloniais, coloniais e pós-coloniais. Assim, caracterizando “a formação da maior parte dos estados-nações modernos ocidentais” (2009, 3), o “colonialismo interno”
[i]mplicou a absorção, deslocação e/ou exterminação dos habitantes anteriores. Ele implica uma colonização botânica na qual a paisagem foi transformada – por deflorestação, drenagem, irrigação, e diques – para acomodar culturas, formas de povoamento e sistemas de administração familiares ao Estado e aos colonizadores. Uma maneira de apreciar o efeito dessa colonização é de a ver a redução massiva de vernaculares de todo género: das línguas vernaculares, dos povos minoritários, das técnicas agrícolas vernaculares, dos sistemas fundiários, das técnicas de caça, de colecta e de silvicultura vernaculares, da religião vernacular, e assim sucessivamente. (2009, 12-13)
Tal como Ruy Duarte, Scott tenta mostrar como as populações transumantes conseguiram ficar fora do alcance do Estado na longa duração. E é aqui que Scott se interessa por um aspeto central na obra de Ruy Duarte, a oralidade como forma de resistência e não como as elites coloniais e pós-coloniais a consideram: um sinal de atraso civilizacional. Esta questão é realmente importante porque sendo a base da supremacia do poder colonial, acabou afinal por se prolongar, depois da independência, no modo como as elites veem as populações locais e, de forma ainda mais exacerbada, os grupos nómadas.
No entanto, no caso de Rui Duarte de Carvalho, a oralidade não é apenas focalizada enquanto manobra de resistência, mas também, e talvez sobretudo, como via de acesso a modos de saber que urge reconhecer, atuando ainda como performatividade estética. A partir de formas peculiares de colocação e ocupação do território, de des-locações intervalares e das práticas da oralidade dos grupos pastoris, irei abordar no próximo tópico, em diálogo com Scott, o modo como Ruy Duarte de Carvalho apresenta a necessidade de uma descolonização dos saberes e elabora, para isso, o que podemos chamar uma “epistemologia nómada”.
Descolonização dos saberes e epistemologia nómada
Atacar as oralidades mais pelo lado das semânticas do que pelo das sintaxes.
RDC, a câmara escrita…
O trabalho de Ruy Duarte tem uma dimensão epistémica muito forte. É esta dimensão que me fez, sem dúvida, forjar o conceito de epistemologia nómada para falar das escritas e imagens deste autor. Discutirei neste tópico vários conceitos que nos permitem confirmar esta dimensão e que urdem a obra de Ruy Duarte contribuindo para uma prática descolonizada: oralidade, autodidatismo e ecologia.
Acabei o tópico anterior sugerindo que a oralidade é uma das pontes que podemos estabelecer entre Scott e Ruy Duarte nos seus esforços para compreender uma outra história que não seja a do centro etático, como sugere o subtítulo An Anarchist History of Upland Southeast Asia do livro de Scott The Art of Not Being Governed (2009). James Scott centra-se na visão dos habitantes das colinas, numa vasta zona periférica chamada Zomia – que começa na Índia e, passando pela Birmânia, o Laos e o Vietname, acaba na China – e nas suas interações com os Estados que os cercam. A pretensa primitividade e o suposto atraso dos nómadas são para Scott entendidos enquanto produtos de um “efeito de Estado”. A oralidade é um exemplo desta forma de desprezo pelos saberes dominantes e desse senso comum hegemónico que esse efeito produz e que legitima a pretensão do centro de levar o progresso, sedentarizando/civilizando esses grupos. Scott formula aqui um argumento radical, abre uma brecha que vai contra essa visão progressista da história ao colocar esta questão: e se numerosos povos não fossem, na longa duração, “pre-letrados / preliterate” mas “post-letrados / postliterate” (2009, 220)? Ou, de forma mais explícita,
[e] se, como uma consequência da fuga, das mudanças na estrutura social e nas rotinas de subsistência eles tivessem deixado os textos e a escrita atrás deles? E se, para levantar aqui a hipótese mais radical, existisse uma dimensão activa ou estratégica para este abandono do mundo dos textos e da literacia? (2009, 220)
Tal como no caso da agricultura e da organização social, para Scott, a oralidade é o produto de uma escolha ativa e estratégica e não o resultado de um empobrecimento ou de uma deficiência. Do mesmo modo que uma organização em pequenos grupos e um modo de vida transumante tornam difícil o controle do Estado, o caráter flexível da comunicação oral significa “a liberdade de manobrar na história, na genealogia e na legibilidade que frustram as rotinas do Estado” (2009, 220).
Em Ruy Duarte de Carvalho, a defesa antropológica da oralidade como fonte credível de saber e da fala e dos silêncios fronteiriços que a modelam como argumento estético é, indubitavelmente, uma tática de resistência epistémica. Uma oralidade e um saber ligados a uma “geografia” – a uma “noção geográfica” – que sublinha a espacialização dessas histórias locais e a relação direta entre esse saber e uma “paisagem propícia” (2005), como intitulará um dos seus romances, que torna possível a emancipação.
Como Scott, Ruy Duarte procura modos de produção de saberes que saiam das classificações e categorizações em que a ciência e a dominação se cruzem. Ruy Duarte está atento a não propor nenhuma identidade essencializada mas, pelo contrário, uma saída de qualquer identidade fixa. Interessam-lhe as entre-identidades. É isso que veremos na sua última obra, o livro A Terceira Metade onde se trata de “transcrever” a longa fala do Trindade. Ora Trindade era um mucuísso, um sem pátria reconhecida, qualquer coisa “entre” as identidades classificadas, mesmo as nómadas. Dele diz que é um “ser em vias de ir sendo, sempre em devir pelo mundo, para o resto da sua vida…… a sua pele como lugar ocupado de dentro pelo seu corpo e pelas suas almas” (2009, 100):
um africano configurado em simultâneo por duas diferentes aprendizagens ‘maternas’, nenhuma delas, todavia, produção e resposta da história ou da cultura do seu sangue, matriz da ‘raça’ que lhe é imputada … o Trindade é negro, sim, mas é mucuísso, não é banto de origem… e no contexto em que sempre viveu nunca deixou de ser-lhe lembrado, tanto por brancos como por negros, que a sua ‘raça’ é a de um twa, de um vátua, de um ‘primitivo pré-banto’, domesticado tanto pela incidência banta como pela incidência ocidental…… um absoluto imprevisto olhar, portanto e de qualquer maneira………..e, para o autor, talvez, uma terceira metade da mesmíssima coisa que tinha andando a tentar dizer antes […]. (2009, 23)
O seu longo discurso, que durará semanas, e que é a elaboração de um saber sobre o mundo, trabalhando as memórias e os presentes (uma palavra em que insiste Ruy Duarte) é o resultado de um processo autodidata de construção de um saber histórico. Nos termos de Giambattista Vico (2001 e Basto 2010), diríamos tratar-se de uma “poética do saber”, que Trindade foi construindo ao longo da sua vida a partir daquela leitura que fez sua do romance de Mark Twain As aventuras de Huckleberry Finn (2009, 78-81), e depois também das suas espreitadelas na sala de cinema. O autodidatismo é em Vico, como o será em Rancière na sua paradoxal pedagogia do mestre ignorante (Rancière 2004), a forma de resistir à grande “explicação” (2004, 11-18) que legitima a manutenção da hierarquização entre os que sabem e explicam e os que não conseguirão compreender sem ajuda; a forma de resistir e deslocar a “desigualdade das inteligências” (2004, 120-124) que legitima a distribuição dos corpos numa certa ordem social e determina depois o direito à palavra assim como a separação entre os saberes válidos e os não-saberes, entre os civilizados e os atrasados.
Esta poética do saber assenta numa relação imbricada entre sensação, sentimento, emoção e pensamento, e implica também uma dimensão epistémica fundamental. É por isso que os “nomes” das coisas e das geografias, as “palavras” com que se avalia o mundo e os comuns que se praticam são tão centrais no discurso do Trindade e nas reflexões que o “autor” e o seu outro, o narrador, vão dando a ler ao leitor ao longo do romance. “Romance austral” chamava-lhe o Trindade, uma história e uma poética de qualquer sul de um centro. De qualquer deserto ou ilha ou montanha inóspita, lugares que escaparam ao controle territorial colonial, e agora ao pós-colonial, atravessados por pastores nas suas transumâncias e pelo gado, muitas vezes roubado. Trindade, o cozinheiro do “mato” de doutores e engenheiros, de cientistas estrangeiros, tio do SRO, o Severo de As paisagens propícias, recolhe-se, já idoso, ao lugar de Kambeno onde o vai procurar Ruy Duarte, em busca de umas cassetes de hipotéticas rezas. Mas antes viajará com Ruy Duarte o qual, como um escriba, se dá a si próprio a tarefa de transcrever a sua fala que constitui então o romance. Viajarão do sul de Angola ao cabo das Agulhas, na África do Sul, passando pela ilha de Santa Helena.
Escrever a palavra falada é uma démarche, como gosta de dizer Ruy Duarte, que encontramos também em outros livros seus, e podemos observar que, como Scott, o autor questiona a relação entre oralidade e escrita. Mas no âmbito de uma epistemologia nómada trata-se de trabalhar enquanto resistência, o uso da “oralidade” dos saberes orais, que são de facto “lógicas”, e igualmente enquanto maneira, diria, parafraseando o Trindade, “austral” de produção sensível de saber. É aqui que intervém a proposta de Ruy Duarte de uma “imagem de fronteira”, de uma “literatura de fronteira”, mas de uma fronteira ao avesso, opondo-se a uma etnografia que fixa identidades em vez de lhes restituir o seu fluir circunstancial: seres de fronteira, sim, mas como Trindade, o mucuíssa.
E não deixa de ser interessante que Ruy Duarte de Carvalho afirme em a câmara, a escrita e a coisa dita…, num texto de 2003, intitulado “Travessias da oralidade, veredas da modernidade” que foi o cinema que lhe colocou “a primeira grande questão relativamente às hesitações e interrogações” a que conduzem a “transição dos registos do regime oral para os dos suportes da expressão moderna – determinada pela fixação dos conteúdos e pela perpetuação da forma assim fixada […]” (2008, 51). Ruy Duarte exemplifica essa abordagem com o seu trabalho cinematográfico Nelisita construído a partir de dois contos orais nyaneka e explica que ele mencionou essas histórias junto das pessoas nyanekas que ia filmar e escutou então as suas versões sobre o mesmo tema. E conta que quando decidiu fazer o filme “[e]stava assim a respeitar o carácter dinâmico da narrativa oral” (2008, 51). Mas Ruy Duarte estava também
plenamente ciente de que forma o tratamento cinematográfico que pretendia dar às narrativas iria […] ao fixar uma versão das estórias em película de cinema – num suporte físico, portanto, técnica e materialmente reprodutível a partir de uma versão fixada – […] contrariar, obstruir mesmo, a dinâmica específica da reprodutibilidade oral. (2008, 51-52)
A preocupação que esta citação traduz encontra uma resposta em autores que trabalharam a transmissão oral, como Denise Paulme. Mas ela recorre igualmente à reflexão de Walter Benjamin sobre o narrador. E o que interessou Ruy Duarte foi aqui o caráter transmissivo na repetição dessa oralidade, sendo que a repetição é a arte de voltar a contar, criando um palimpsesto das sucessivas narrativas que são assim “versões”. Em Benjamin, afirma, o narrador “associa à sua experiência mais íntima aquilo que aprendeu com a tradição. Seria essa precisamente a minha démarche”, (2008, 52). Mas ao fazê-lo, Ruy Duarte estava a entrar num outro campo de agitação intelectual: é que, como diz, abria-se diante dele uma outra ambição: “a de alargar o horizonte da projecção das narrativas nyaneka a uma hipótese de difusão universal, aquela, precisamente, que o registo cinematográfico poderia garantir-lhes” (2008, 52). Porque “a maneira menos lesiva para lidar com a globalização, por parte das culturas que essa mesma globalização subalterniza, talvez seja a de encontrar maneira de contrapor-lhe o uso dos próprios instrumentos que a globalização e a modernização utilizam” (2008, 53). O projeto estético e político de Ruy Duarte de Carvalho passa então por esta criação de pontes entre os dois registos, que são pontes entre o “circuito do consumo e da fruição do oral e o circuito do consumo e da fruição da escrita, com o potencial de circulação, de reprodutibilidade e de audiência desta” (2008, 52) e sobretudo, importa anotar, “com a sua pertinência própria num campo de actuação e de difusão onde todas as perturbações são possíveis” (2008, 52). Para trazer a oralidade para esse circuito “actual” e “actuante” (2008, 53) da escrita, Ruy Duarte recorre às “modalidades de expressão criativa” que procuram adequar à “inscrição de conteúdos e referências de ‘raiz’ africana numa modernidade conceptual, ideológica e tecnológica a todos os títulos incontornável à escala universal” (2008, 53). Ruy Duarte resgata assim “de um ‘local’ etnográfico e disciplinar, ou então de um ‘lugar’ geográfico e cultural” (2008, 52), transportando para o consumo estético contemporâneo de grande público, “extracções da tradição oral até então praticamente confinadas ao consumo de antropólogos e de outros especialistas” (2008, 52).
E o cinema foi fundamental nesse encontro com a dimensão heurística da oralidade:
se no meu caso a expressão escrita, através da poesia, precedeu, e influiu, a expressão cinematográfica, o que na realidade me levou a fundir a minha própria expressão escrita aos recursos, às expressões e aos registos da oralidade que tenho frequentado, foram em grande parte as experiências e as diligências a que a démarche cinematográfica me terá conduzido. (2008, 48)
Uma “fundição”, mais do que uma fusão entre a sua expressão escrita e essa “oralidade” que o leva a duas coisas importantes. Por um lado, como ele diz, o seu trabalho estético revela de forma continuada esse tipo de interpenetração em que o que aplica à “expressão oral transportada para a escrita, para a [sua] escrita, se confunde com o que da [sua] própria lavra não deixa quase nunca de remeter a sonoridades e a estruturações que, por sua vez remetem ao regime de oralidade” (2008, 50). O que faz então é
transportar as dinâmicas desse regime do oral para os terrenos da [sua] expressão pessoal para a escrita, portanto, e para a escrita em língua portuguesa, quer dizer, é traduzir a africanidade e a angolanidade que me importam segundo as evoluções do meu próprio curriculum de experiências senão de africano, pelo menos de angolano. (2008, 50)
Por outro, o seu regime de oralidade não é um recurso para africanizar a língua que usa, mas sim uma modalidade de emancipação da subalternidade e por isso a opção
senão inversa pelo menos diversa daquelas que visam africanizar as expressões individuais através do recurso imediato a perturbações evidentes e por vezes caricaturais da sintaxe da língua usada, por exemplo, atribuindo ao “outro” uma linguagem que nem sempre resulta em literatura porque de facto […] é menos tributaria do discurso do ‘outro’, ou de um discurso “outro”, do que da deliberação […] de escrever diferente para produzir ‘africano’ (em nome do outro). (2008, 50)
Vemos assim muito claramente como a experiência pessoal, íntima, o seu “curriculum de experiências” ocupa um lugar central nas práticas estéticas de Ruy Duarte. Para ele, aquilo de que se fazem as grandes literaturas é a “adequação da palavra à condição da experiência […]” (2008, 15). Daí também a importância do carácter performativo do seu trabalho nas três linguagens em que se move. E estes vários aspetos permitem-nos fazer a ponte com o que ele entende então por “estética de fronteira….. ao contrário”.
Por uma estética de fronteira ao contrário… o dentro e o fora… e de novo a epistemologia nómada
pelo avesso do olhar
Ruy Duarte de Carvalho, Vou lá visitar pastores
Faz tudo parte do romance austral…….. é espaço de fronteira……
Ruy Duarte de Carvalho, a terceira metade, 2009
A primeira observação a fazer é a de que Ruy Duarte de Carvalho não fala de uma estética “da” fronteira, mas “de” fronteira. Esta segunda terminologia está em circulação a partir dos anos 60-70 e tem um grande impulso com a teoria mundo de Wallerstein. Walter Mignolo escreverá obras seminais onde os termos “de fronteira” se ligam a um combate epistemológico fundamental. Determinado por um “da”, contração do artigo definido com a preposição, o termo fronteira cristaliza um espaço e nessa “precipitação” (contrário de “solução”), como diria Raymond Williams (1977), acabaria por substituir o centro que pretendia pôr em causa, por um outro centro. Em “de” fronteira, sem artigo “definido”, o termo fica indeterminado, pronto a pensar. Essa indeterminação não é, no entanto, suficiente para Ruy Duarte. E por isso ele acrescenta-lhe a indicação de ser “ao contrário”, reversível entre o dentro e o fora ou, mais precisamente, mostra que o que lhe interessa é o fora do dentro e o dentro do fora, uma fronteira sempre outra de si própria (Basto 2015, 194). É aí que a criação e o saber descolonizados se manifestam e, com eles, a saída de uma política que violenta e apaga as histórias desses “locais” outros da nação angolana. A estética de fronteira é assim, em Ruy Duarte de Carvalho, um dispositivo político.
Uma estética de fronteira ao avesso é a que encontramos nos títulos como terceira metade ou Vou lá visitar pastores, por exemplo. No primeiro caso, a “terceira metade” desenha uma borda não normativa entre as duas metades do saber normativo. Metade significa a existência de duas partes e apenas de duas. A linha de divisão diz que as não podemos pôr em causa e este modelo deve determinar a nossa forma de pensar. Ao desenhar esta borda, terceira e instável entre os seus próprios lados, Ruy Duarte sabe que está a abrir um precipício na lógica cartográfica tradicional. O salto da invenção quotidiana de que nos falava Frantz Fanon em Peaux noires, masques blancs (1971, 186). É por isso um “terceiro olhar” (2009, 22). O segundo título evocado pertence a uma obra antropológica: com ele Ruy Duarte questiona a colocação do antropólogo face ao seu objeto de investigação. Mas o título pode ler-se como uma resposta a uma cena de montagem cinematográfica. Um jogo entre campo e fora de campo: “vou lá visitar pastores” responde a um fora de campo “o que vais lá fazer?” E a resposta contém um “lá” interessante dobrado pela “visita”: não tem nome toponímico que o fixe num qualquer mapa. Assim, o estatuto do “antropólogo” é perturbado pela circunstância da “visita” e pelo lá em constante possibilidade geográfica. Vou lá, estar com eles, onde eles estiverem.
Nos livros que vimos analisando, Ruy Duarte refere-se com frequência às “colocações”. A noção de “colocação” permite-lhe falar sobre ou defender por um lado a importância do território onde estamos colocados e por outro a necessidade de desarrumarmos a colocação que uma certa ordem nos atribuiu: “o sentido da colocação geográfica, pois, para fazer sentido” (2015, 15). Trindade tem como certo que “não haverá experiência nenhuma sem localização propícia e que a singularidade de certos lugares é condição de existência para aqueles que os habitam……… […] essa coisa de lugar é […] um acto de pura criação autobiográfica” (2009, 363-363).
Sem a acuidade e centralidade que tem em Ruy Duarte, Scott propõe por seu lado uma leitura “topográfica” dos contextos que estuda. Mostra, por exemplo, em The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland Southeast Asia, como o percurso e a história de populações nómadas seriam dificilmente entendidos sem o recurso a uma distinção entre os espaços de liberdade, como o são as montanhas onde habitam e os espaços de dominação, etaticamente controlados. Esta espacialização topográfica da sua abordagem permite compreender uma série de outras dicotomias que separam e hierarquizam as populações nómadas e os centros que dominam política e ideologicamente. Nesse sentido, Ruy Duarte observa “é bom saber e não esquecer […] que são muitas as categorias identitárias colectivas que medeiam entre o indivíduo e a nação […]” (2008, 63). E nessas categorias é central a “paisagem”, o local, o território de experiência e experimentação assim como a extensão que de um certo ponto de vista que a “noção geográfica” traduz epistemicamente. A “paisagem” coloca a questão da alteridade:
Para lidar com ela, para entendê-la, para fazer da paisagem e da sua decifração o lugar da vida, e na vida, só sabendo como a viam, liam, diziam, os que a olhavam a partir de outras línguas, de outras linguagens, de outros entendimentos moldados por essas mesmas paisagens, e por essas mesmas línguas (2008, 20).
Esta poética de fronteira ao avesso, uma poética de saber e de fazer, é o oposto das lógicas imperiais e imperialistas:
aquela satisfação e justificação imperiais que bastam aos que detém, ou porque governam ou porque lhes convém o poder que governa, o domínio formal, administrativo, militar, económico sobre certos territórios, e um amparo, uma cobertura formal, que justifica e legitima as expansões dinamizadas tanto por ocidentais como por ocidentalizados face a paisagens de fronteira, quer dizer, face a paisagens que constituem o território de culturas outras, mais desmunidas de argumentos e de instrumentos de poder……… […]. (2008, 21)
Nelisita ou a terceira metade são estética de fronteira, dessa fronteira ao contrário, bifocais para dentro, imagens e livros que contestam eles mesmos os cânones, as divisões genéricas. Mas como define Ruy Duarte esta (sua) forma de fazer arte? No texto que abre a câmara escrita… datado de 2005 e intitulado, “Falas & vozes, fronteiras & paisagens… escritas, literaturas e entendimentos” (2008, 11-26), no seu ponto 5, “paisagens & fronteiras”, Ruy Duarte apresenta-nos os seus parâmetros que são também o seu programa estético:
ocorre-me, embora não tenha tempo para desenvolver a minha ideia, sugerir uma noção de literatura de fronteira, pois, mas ao contrário…………. de fronteira não exactamente apenas pelo facto de uma determinada língua em expansão se confrontar com uma paisagem perante a qual se interroga acerca da sua capacidade para dizer dela ou, melhor, entrar nela e pô-la a dizer-se no que se escreve, mas também, ou antes, porque há quem procure expressar uma cultura diferente, anterior e local, dentro da língua instalada….. […] isto é, quando uma modalidade de expressão localizada no espaço e situada no tempo põe em causa o domínio estabelecido, canonizado e imposto de outras expressões, dominantes essas, também localizadas e situadas nessa mesma língua………. fronteira, pois, como orla do alcance – por parte de uma dada expressão local (cultural), dentro de uma dada escrita – das expressões literárias dentro de uma língua e da história da sua escrita……. todas as expressões literárias locais se constituíriam assim como literaturas de fronteira em que a paisagem seria a língua maior, e que aí, uma vez realizadas, se transmudariam em voz………poderia talvez mesmo encara-se a ousadia de entender como literatura de fronteira toda a escrita que pela sua maneira de dizer as coisas, virando fala que passa a ser voz, perturbe a expressão de poder que a língua também é………… (2008, 21-22)
Este processo de fronteira tem uma correspondência, de certa forma uma formulação numa estrutura intervalar não apenas reversível, mas paradoxal entre o “dentro” e o “fora” que tece a terceira metade: “tem o que te trabalha de fora dentro de você”, diz o Trindade a Ruy Duarte (2009, 171). E Ruy Duarte diz do Trindade: “aprendeu a olhar para o continente e para o mundo colocados tanto dentro como fora de si mesmo…. digamos que o Trindade ensaiava assim uma absoluta tentativa de objectividade limite operada na pauta da sua subjectividade exclusiva….” (2009, 286). E por sua vez prolonga-se nesse programa estético de inventar uma nova condição de intermediário entre o narrador e o autor (2009, 182-183), em certo sentido um novo clinamen, conceito pedido emprestado a Demócrito e presente ao longo da obra de Ruy Duarte de Carvalho. E que coloca claramente nesta estética de fronteira a questão epistémica de evitar colocações de poder sobre o saber:
[…] e acabaria mesmo por dar, nesta linha, para conceber um livro que decididamente arriscasse fazer-se só ensaiando montagens e emendas, quer dizer explorando só as pistas dos limites, dos impasses, dos ardis que fosse urdindo, e de que todas as mudanças de rumo capazes de revelá-los, a esses ardis, não pudessem vir a ser capazes senão de conduzir a outros rumos que acabassem por revelar-se por sua vez ardis também…. (2009, 178)
Como já referido, o cinema invade a escrita literária de Ruy Duarte. Por vezes ele torce a composição do livro introduzindo uma forma de escrever que passa por planos, scripts, repérages, plongées e contra-plongées, campo-contra-campo, fora de campo, hipotéticos cenários funcionando por vezes como separadores entre capítulos. Em a terceira metade fala do “romance austral” do Trindade e de uma prática estética de fronteira a partir de uma linguagem cinematográfica: “inteiramente em plongées……. e trabalhando com zooms…… toda a observação fixada, assestada, é um zoom……. Santa Helena e lá em cima como vértice de um décor de fronteira, uma versão mucuíssa, única, do que há-de constar para o mundo” (2009, 288). E uma parte do Livro III desta obra é organizada em planos (2009, 355-361).
O cinema manifesta-se dessa maneira no coração mesmo da escrita e Ruy Duarte passa de uma linguagem a outra. Pratica o que poderíamos chamar uma estética de “montagem” que subjaz na forma como cola as cenas dos seus livros.
É nos seus textos “Cinema e antropologia, para além do filme etnográfico de 1983” (2008, 388-434) e “Da tradição oral à cópia standard – a experiência de Nelisita” (2008, 435-459), de 1982, que fazem parte de a câmara, a escrita e a coisa dita…, que Ruy Duarte propõe uma reflexão aprofundada sobre a relação entre cinema, ciência e epistemologia. A epistemologia que está aqui em causa assenta na posição do cineasta num certo contexto – a sua ação – envolvendo o seu próprio corpo. Assim
[s]obre o terreno, filmar não é de forma alguma o mesmo que inquirir. Filmar é participar com o corpo, com a inteligência da acção, com uma capacidade de discernimento que tem muito pouco a ver com o processo de reflexão. (2008, 383)
Assim, se enquanto “país do Terceiro Mundo” Angola se situa “no hemisfério do observado”, Ruy Duarte pergunta “[q]ue revolução […] estará em curso para a própria antropologia quando o observado se transforma em observador e […] se observa a si mesmo? Que acontece quando o observado assume a palavra?” (2008, 455). Segundo ele, e diferentemente da maioria dos cineastas do continente africano, a resposta a essas questões não é uma rejeição da antropologia, mas a sua transformação através do diálogo com um cinema que “não poderá nem deverá perder o carácter de uma abordagem ‘cultural’” (2008: 414). E no caso de Nelisita tal como já antes ensaiara em Presente Angolano. Tempo Mumuíla (1977), essa abordagem pretendia “revelar a existência dos Mumuílas, da sua cultura, dos seus problemas, opiniões e posições face a um tempo novo, com todas as implicações que a independência inaugurara” (2008, 439). Se o filme é um “trabalho de ficção que tem por base narrativas da tradição oral nyaneka” (2008, 435), em Nelisita (que significa em língua lumuíla “aquele que se gerou a si próprio”), no entanto, o passado da tradição oral não é fixo. A sua repetição coloca-o no presente, suscita “uma leitura dirigida a questões actuais” (2008, 444). Essa mobilidade que traduz então a ideia de uma epistemologia nómada encontra-se até na escolha das soluções técnicas. Assim, segundo Ruy Duarte de Carvalho, o formato de 16mm justifica-se em termos estéticos e pragmáticos, “porque há coisas que só o equipamento ligeiro ‘vê’, já que é ligeiro e se move, e é disso que se faz o movimento, isto é, o estilo que o não dispensa” (2008, 441). E se o objeto é dinâmico e passa além da clivagem observador/observado, esta abordagem significa igualmente uma rutura com o cinema etnográfico que, ao contrário, procura fixar os corpos e os objetos.
Deste modo, “[l]ogo de início foi dado grande destaque à palavra e ao testemunho, o que em si mesmo constituía já um procedimento inédito” (2008, 439). E neste contexto é importante não esquecer que a rodagem de Nelisita, em 1982, se fez em continuidade com a série de documentários já citados e que foram filmados com a mesma comunidade, em 1977: Presente Angolano. Tempo Mumuíla. Isso teve como consequência que os atores viram a ficção em continuidade com o documentário ao ponto de ter o mesmo comportamento nos dois casos: “Jamais lhes ocorreria assumir perante da câmara uma atitude diferente daquela que haviam adoptado anteriormente, o que é dizer, como quando lhes fora pedido para serem eles mesmos” (2008, 446).
A continuidade entre documentário e ficção, a importância dada à voz e à visão/versão dos filmados, o “serem eles mesmos” teve também com corolário a recusa de comentários em voz off:
Nelisita deu-nos a oportunidade de trabalhar, em ficção, material equivalente ao que nos havia ocupado nos documentários. Julgamos que ninguém poderá legitimamente pretender que se interrompa a acção do filme para explicar, através de um discurso off, o que está a passar. Seria atentar contra a estrutura temática e narrativa do filme, violentá-lo, digamos. (2008, 447)
Trata-se assim, neste cinema não etnográfico, da recusa da grande explicação
[…] [r]epugna-nos […] sufocar ou não valorizar o testemunho que nos foi fornecido por quem reconheceu no cinema um meio de expressão pessoal ou colectiva. Impedir esse discurso seria preteri-lo em benefício do nosso, o que, por princípio, recusamos. (2008, 448)
Concluindo. Vimos no cruzamento das obras de Ruy Duarte de Carvalho e de James C. Scott a problemática de uma construção não dominadora do saber. Estamos aqui num terreno que é também comum a E.P. Thompson e aos subaltern studies assim como ao pensamento descolonial de W. Mignolo e de outros pensadores latino-americanos, nos seus combates contra a desqualificação e invisibilidade das resistências locais subalternas. Apesar de o fazerem a milhares de quilómetros de distância, um trabalhando no sudeste asiático e o outro em Angola, encontramos muitas vezes em Ruy Duarte de Carvalho e em James C. Scott uma mesma dinâmica histórica, socioeconómica e cultural, na qual povos com um modo de vida transumante e uma organização política descentrada são confrontados com a violência de estados coloniais e pós-coloniais e, particularmente, com uma lógica desenvolvimentalista. Em ambos os autores as investigações sobre esse embate conduzem a um esforço de compreensão do que está escondido por detrás da visão dos saberes dominantes. São assim questionadas as lógicas classificatórias que assentam nas dicotomias estado/sem-estado; sedentário/nómada, desenvolvido/primitivo etc., mas também e sobretudo, a natureza das resistências através das quais os coletivos transumantes conseguiram manter um certo grau de autonomia. Trabalhando dentro uma abordagem científica que começa com o livro do antropólogo britânico Edmund Leach, Political Systems of Highland Burma. A Study of Kachin Social Structure (1954) Scott exprime uma lógica do avesso distinta que ele entrevê nomeadamente na palavra “interno” do conceito de “colonialismo interno”. Desconstruindo ideias etnológicas de primitividade, autenticidade ou originalidade, o autor interroga a maneira como as sociedades descentralizadas se constituem através da sua relação com o Estado, fazendo suas ou excluindo estrategicamente e consoante as conjunturas históricas, os modelos culturais, económicos e sociopolíticos do centro.
Mas se James C. Scott procura decifrar essas práticas-discursos ocultos de resistência através de uma análise e escrita antropológica, Ruy Duarte de Carvalho junta a essa escrita, a literária e a cinematográfica. O que ele procura não é apenas modos de exprimir a visão/versão dos pastores – e a oralidade a ela associada, na escrita e na imagem – na língua e nas técnicas que estão ligadas aos saberes hegemónicos, mas a elaboração de uma reflexão de carácter epistemológico que aqui chamei “epistemologia nómada”. Nesse sentido, Ruy Duarte permite-nos ir mais longe, descolonizando saberes e práticas estéticas. E isso implica que se nos dois autores a paisagem, a topografia e a geografia são fulcrais enquanto território de experiência e de experimentação, a estética de fronteira de Ruy Duarte de Carvalho exprime como a imposição da língua dominante sobre a paisagem dos transumantes, tornando-se instrumento do domínio, pode ser igualmente objeto de uma escrita-imagem ao avesso que nela exprima o que foi coberto. Toda a obra de Ruy Duarte de Carvalho assenta sobre esse desafio de evitar “colocações” de poder sobre o saber, de ver dentro (da língua hegemónica) o que está fora (a oralidade nómada) e vice-versa. Esse desafio de filmar nessas versões inversões, de filmar em imagens descolonizadas. Isso implica igualmente a exploração de posicionamentos intervalares em que subjetividade e objetividade, autor e narrador, cineasta e olho da câmara se vigiam e se transformam um no outro impedindo que uma única versão se constitua. É nessa prática multigénero, em que a constituição de um saber se confunde com a maneira de o construir e comunicar, que reside a especificidade muito original do trabalho de Ruy Duarte de Carvalho.
Bibliografia
Basto, Maria-Benedita. 2010. “Corps poétique et critique démocratique. Vico et l’humanisme engagé d’Edward Said”. Tumultes 35: 103-117.
———. 2007. “Enjeux/double jeux: hétéronymie, genre et nation dans Eu, o Povo de Antonio Quadros/Mutimati Barnabé Joao”. In Enjeux littéraires et construction d’espaces démocratiques en Afrique subsaharienne. Editado por M.-B. Basto. Paris: EHESS/Ceaf.
———. 2015. “Utopia in Angolan and Mozambican Literature: Material futures, dialectical dances”. In Utopia in Portugal, Brazil and Lusophone African Countries. Editado por Francisco Bethencourt. Oxford e Berna: Peter Lang.
Butz, David e Michael Ripmeester. 1999. “Finding space for resistant subcultures”. In In[ ]visible Culture. An Electronic Journal for Visual Studies 2 (Jan).
http://www.rochester.edu/in_visible_culture/issue2/butz.htm, (consultado em 12 de Dezembro de 2016).
Carvalho, Ruy Duarte de. 2015 [1999]. Vou lá visitar pastores. Lisboa: Cotovia.
———. 2009. a terceira metade. Lisboa: Cotovia.
———. 2008. a câmara, a escrita e a coisa dita… fitas, textos e palestras. Lisboa: Cotovia.
———. 2005. As paisagens propícias. Lisboa: Cotovia.
———. 2003a. actas da maianga. Lisboa: Cotovia.
———. 2003b. Os Papéis do Inglês. Lisboa: Cotovia.
———. 1997. Aviso à Navegação.
http://www.casadasafricas.org.br/wp/wp-content/uploads/2011/08/Aviso-a-navegacao.pdf (consultado em 15 Dezembro 2016).
Casanova, Pablo González. 2006. “El colonialismo interno: una redefinición”. In La teoría marxista hoy: problemas y perspectivas. Editado por Atilio A. Boron, J. Amadeo e S. González. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Deleuze, Gilles. 1975. Kafka. Pour une littérature mineure. Paris: Les éditions de Minuit.
Fanon, Frantz. 1971 [1952]. Peaux noires, masques blancs. Paris: Editions du Seuil/Points.
Geertz, Clifford. 1983. Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology. Nova Iorque: Basic Books.
Hechter, Michael, 1975. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development 1536-1966. Berkeley: University of California Press.
Leach, Edmund. 1970 (1954). Political Systems of Highland Burma. A Study of Kachin Social Structure. Londres: Athlone Press.
Mignolo, W. D. 2000. Local Histories/Global Designs: Coloniality. Subaltern Knowledges and Border Thinking. Princeton, NJ: Princeton University Press.
———. 2003. “Os esplendores e as misérias da ciência: colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluriversalidade epistémica”. In Conhecimento Prudente para uma Vida Decente. Boaventura de Sousa Santos (ed.) Porto: Afrontamento.
Mignolo, W.D. 2013. “Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et désobéissance épistémologique”. Mouvements 73: 181-190.
Pereira, Edir Augusto Dias. “Resistência descolonial: Estratégias e táticas territoriais”,
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15/Geografiasocioeconomica/Ordenamientoterritorial/01.pdf (consultado em 15 Dezembro 2016).
Pile, Steve; Keith, Michael. eds. 1996. Geographies of Resistance. Londres/Nova Iorque: Routledge.
Rancière, Jacques. 2004 [1987]. Le Maitre ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intelectuelle. Paris: 10/18
Scott, James C. 2009. The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven e Londes: Yale University Press.
———. 1998. Seeing like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven e Londres: Yale University Press.
———. 2013 [1990]. A Dominação e a Arte da Resistência. Discursos Ocultos. (trad. de Pedro Serras Pereira) Lisboa: Livraria Letra Livre.
Stoler, Ann Laura. 2013. Imperial Debris. On Ruins and Ruination. Durham: Duke University Press.
Thompson, Edward P. 1975. Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. Nova Iorque: Pantheon.
Vico, Giambattista. 2001. La nouvelle science. Paris: Fayard.
Williams, Raymond. 1977. Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.
____________
in Diálogos com Ruy Duarte de Carvalho (2019), Marta Lança et all (org), Lisboa: BUALA - Associação Cultural I Centro de Estudos Comparatistas (FL-UL). ISBN: 978-989-20-8194-6