O Poder em Angola, entrevista a Paulo Inglês
 Paulo Inglês é natural do Lobito, saiu de Angola em 1992 e começou a sua vida académica itinerante passando por Moçambique, Portugal, depois Inglaterra, Madrid, até se fixar na Alemanha. Estudou Filosofia, Sociologia e Ciências Políticas e escreveu uma tese de doutoramento sobre a transformação social pós-conflito em Angola. Nesta longa conversa, falámos sobre o poder em Angola, os problemas na economia, o tempo colonial, a composição do MPLA, a difícil construção da democracia e a aprendizagem de uma cultura contestatária.
Paulo Inglês é natural do Lobito, saiu de Angola em 1992 e começou a sua vida académica itinerante passando por Moçambique, Portugal, depois Inglaterra, Madrid, até se fixar na Alemanha. Estudou Filosofia, Sociologia e Ciências Políticas e escreveu uma tese de doutoramento sobre a transformação social pós-conflito em Angola. Nesta longa conversa, falámos sobre o poder em Angola, os problemas na economia, o tempo colonial, a composição do MPLA, a difícil construção da democracia e a aprendizagem de uma cultura contestatária.
Que balanço geral faria dos 40 anos de independência?
Quarenta anos de história é pouco para um país. Outros já vão com 800 anos! Não tenho consciência de ter sido colonizado e depois passar a estar independente, talvez por isso não viva a doença do patriotismo. Acho que sou angolano e isso não está sob ameaça. Criticar o governo angolano não significa ser anti-patriota. Quarenta anos deviam ser suficientes para afastar a obsessão de que há sempre inimigos externos que nos querem roubar a independência.
Quais foram os principais erros?
O principal erro foi a pulsão hegemónica que instalou uma cultura política autoritária e a ideia hobbesiana de que o soberano distribui a liberdade aos súbditos. Trouxe muito sofrimento e fez o país retroceder. Respeito a coragem daqueles que combateram o colonialismo, sobretudo quem sacrificou as suas vidas para restaurar a dignidade dos angolanos. Tenho-os por heróis, mas isso não dá a ninguém o direito de dispor da vida dos outros a seu bel-prazer. O colonialismo português foi cruel e desumano, causou muito sofrimento a muita gente. Acho que a crítica à actual situação angolana não torna o colonialismo coisa boa.
Ainda se faz muito essa relação equivocada entre regimes e tempos?
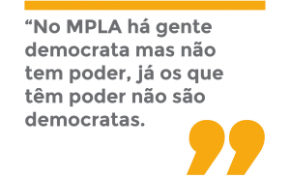
Não precisamos de invocar o anti-colonialismo para justificar a prisão dos 15 jovens. O fim último da independência era que os angolanos vivessem com mais dignidade e usufruíssem de direitos. Este foi o ideário da primeira geração de nacionalistas. Neste momento, a democracia possibilita aproximarmo-nos deste ideal. A democracia é um caminho longo, acho que se consegue lá chegar sem violência, por isso não concordo com a terapia de Fanon, embora considere útil o seu o diagnóstico. No MPLA há gente democrata mas não tem poder, já os que têm poder não são democratas. A luta dos 15 révus retoma, no fundo, as ideias dos primeiros nacionalistas. Eles dizem em voz alta o que todos angolanos sussurram. Já não se trata de salvar a pátria mas de salvar os angolanos de uma “pátria” asfixiada.
Como é a sua admiração pelos “nacionalistas” e que tipo de nacionalismo?
O meu pai conheceu o Viriato da Cruz mas melhor ainda o Paixão Franco, das Alfândegas, que já era um nacionalista e vivia no Lobito. Chegaram a ser vizinhos nos anos 1950. Era um tipo de nacionalismo que se centrava mais na restauração da dignidade dos angolanos e a independência política surgia neste contexto como condição, e menos na ideia messiânica de um salvador da pátria que todos deviam seguir cegamente que nos conduziria à terra prometida. Isso sempre deriva para um autoritarismo, como depois podemos observar. O meu pai sempre teve admiração pelos primeiros nacionalistas.
O que ainda sobeja das ideias fundadoras e de resistência à opressão dentro do actual MPLA?
Pouco resta, porque as pessoas tornaram-se cínicas. Os primeiros lampejos do nacionalismo dissiparam-se quando Agostinho Neto assumiu a direcção do MPLA. Era uma pessoa corajosa, um líder carismático. Porém, cercou-se de pessoas gananciosas e medíocres, prescindindo de homens de valor como Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz, etc. Havia incompatibilidades em termos de personalidade mas o projecto nacionalista podia tê-los unido mais. Mas não. Derivou para um autoritarismo que retirou do MPLA a cultura de debate e o seu carácter de movimento de vanguarda, caindo numa certa mesquinhez. Depois vieram a prisão e a tortura dos próprios camaradas, o desaparecimento das pessoas e os assassinatos, os campos de reeducação para os opositores e os fuzilamentos em público nos campos de futebol, o desgoverno e a corrupção. O Joaquim Pinto de Andrade disse-me que apresentou ao MPLA uma perspectiva de se ir avançando mais para uma social-democracia. Na altura, foi visto pelos radicais do MPLA como algo reaccionário. Estavam em cima da mesa duas opções: uma de Agostinho Neto e outra de Mário Pinto de Andrade; o MPLA optou pela visão de Neto que implicava a excessiva personalização do poder e a sua deriva autoritária. Se a democracia fosse opção naquela altura, as duas perspectivas podiam derivar em duas famílias políticas e Angola ganharia. Mas na altura era a soma zero.
E qual era a posição de Mário Pinto de Andrade?
Tinha uma visão mais sofisticada da prática política, concebia a política como prática de argumentação, uma luta de ideias sobre aspectos concretos da vida. Achava que era possível chegar a consensos através de discussões honestas, que iam além das tácticas e do cinismo, e que os consensos podiam produzir decisões para melhorar a vida de uma certa comunidade e ou da sociedade. O colonialismo não deixava espaço para essa discussão, apesar dele, Amílcar Cabral e outros, terem curiosamente tentado conversar com a administração colonial. É por isso que ele se empenhou em produzir conhecimento e em adquirir informação sobre Angola, porque desconfiava das informações da administração colonial. O seu enfoque de luta foi a palavra e o conhecimento. Ele acreditava que, apresentando argumentos sólidos e razoáveis, era possível persuadir ou ser persuadido e que isso estaria na base de consensos políticos e de compromissos.
Que tipo de compromissos?
Os que fazem uma sociedade avançar e não a crença de que um líder iluminado acedia ao futuro ou a umas verdades sobre a vida em sociedade que depois deviam seguir sem contestar. Isso leva ao totalitarismo. Também se empenhou em desmontar as falácias do colonialismo e confrontou Gilberto Freyre em Paris com o seu lusotropicalismo. A experiência política da Revolta Activa tendia mais para a social-democracia porque deixava espaço para o pluralismo político e era anti-hegemónico. Mas a reacção do MPLA de Agostinho Neto foi mandar prender os membros da Revolta Activa. Há uma carta muito emocionante do Joaquim Pinto de Andrade a Agostinho Neto, na qual quase suplica para que este solte os prisioneiros, inclusive membros da sua família. O Gentil Viana foi torturado e quase o deixaram cego. Agostinho Neto não cedeu! Foi preciso uma pressão internacional para que o soltassem. Enquanto isso, alguns intelectuais da época organizavam saraus culturais. A história repete-se, não lhe parece?
Como vê o impacto da globalização em certas culturas africanas?
Acho que as culturas africanas têm plasticidade suficiente para se adaptarem, transformarem-se ou até, em alguns aspectos, resistirem. Além disso, não são estáticas e é o que tem acontecido. O livro The things fall apart, do Chinua Achebe, aborda esta questão. O cristianismo foi absorvido pelas tradições africanas e adaptou várias formas de experiências religiosas desde sincretismos religiosos, como por exemplo o kimbanguismo ou tocoismo. Noutros lugares, formas africanas de organização social serviram de base para a construção de comunidades religiosas em que o pastor passou a ser o líder da comunidade, tendo havido por isso uma reconversão da autoridade. Ou, como alguns líderes africanos, ainda no século XIX, tiraram proveito da possibilidade do comércio das caravanas e produziram riqueza, usando esse dinheiro para dar formação escolar aos seus filhos que, curiosamente, foram os primeiros assimilados antes de tal se tornar uma categoria sócio-jurídica. Podia falar da música, por exemplo, da experiência de Liceu Vieira Dias que, depois da independência, ironicamente, padeceria de um ostracismo por parte da elite cultural angolana.
Como se discutiu a dicotomia modernidade e tradição?
 Depois da Independência, instalou-se em Angola a crença que as tradições africanas, neste caso angolanas, eram sinais de atraso e obscurantismo, fonte de tribalismo. Acredita-se que a chamada modernidade representada no estilo de vida dos ambientes urbanos, supostamente cosmopolita e tangencialmente ocidental, é que traria progresso. A versão política dessa crença era que o MPLA representava essa modernidade, porque, dizia-se, estava acima do regionalismo ou das tribos e constituía o substrato para se construir a nação. Mesmo a nível da produção cultural, alguns aspectos das tradições africanas eram vistos com um certo paternalismo e como caricatura. A ideia de mestiçagem, que em Angola começou a desenvolver-se com mais intensidade nos anos 1990, tentou contornar o impasse da dicotomia modernidade tradição; mas a mestiçagem também pode funcionar como uma ideologia, como acontece no Brasil: o suposto melting potescondia um racismo primário e brutal. Acho que a nação é menos conversão política de “partilhas primordiais” do que arranjos políticos. Se um sistema conseguir produzir consensos tácitos a longo prazo pode fundar-se uma nação; é claro que a história comum ajuda. No caso de Angola, já existiam muitos elementos comuns que tornariam possíveis consensos suficientes para o país dar certo; faltou audácia política.
Depois da Independência, instalou-se em Angola a crença que as tradições africanas, neste caso angolanas, eram sinais de atraso e obscurantismo, fonte de tribalismo. Acredita-se que a chamada modernidade representada no estilo de vida dos ambientes urbanos, supostamente cosmopolita e tangencialmente ocidental, é que traria progresso. A versão política dessa crença era que o MPLA representava essa modernidade, porque, dizia-se, estava acima do regionalismo ou das tribos e constituía o substrato para se construir a nação. Mesmo a nível da produção cultural, alguns aspectos das tradições africanas eram vistos com um certo paternalismo e como caricatura. A ideia de mestiçagem, que em Angola começou a desenvolver-se com mais intensidade nos anos 1990, tentou contornar o impasse da dicotomia modernidade tradição; mas a mestiçagem também pode funcionar como uma ideologia, como acontece no Brasil: o suposto melting potescondia um racismo primário e brutal. Acho que a nação é menos conversão política de “partilhas primordiais” do que arranjos políticos. Se um sistema conseguir produzir consensos tácitos a longo prazo pode fundar-se uma nação; é claro que a história comum ajuda. No caso de Angola, já existiam muitos elementos comuns que tornariam possíveis consensos suficientes para o país dar certo; faltou audácia política.
O que mudou social e estruturalmente depois da independência?
Nos últimos anos do colonialismo havia um sistema administrativo com alguma eficiência. É verdade que era um sistema que favorecia a minoria branca mas este favorecimento podia ser corrigido, depois da independência, através de medidas políticas o que implicava, de certo modo, a participação dos cidadãos nas decisões políticas. Depois da independência, como disse Mahomood Mamdani, deu-se a “desracialização” do sistema mas não houve uma democratização. Além disso, a administração deixou de ser, digamos, burocrático-racional no sentido de existirem normas claras e conhecidas que todos deviam seguir.
Promiscuidade entre o poder e a administração?
A excessiva personalização do poder interferia no funcionamento da administração e, claro, com o tempo, passou a funcionar cada vez pior e em alguns sítios nem sequer funcionava. Lembro-me, em miúdo, que um tipo, quase sem educação escolar, com uns cursos na escola de formação do Partido, foi nomeado pelo partido para director de uma panificadora, por sinal a mais importante do Lobito. Parece que a cada três quartos de hora o tipo chamava os trabalhadores ao pátio para um discurso que ele mesmo proferia e terminava sempre com os “viva” ao partido e ao presidente e os “abaixo” aos inimigos. Passado pouco tempo, a farinha tinha acabado, mas ele continuou a fazer discursos porque eram mais que os pães.
E, hoje em dia, mantém-se a estratégia da propaganda?
Curiosamente acontece o mesmo. A TPA continua a fazer propaganda enquanto a economia entra em colapso. Não se trata de estar contra o governo, como disse o João Melo numa entrevista em que trata quem critica o governo como “adversários do governo”. Os adversários do governo são os partidos políticos da oposição que estão no parlamento. Há uma inversão de termos. O exercício da minha liberdade como cidadão passa por interpelar aqueles que me governam e pedir contas à autoridade. Não é apenas um direito, pressupõe aceitar uma ordem. Não entendo por isso que a TPA insinue que as manifestações causem desordem. A desordem decorre quando a Constituição não é cumprida. A ordem democrática dá a possibilidade de se contestar a autoridade. Não se é menos patriota por isso, nem se trata de estar contra o MPLA. É um falso dilema. Trata-se das pessoas exercerem os seus direitos, isso é um dos dividendos da paz.
“Presos às velhas armadilhas”
Explique-nos, a seu ver, como funciona o poder em Angola?
Por causa dos activistas presos, voltei a ler Foucault para entender o poder. Rafael Marques concentra a crítica no presidente José Eduardo dos Santos porque entende que é o rosto do regime. É interessante como forma de combate político porque um adversário precisa de um rosto, mas diria que o funcionamento do poder em Angola é mais complexo. O livro do Ricardo Soares de Oliveira, Magnífica e Miserável: Angola Desde a Guerra Civil (Tinta-da-China) também destaca a ideia da concentração do poder na pessoa de José Eduardo dos Santos. Facilita, como diz o autor, a descrição de uma perspectiva holística do poder em Angola, mas não reduz a complexidade dos meandros do poder.
Na minha opinião, o cerne continua a estar, como diz Foucault, no modo como é exercido. Mais do que apropriação do poder são as manobras, posições, tácticas, técnicas e funcionamento. O poder não é apenas o privilégio adquirido da classe dominante, mas o efeito de conjunto dos seus funcionamentos estratégicos. Por isso é que o caso do Luaty é tão interessante, ele não está apenas a confrontar o poder político na sua forma institucional, está abalar as disposições tácticas e os arranjos tácitos que dão suporte ao poder do MPLA. Obriga a que vários actores tomem posição; a greve de fome do Luaty obriga a que as pessoas se pronunciem e esse pronunciamento destapa a singularidade através do qual o poder é exercido. Por isso, muitos políticos acham-no “mal-educado”, não tanto pelo carácter subversivo de alguns dos seus pronunciamentos, mas porque sai do ritual que reveste o poder; é como se um menino numa procissão de velas começasse a dançar. Há uma reacção de indignação e desconforto. Por isso é que os 15 na prisão ainda são castigados. A prisão já é um castigo, mas eles são submetidos a torturas e são postos na solitária em celas incomunicáveis. A prisão funciona como as antigas casas de correcção de menores. Por isso, o caso do Luaty tem sido um laboratório.
Por isso é que o caso do Luaty é tão interessante, ele não está apenas a confrontar o poder político na sua forma institucional, está abalar as disposições tácticas e os arranjos tácitos que dão suporte ao poder do MPLA. Obriga a que vários actores tomem posição; a greve de fome do Luaty obriga a que as pessoas se pronunciem e esse pronunciamento destapa a singularidade através do qual o poder é exercido. Por isso, muitos políticos acham-no “mal-educado”, não tanto pelo carácter subversivo de alguns dos seus pronunciamentos, mas porque sai do ritual que reveste o poder; é como se um menino numa procissão de velas começasse a dançar. Há uma reacção de indignação e desconforto. Por isso é que os 15 na prisão ainda são castigados. A prisão já é um castigo, mas eles são submetidos a torturas e são postos na solitária em celas incomunicáveis. A prisão funciona como as antigas casas de correcção de menores. Por isso, o caso do Luaty tem sido um laboratório.
Disseminam-se novas e velhas instituições punitivas, num regime biopolítico.
Exige disciplina… um cidadão é concebido como um indivíduo disciplinado, aquele que não contesta a autoridade. O poder político, mais do que desafiado, sente-se indignado. Mas o irónico é que o Luaty, por exemplo, vem do centro do poder e não da periferia. É verdade que as vanguardas vieram sempre da burguesia mas, no caso do Luaty, o pai dele não foi apenas o presidente da FESA (Fundação Eduardo dos Santos) mas o elemento destacado da DISA (Direcção de Informação e Segurança de Angola) no período mais escabroso dessa instituição, entre 1977 e 83. E foi um dos que montou, digamos, a actual estrutura de controlo político que ainda existe em Angola. Alguns dos que defendem o Luaty foram vítimas dos esbirros da DISA. Este caso está a mexer com os nossos fantasmas, os nossos tabus e os nossos traumas. Isso exige uma nova linguagem, um novo estilo de pensar o país. Os partidos políticos tradicionais, infelizmente, não conseguem traduzir esse fenómeno em reivindicação política porque ainda estão presos às armadilhas da velha política.
Porque vai sempre ressurgindo o fantasma da tentativa de golpe de Estado?
Tem a ver com excesso de moral, como dizia o moçambicano Elísio Macamo, a propósito da Frelimo em Moçambique. O MPLA sequestrou a noção de pátria e manipulou politicamente o seu significado. Patriotismo já não é a relação afectiva que um indivíduo tem com a comunidade política, social ou histórica; para o MPLA patriotismo é uma espécie de moral do partido elevada à categoria de um princípio identitário: quem critica o partido ou o presidente ou o governo é anti-patriótica. Os presos do 27 de maio de 1977 eram submetidos a torturas para confessarem que eram traidores. Aos membros da Revolta Activa foi-lhes exigida uma autocrítica porque contestaram a autoridade de Agostinho Neto e eram vistos como traidores. É curioso porque ao Joaquim Pinto de Andrade o MPLA acusava-o de antipatriota por contestar o rumo do MPLA e do país e, como se viu, parece que não se enganou. Os 15 jovens também são acusados de “acto preparatório” de uma rebelião; em tempos, o general Miala, chefe dos serviços de inteligência, foi acusado também de tentativas de acções que desembocariam na tomada do poder. Mas se houvesse democracia realmente, a simples insinuação de golpe de Estado paralisaria o país, porque seriam acusações muito graves que exigem provas contundentes.
Aprender a cultura contestária
Como viveu na Europa a contestação dos modelos de democracia?
Em Madrid havia manifestações nas faculdades, cartazes,happenings, representações não só contra o governo mas contra a democracia. Havias críticas, boicotes às aulas e quem os fazia são agora líderes do Podemos. Na altura, eram jovens estudantes idealistas, revolucionários. Quando foi a guerra do Iraque, havia manifestações e exigia-se que Aznar, que era o chefe do governo, se demitisse; alguns cartazes eram violentos e de muito mau gosto. Mas ninguém foi acusado de “acto preparatório”, porque estava dentro da liberdade expressão e manifestação e porque o modo formal de conseguir o poder era através de eleições livres.
Tem-se dito que são os filhos que foram estudar fora e com consciência política e social (de Pepetela, António Mosquito, Lopo do Nascimento ou João Beirão) que fazem mais críticas a José Eduardo dos Santos. Fale sobre a relação entre educação e exigência de cidadania, democracia e direitos. Participação numa manifestação em Hamburgo, Alemanha, Abril 2012
Participação numa manifestação em Hamburgo, Alemanha, Abril 2012
As vanguardas vêm da burguesia e isso não é novidade. A novidade está em que estes filhos do regime pretendem cortar o mecanismo de reprodução das injustiças num período em que a suposta burguesia estava a afirmar-se. Além disso, algumas partes da África, como Quénia, África do Sul, Gana, Tanzânia, têm uma classe média consistente. No Quénia, cerca de 45 por cento da população pertence à classe média. Tem uma imprensa livre que participa activamente nas discussões dos processos políticos e ao mesmo tempo há um dinamismo cultural impressionante, desde literatura, música popular e teatro. Os chamados filhos da burguesia angolana sabem disso, imagino, por exemplo, que o Luaty terá tido contacto com esta gente em Inglaterra, mais do que em Portugal. E também confrontam os seus países. Alguns do que citou são pessoas que estão em contra-ciclo do MPLA. Foram protagonistas nos anos 1980 e, quanto muito, nos 1990, depois retiraram-se. São socialmente do MPLA, mas já não têm influência política. Além disso, os filhos são adultos, fazem as suas escolhas e seguem os seus caminhos.
Mas o interessante nos “filhos do regime” é o contraste com os outros jovens que vêm das zonas periféricas e querem ser os “novos ricos”, fazem tudo para aparecer na TV, defendem o regime com um fanatismo que raia a loucura e empolam o seu patriotismo e desprezam os pobres. Nota-se a obsessão pelos fatos caríssimos, as gravatas e as pulseiras de ouro. Alguns até são “analistas políticos”, uma praga em Angola. Deve ser uma actividade que exige muita criatividade. Sempre que se referem ao presidente dizem “Sua Excelência o senhor presidente da República”, mesmo que seja num programa de rádio. Também estudaram, claro, mas acho que têm outras agendas existenciais. Enquanto alguns, até filhos do regime, reclamam justiça e maior distribuição da riqueza, respeito pelos direitos etc. Angola é um laboratório sociológico. Por isso é interessante ver como os jovens estão a reagir.
A denunciar as injustiças?
O Luaty devia representar supostamente o que muitos jovens almejam: uma carreira, influência, dinheiro, talento e poder. Mas parece que vira do avesso tudo isso. Usa estas qualidades para propor mudanças substanciais. O Luaty que vem das áreas das matemáticas tem um raciocínio analítico. Ele foi ao fundo da questão, por isso ele disse que não era um líder, nem se considera um revolucionário, diz que quer restaurar o senso comum. Porque é que num país com recursos há crianças que morrem de subnutrição num hospital equipado com a mais alta tecnologia? Um amigo pediatra disse que não conseguiram dar oxigénio a uma criança porque o equipamento estava com as instruções em russo e ninguém entendia aquilo, e a criança morreu.
Crise económica
Trabalhou sobre a reconstituição económica de Angola depois da guerra. O actual ciclo da crise do petróleo pode ter consequências políticas?
 Pode ter, claro, não sei até que ponto. A minha pesquisa foi sobre recomposição social e claro retrata também aspectos económicos, não tanto em termos de macroeconomia , mas em saber como as pessoas reconstruíram as suas rotinas e em que tipo de actividades económicas se empenharam para se sustentar. No final, há sempre uma drenagem do dinheiro que vem da exploração do petróleo que se reconverte na circulação das mercadorias e das pessoas. A falta desse fluxo pode afectar, por exemplo, o sector da importação de que dependem muitos pequenos comerciantes, mesmo no sector informal. Pode ser que isso obrigue o governo a negociar com alguns actores com potencialidades de gerar conflitos e, nesse sentido, pode trazer mudanças na performance do MPLA. Pode ser o caso também se gerar um maior debate público, não só a nível político, mas também a nível técnico sobre como o dinheiro foi gasto. De 2002 até 2014, a produção de petróleo foi de USD 468 mil milhões e rendeu para o Estado cerca de USD 300 mil milhões. Disto para investimento público foram apenas USD 90 mil milhões e em 2015 as arcas estão já vazias.
Pode ter, claro, não sei até que ponto. A minha pesquisa foi sobre recomposição social e claro retrata também aspectos económicos, não tanto em termos de macroeconomia , mas em saber como as pessoas reconstruíram as suas rotinas e em que tipo de actividades económicas se empenharam para se sustentar. No final, há sempre uma drenagem do dinheiro que vem da exploração do petróleo que se reconverte na circulação das mercadorias e das pessoas. A falta desse fluxo pode afectar, por exemplo, o sector da importação de que dependem muitos pequenos comerciantes, mesmo no sector informal. Pode ser que isso obrigue o governo a negociar com alguns actores com potencialidades de gerar conflitos e, nesse sentido, pode trazer mudanças na performance do MPLA. Pode ser o caso também se gerar um maior debate público, não só a nível político, mas também a nível técnico sobre como o dinheiro foi gasto. De 2002 até 2014, a produção de petróleo foi de USD 468 mil milhões e rendeu para o Estado cerca de USD 300 mil milhões. Disto para investimento público foram apenas USD 90 mil milhões e em 2015 as arcas estão já vazias.
O que é que aconteceu?
Se houvesse uma cultura de debate isso podia ser motivo de discussão, e até podia haver desculpa razoável. Mas levantar-se este problema fere a moral da pátria. Por outro lado, a maior parte dos angolanos não vive só do salário, há sempre esquemas. Não sei se, fora de certos círculos, essa discussão terá relevância.
Não há uma relação directa de contestação se não houver salários?
Acho que o governo não vai cortar nos salários. O que vai acontecer será que o aumento da inflação, que está nos 12 por cento, provavelmente estará em 15 por cento no inicio do próximo ano, com o mesmo salário vai se comprar cada vez menos, tantos os produtos como os serviços e o governo vai justificar que não actualizam os salários por causa da crise económica. É uma maneira de controlar a contestação e controlar os salários. E provavelmente as pessoas não vão contestar.
Por outro lado, emergiu uma classe média, pequena mas consistente, que se habitou a viver do Estado e é nesse meio onde se nota mais nervosismo e contestação. O Estado tem actualmente cerca de 420 mil funcionários segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas e pode ser que aqui haja alguma perturbação. Existe também uma rede de entreajuda que consegue suprir as carências da presença do Estado. Estive no Uíge e as pessoas que fazem negócios com o Congo, não dependem de Luanda, vêm a cidade mais como um mercado. As pessoas vão comprar produtos no outro lado da fronteira e vêm vendê-los em Angola. Algumas pessoas que vivem na zona da fronteira enviam os filhos a estudar no Congo. Vão de manhã e voltam ao final da tarde, e usam também os serviços de saúde do Congo que são mais eficientes, com mais qualidade e mais baratos que os de Angola. O mesmo se passa com os do Moxico que vão à Zâmbia e os do sul que vão à Namíbia. Só o eixo Luanda-Malanje-Bié-Huambo-Lubango e Luanda-Kwanza-Sul-Benguela-Namibe podem sentir mais o impacto da crise do petróleo.
A prova de que não são as fronteiras políticas que fazem a vida das pessoas.
Exactamente. O Achille Mbembe fala dos fluxos transfronteiriços que vêm de há séculos, e critica tanto aqueles que defendem a tese da necessidade de refazer as fronteiras, como a dos que dizem que as fronteiras de facto já foram refeitas naturalmente pela circulação das pessoas. Ele diz que os fluxos não refazem as fronteiras mas as “despolitizam”. Ou seja, há um fluxo de pessoas entre a África Ocidental e África do Sul que passa por Angola. É falsa a ideia de que todos querem ir para Europa. Há uma mobilidade de milhares de pessoas nestes espaços, e de mercadorias, ideias, imagens e que está a mudar o próprio tecido cultural de Angola.
A vida profissional
Actualmente em que trabalha na Alemanha?
Estive a trabalhar num projecto de investigação financiado pela DFG (Deutsch Forschungsgemeinschaft) é uma instituição alemã que promove e financia pesquisas científicas e o projecto estava sediado primeiro no Ludwig Maximilians, Universidade de Munique; mais tarde a directora do projecto conseguiu uma cátedra noutra universidade, a Universidade der Bundeswehr, também em Munique, e projecto ficou aí sediado. O projecto era sobre o retorno de angolanos que estiveram refugiados durante a guerra, especialmente nos países vizinhos. Os estudos do doutoramento também foram financiados por uma fundação alemã, dentro de um projecto de pesquisas sobre o rescaldo da guerra em Angola e Namíbia. Eu trabalhei a parte da recomposição pós-conflito em Angola. O projecto era uma cooperação entre um instituto alemão (ABI), ligado à Universidade de Freiburg, o ISCTE [Portugal], a Universidade Católica de Angola e a Universidade da Namíbia, em Windhoek. Neste momento, estamos a concluir o projecto da pesquisa e preparar algumas publicações.
Gosta do modo de estar e trabalhar na Alemanha?
É um bom sítio para se trabalhar. Onde vivo tem uma universidade onde está sediado um centro muito importante de pesquisa e estudos de pós-graduação sobre África. Além do contacto com investigadores e académicos, há muitos estudantes de vários países africanos a fazerem o mestrado e doutoramento e o convívio com eles é muito enriquecedor. Em Ciências Sociais, mas também Literatura, Linguística, Média, Estudos Culturais, Antropologia, História, Geografia e Economia, o que cria um ambiente interessante de discussão, adquirimos perspectivas diferentes sobre o que se passa no continente, não só a nível político, mas também em produções culturais como cinema, literatura, teatro, artes plásticas. Todos os anos há um festival de cinema africano muito interessante. Tem também uma casa de cultura de arte contemporânea africana, Iwalewahaus, onde vários artistas africanos fazem exposições e residências artísticas. No próximo mês, por exemplo, o Nástio Mosquito vem cá fazer uma apresentação.
Bayreuth não é demasiado pacato?
Depois de ter vivido em Luanda, Beira, Lisboa, Coimbra, Braga, Londres, Madrid, Bayreuth é comparativamente pacato. Mas viajo muito, porque faço também trabalhos de consultoria e sabe bem voltar a um sítio pacato e tem mais condições para as crianças.
Entre tantas experiências fora, voltou a viver em Angola?
Em 2000 voltei para trabalhar na Universidade Católica como assistente. Dava aulas em três faculdades, de manhã, à tarde e à noite, além de acompanhar actividades culturais dos estudantes (cine-fórum, teatro, música, desporto) e ajudar a montar a biblioteca. A guerra terminaria dois anos depois mas já a sentíamos no fim. A estrutura militar da UNITA – logística e telecomunicações – era desmantelada e havia a expectativa de que a UNITA se ia render ou ser eliminada a sua direcção. Na Universidade, o ambiente era bom, apesar de elitista. O Bornito de Sousa, o Carlos Feijó, o França Van-Dúnem, Justino Pinto de Andrade e o Adérito Correia eram lá professores. Andava a preparar-se uma nova Constituição e a discussão era interessante. Sentíamos um novo começo, que o país ia entrar num ponto de não retorno. O fim da guerra seria a cereja em cima do bolo. Quando a guerra terminou, eu já estava em Madrid a fazer um mestrado em Ciências Políticas sobre o impacto da globalização em África, o caso da transição política em Angola.
Como desenvolveu esse trabalho?
Espanha era um bom lugar pois, além de terem tido uma prolongada ditadura precedida de uma guerra civil feroz, era um mosaico de culturas e tradições. Estudei a história da transição espanhola que me pareceu mais interessante que a portuguesa, conversei com pessoas que trabalharam na confecção da nova Constituição. Um dos professores aconselhou-me a identificar elementos internos e externos que em Angola podiam tornar consistente um processo de transição para a democracia. A globalização podia dar um certo contexto externo, mas internamente havia resistências devido à cultura política autoritária – tanto do MPLA como da UNITA – que podia ser escolhida para uma transição sem grandes perturbações. A tese discutia estes elementos. E para perceber os contornos da globalização fiz um master em Relações Internacionais e outro sobre Novas Tecnologias e Sociedade. Na altura, não havia redes sociais mas o livro de Manuel Castels sobre a sociedade de informação já tinha as bases do que aí vinha. Por isso, o estudo das novas tecnologias e o seu impacto na sociedade era importante. Na altura, parecia ficção. Apresentei uma comunicação sobre novas tecnologias e a divulgação da internet em Angola. Alguém me perguntou na sala se aquilo era ficção. Não tinha muitos dados, mas tinha a intuição que vamos chegar lá. Tinha muito tempo para estudar porque em Madrid vivia numa residência com pessoas que se preparavam para ser funcionários do Estado espanhol: magistrados, inspectores das finanças, diplomatas e tinham que fazer um exame público (oposición, uma tradição espanhola) e estudavam 14 horas por dia. Nesse ambiente, tinha tempo para ler e estudar.
Como era o seu contexto familiar em Angola?
O ambiente familiar era heterogéneo. Somo seis irmãos, nascidos entre os anos 1950 e 1970, portanto, de distintas gerações. Além disso, a família do meu pai é originária de Malanje, ligada à tradição metodista. O meu avô, segundo consta, teve problemas com a administração de Norton de Matos e teria sido “exilado” para a zona do actual Kwanza-Sul. O meu pai nasceu na Quibala. A minha mãe cresceu no Lobito, mas nasceu no Huambo e veio de uma família católica. O meu bisavô materno participou de uma revolta contra comerciantes portugueses no Planalto Central no início do século XX. Temos uma fotografia onde ele aparece no encontro de reconciliação mediado por missionários espiritanos; mais tarde converteu-se ao catolicismo e teve que abandonar as suas várias esposas. Nem sei se isso lhe custou muito. Os meus pais conheceram-se no Lobito para onde o meu pai se mudou e é lá onde nós nascemos. Cresci portanto neste misto de tradição católica, protestante, quimbundo, umbundo e, claro, também portuguesa. Em casa falávamos português.
Sabe falar alguma língua nacional?
Em adolescente aprendi a falar umbundo, sobretudo quando comecei a ter amigos do interior, porque nas zonas urbanas não era frequente no dia-a-dia conversar em umbundo. Foi fácil aprender porque minha mãe também falava, o meu pai queria que aprendêssemos kimbundo também, entendo, mas teria dificuldade em manter uma conversa fluida em kimbundo. Os mais velhos ainda aprenderem, mas havia sempre a pressão sobre os assimilados de não se falar a línguas africanas. O meu pai, nascido nos anos 1930, como as pessoas dessa geração, tinha também a obsessão de que os filhos tinham que aprender bem o português. Os mais velhos sentiram mais. Eu e as minhas irmãs mais novas já somos de outra geração e isso já não era uma obsessão. O bom disso foi crescer num ambiente com muitos livros, a pior era parte fazer ditado ou exercícios de matemática enquanto os amigos andavam a brincar.
Publicado originalmente no Rede Angola, em 02/11/2015