Um apocalipse comosgónico, sobre "Deus Dará"
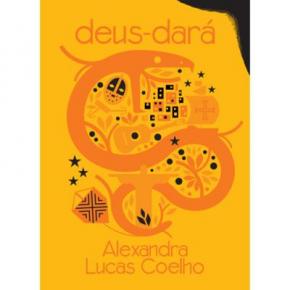 O primeiro exercício de uma leitura crítica passará por definir o modo como nos aproximamos do livro e perante este Deus Dará, talvez convocar livros anteriores ajude a clarificar esse modo. E a Noite Roda, primeiro romance de Alexandra Lucas Coelho (publicado em 2012) colocava ao leitor informado sobre o trabalho prévio da autora uma série de incómodos hermenêuticos, facilmente afastados se fosse cumprida a máxima de não misturar autor e obra, mas justificadamente presentes pelo desenrolar narrativo da própria obra. Era um daqueles casos em que cumprir uma regra básica da boa leitura nos fugia das mãos à medida que confrontávamos personagens e situações com reportagens assinadas pela autora (também jornalista, caso ainda restem dúvidas). Por outro lado, era um daqueles casos em que mandar às urtigas certas regras tornava mais interessante uma leitura de onde incontáveis questões não paravam de surgir, da suposta fronteira entre realidade e ficção às regras de género que separam, ou unem, ou ambas as coisas, literatura e jornalismo. Entre dúvidas e um intenso desassossego bom provocado pela leitura, destacava-se a vontade de experimentar, de forçar fronteiras e regras genéricas para perceber o que há do outro lado, de perceber que a maleabilidade da linguagem também é a maleabilidade do pensamento, do comportamento, do modo como estamos e somos uns com os outros. Seguiu-se O Meu Amante de Domingo (2014), entre outras coisas uma celebração do prazer pouco habitual na prosa portuguesa, e agora surge este Deus Dará.
O primeiro exercício de uma leitura crítica passará por definir o modo como nos aproximamos do livro e perante este Deus Dará, talvez convocar livros anteriores ajude a clarificar esse modo. E a Noite Roda, primeiro romance de Alexandra Lucas Coelho (publicado em 2012) colocava ao leitor informado sobre o trabalho prévio da autora uma série de incómodos hermenêuticos, facilmente afastados se fosse cumprida a máxima de não misturar autor e obra, mas justificadamente presentes pelo desenrolar narrativo da própria obra. Era um daqueles casos em que cumprir uma regra básica da boa leitura nos fugia das mãos à medida que confrontávamos personagens e situações com reportagens assinadas pela autora (também jornalista, caso ainda restem dúvidas). Por outro lado, era um daqueles casos em que mandar às urtigas certas regras tornava mais interessante uma leitura de onde incontáveis questões não paravam de surgir, da suposta fronteira entre realidade e ficção às regras de género que separam, ou unem, ou ambas as coisas, literatura e jornalismo. Entre dúvidas e um intenso desassossego bom provocado pela leitura, destacava-se a vontade de experimentar, de forçar fronteiras e regras genéricas para perceber o que há do outro lado, de perceber que a maleabilidade da linguagem também é a maleabilidade do pensamento, do comportamento, do modo como estamos e somos uns com os outros. Seguiu-se O Meu Amante de Domingo (2014), entre outras coisas uma celebração do prazer pouco habitual na prosa portuguesa, e agora surge este Deus Dará.
 Santa Teresa
Santa Teresa  Rocinha vista do asfalto
Rocinha vista do asfalto
Em poucas palavras, o novo romance de Alexandra Lucas Coelho é uma espécie de génesis luso-brasileiro, com pouca vontade de defender o luso e com o olhar apontado ao apocalipse. Dito de outro modo, é uma monumental cosmogonia que não se fica pela criação do mundo, mostrando antes a sua contínua reinvenção a partir de um Brasil que nasce da mistura, tanto como da opressão. Se a Bíblia conta um deus criando o mundo em sete dias, já com descanso incluído, Deus Dará conta um mundo pela voz de sete personagens e um narrador tão descansado como a divindade genesíaca ao domingo, por já não estar entre os vivos.
Difícil, e sobretudo inútil, é resumir um enredo quando o que se oferece à leitura é um novelo de enredos, ecoando passados e querendo engolir futuros, mas os leitores mais arrumados encontrarão uma definição clara deste programa narrativo lá pela página 325: “Mas se a história for o arco, o narrador será o arqueiro que liga os mortos aos vivos. Os índios sabem que os mortos dão flor e fruto, e a sombra deles vai longe no horizonte.” Da chegada dos navegadores portugueses e da insistência historiográfica em falar de descoberta (esquecendo a invasão, a mortandade, a exploração, a colonização) às manifestações contra a Copa do Mundo, de Machado de Assis a Caetano Veloso, da prosa mais arrumada ao estilhaçar de géneros literários, com imagens, recortes e tudo, dos emigrantes que ajudaram a definir o Rio de Janeiro às UPP que instauram o estado policial nas favelas, quase nada do que é, foi ou será o Brasil que conhecemos ou queríamos conhecer é estranho a este livro e, mais importante, nada surge aqui por acaso ou vontade de fazer bonito numa qualquer caracterização arrumada do que é ou não esse Brasil.
Não tínhamos, ainda, um romance antropofagista que honrasse Oswald de Andrade comendo tudo e todos, engolindo tempos e lugares, refazendo a linguagem com as línguas de cada um, recompondo o mundo a partir de uma das margens do Atlântico como quem constrói uma história total, urgente, capaz fazer do apocalipse um novo génesis. Agora temos.
 panorâmica Rio de Janeiro, Corcovado ao fundo
panorâmica Rio de Janeiro, Corcovado ao fundo
fotografias de Marta Lança
Artigo originalmente publicado na revista Blimunda nº 55.